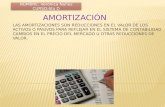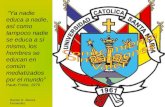ReCISAM · 2020. 4. 24. · Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, N2 recisam.cl ARTÍCULO DE...
Transcript of ReCISAM · 2020. 4. 24. · Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, N2 recisam.cl ARTÍCULO DE...

ReC
ISAM
VOL3, N
º 2, MAYO
DE 2017 ISSN
0719-6008EDITORIAL
ART. DE INVESTIGACIÓNART. DE REVISIÓN
Y DOCUMENTO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
REVISTA DE C IENCIAS DE LA SALUD Y MEDICINAReCISAM

ÍNDICE
REVISTA DE CIENCIAS DE LA SALUD Y MEDICINA (ReCISAM)La Revista de Ciencias de la Salud y Medicina es un medio de difusión científica que nace el año 2014 al interior de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tarapacá.
MISIÓNPromover la creación, divulgación e intercambio de información científica y técnica, entre profesionales, científicos y estudiantes que se desempeñan en Ciencias afines..
VISIÓNSer una revista que contribuya a la generación, promoción y transferencia científico-tecnológica de conocimientos a la comunidad científica regional, nacional e internacional.
PERIODICIDADReCISAM entrega de manera online 3 volumenes anuales, en los meses de ENERO - MAYO - SEPTIEMBRE.
REVISTA DE CIENCIAS DE LA SALUD Y MEDICINA2017
CASA INSTITUCIONAL FACULTAD A FIN RECISAM
REVISTA DE C IENCIAS DE LA SALUD Y MEDICINReCISAM
A
EDITORPhD. Carlos Ubeda de la Cerda.
CO - EDITORPhD. Bélgica Vásquez, Universidad de la Frontera. COMITÉ EDITORIALPhD. Ana Maria Linares, University of Kentucky.PhD. Andrés Chávez, Universidad de Valparaíso.PhD. Carlos Manterola Delgado, Universidad de la Frontera.PhD. Dante Cáceres Lillo, Universidad de Chile.PhD. Eliseo Vaño Carruana, Universidad Complutense de Madrid.PhD. Francisco León Correa, Universidad Central de Chile.PhD. Héctor Rodríguez Bustos, Universidad de Chile.PhD. José Ramón Alonzo Peña, Universidad de Salamanca.PhD. Jorge Ferreira Parker, Universidad de Chile.PhD. Juan Carlos Stockert Cossu, Universidad Autónoma de Madrid.PhD. Lucía Cifuentes Ovalle, Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM).PhD. Luis Sarabia Villar, Universidad de Chile.PhD. Mario Herrera-Marschitz, Universidad de Chile.MD. Patricia Miranda González, Hospital Luis Calvo Mackenna.
PRODUCCIÓN EDITORIALBA. Jorge Sanhueza Orellana, Universidad de Tarapacá.
COMITÉ ASESORPhD. Ana María Naranjo Garate, Universidad de Tarapacá.MSc. Carlos Lagos Olivos, Universidad de Tarapacá.MSc. Daniel Pérez Tapia, Universidad de Tarapacá.MSc. Diego Nocetti García, Universidad de Tarapacá.MSc. Jaime Silva Rojas, Universidad de Tarapacá.MSc. Josefina Zúñiga Aguirre, Universidad de Tarapacá.MSc. Katherine Salgado Prieto, Universidad de Tarapacá.MSc. Maria Ines Gonzalez, Universidad de Tarapacá.Bsc. Marta Fernández Galleguillos, Universidad de Tarapacá.MSc. Natalia Herrera Medina, Universidad de Tarapacá.MSc. Nathalie Alvarado Pinto, Universidad de Tarapacá.MD. Patricio Ledezma Trullen, Hospital Juan Noé.PhD. Sergio Galáz Leiva, Universidad de Tarapacá.MSc. Teresa Reyes Rubilar, Universidad de Tarapacá.PhD. Omar Espinoza Navarro, Universidad de Tarapacá.
RECISAM

Rev. cienc. salud med. Volumen 3, Número 2, Mayo de 2017.
ÍNDICE
PÁGINA 004 - 005
PÁGINA 006 - 012
PÁGINA 013 - 019
PÁGINA 020 - 034
PÁGINA 035 - 041
PÁGINA 042 - 053
PÁGINA 054 - 065
PÁGINA 066 - 074
PÁGINA 075 - 083
PÁGINA 084 - 100
PÁGINA 101 - 111
PÁGINA 112 - 120
PÁGINA 121 - 127
PÁGINA 128 - 140
PÁGINA 141 - 143
PÁGINA 144 - 145
EDITORAL:
¿POR QUÉ INVESTIGAR? AUTOR: SERGIO GALAZ
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN:
ESTUDIO SOBRE LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRA EN SILLA DE RUEDAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ARICA AUTOR: HIPÓLITO NÚÑEZ
HIP JOINT POSITION DURING KNEE EXTENSION AND QUADRICEPS FORCE PRODUCTION AND EMG ACTIVATION AUTOR: SARA NETO
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E DA INGESTÃO ALIMENTAR NOS IDOSOS DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE COIMBRA AUTOR: HELENA LOUREIRO
DETERMINACIÓN DE NIVELES DIAGNÓSTICOS DE REFERENCIA PARA EXÁMENES DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA CON OPTIMIZACION DE DOSIS AUTOR: HUGO ARREY
ESTUDO DO DESLOCAMENTO TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO EM TRABALHADORES TÊXTEIS AUTOR: ANA RIBEIRO
ESTUDO DO DESLOCAMENTO TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO EM CABELEIREIROS AUTOR: CÁTIA DA SILVA
ESTUDIO DEL PARTO PREMATURO ASOCIADO A INFECCIONES UROGENITALES EN MADRES CONTROLADAS EN LOS CENTROS DE SALUD FAMILIAR DE ARICA AUTOR: KATHERINE SALGADO
EXPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA PORTUGUESA EM PROCEDIMENTOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS AUTOR: CÁTIA PINTO
ARTÍCULOS DE REVISIÓN:
WHICH IS THE MOST EFFECTIVE MODE, INTENSITY, FREQUENCY AND TIME OF EXERCISE IN IMPROVING GLUCOSE AND INSULIN LEVELS ON NON-DIABETIC ADULTS AT RISK OF TYPE 2 DIABETES? AUTOR: CLAUDIA SANTOS
PERTURBAÇÕES DO PROCESSAMENTO AUDITIVO EM CRIANÇAS COM DISLEXIA? AUTOR: ANA PEREIRA
PHENYLKETONURIA - THE NUTRITIONAL INTERVENTION IN PORTUGAL AUTOR: ANA BALTAZAR
ESTUDO DAS ALTERAÇÕES DO HIPOCAMPO NA DOENÇA DE ALZHEIMER POR ESPECTROSCOPIA DE PRÓTONS AUTOR: ANDERSON DE QUEIROZ
QUAL A EFETIVIDADE DO EXERCÍCIO NA CESSAÇÃO TABÁGICA DE FORMA A PREVENIR AS COMPLICAÇÕES CLÍNICAS RESULTANTES DO TABAGISMO? AUTOR: NUNO TAVARES
MORAL, ÉTICA, DEONTOLOGÍA Y BIOÉTICA EN LA ACCIÓN MÉDICA AUTOR: PATRICIO LEDEZMA
INSTRUCCIONES A LOS AUTORES RECISAM
RECISAM

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
GALAZ S.EDITORIAL
4
¿POR QUÉ INVESTIGAR?SERGIO GALAZ 1
La mayor diferencia entre un humano y los demás seres en la tierra, es su capacidad de pensar, imaginar y crear a partir de sus pensamientos. Pensar consiste en usar su cerebro para algo más que solo efectuar procesos mentales elementales. Esa capacidad, es la que da al humano su supremacía por sobre las demás bestias. Es esa capacidad de considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo, formarse una opinión sobre ello y/o tomar una decisión, la que hace la diferencia.
Entonces es esperable, que todo humano piense. Cuando un hombre piensa, engendra pensamientos que se integran “al pensar”, a través del conocimiento, para aprender sobre aquello que lo llevó a pensar. Es por tanto “el pensar”, equivalente a la razón.
Sin embargo, la razón no siempre se impone ante la costumbre o la desidia. Esto requiere tiempo, a veces mucho tiempo. Sólo el tiempo da la razón a la razón. Galileo Galilei (1564 - 1642), murió encarcelado por la inquisición, por sus ideas copernicanas sobre el heliocentrismo. Sus ideas fueron finalmente las correctas.
Pero, para descubrir y entender aquello que nos rodea, no basta con solo generar pensamientos, lo cual no es malo, sino insuficiente para buscar “la vedad”. Desde que Galileo realizó su famoso experimento, lanzando dos objetos de distinta masa, desde lo alto de la torre de Pisa, para comprobar lo dicho casi dos mil años antes por Aristóteles, respecto de que dos masas distintas, caen con diferente velocidad – lo cual resultó ser un error – es que ya no basta con solo pensar. Hay que comprobar lo pensado, es decir, experimentar. Con Galileo nace la metodología de la ciencia moderna.
Finalmente, lo aprendido, nos permite tomar decisiones, cambiar el rumbo y avanzar. Y cuando lo aprendido es compartido con otros, entonces todos pueden tomar sus propias decisiones y avanzar; es decir, nos da libertad. Por el contrario, no aprender, es permanecer en la oscuridad de la ignorancia, y la oscuridad provoca temor. Lo que no se comprende bien, se teme. Parafraseando a Marie Curie: “Nada en la vida es de temer, solo debe ser entendido. Ahora es momento de comprender mas, y de esa forma temer menos”.
Por ejemplo, Eratóstenes (276 - 194 a.C.), filósofo y matemático de la antigua Grecia, amigo de Arquímides, usó su intelecto, para calcular con herramientas simples, el tamaño de la tierra. Todo un logro para su época, incluso para un genio como él. Pero, ¿acaso sólo los genios pueden pensar? Definitivamente no. Pues todos tenemos la misma capacidad de pensamiento, aunque solo algunos son consientes de ello. Esa misma curiosidad por el mundo, por encontrar la “verdad” de las cosas, es la que llevó a Leonardo a descubrir e inventar cientos de cosas nuevas.
Es probable que ellos -los genios-, tengan alguna característica en sus cerebros, que les permite “ver” lo que los demás no vemos, como Einstein, quien pudo “ver” como el tiempo se ralentizaba al viajar montado sobre un rayo de luz. Pero aún así, sin ser genios, tenemos esa capacidad de pensar y buscar la verdad. Y esto implica no aceptar de buenas a primeras, lo que “otros” dicen que es “verdad”. Cuestionarlo todo es el primer paso.
¿Por qué investigar?; porque es inherente al ser humano. Porque preguntarse sobre aquello que no entendemos, es lo natural para nosotros. Porque tenemos esa capacidad cerebral única para entender lo que ninguna otra especie
Why investigate?
1 Academico,Universidad de Tarapacá, Arica - Chile.

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 4 - 5.EDITORIAL
5
puede entender. Porque la verdad es para quienes la buscan… “…Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.” (Mateo 7-7).
Cuando Newton “crea” el cálculo, y descubre la naturaleza de la luz, desde que establece las bases del método científico, “investigar” se convierte en un proceso ordenado y protocolizado, fácil de realizar por cualquiera. Investigar entonces, es un proceso al alcance de todos. Solo hace falta tener una pregunta para buscar la respuesta. Y preguntas sobran.
Si bien no todos trabajan en el ámbito de la academia, los que tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos una doble responsabilidad. En la academia es donde se genera el conocimiento, y la forma de generar conocimiento, es a través de la investigación científica. Por ello es que debemos pensar y crear y por supuesto, investigar.
Tal como Platón lo instauró, al fundar la “Academia” (388 a.C.), su escuela filosófica, en los jardines de Academos, él y sus discípulos creaban conocimiento e investigaban sobre las cosas del saber (principalmente Matemática, pero también otras mas). Entonces la Academia de Platón, es la inspiración de la moderna Universidad. Por ello es
que quienes trabajamos en una Universidad, somos “académicos”. Es menester entonces, hacer academia, es decir, pensar e investigar.
En resumen, para llevar a cabo una investigación, más que aplicar métodos estandarizados para la consecución de unos objetivos concretos, lo fundamental es, creo yo, sentir pasión. Pasión por lo que se hace, por la ciencia, por la búsqueda de la verdad…, y la belleza de pensar, se aprecia mientras se piensa, se busca, se investiga. ¿Porqué investigar?... porque somos humanos y Dios nos lo demanda, para el bien de toda la humanidad y el regocijo del alma.
Les invito entonces a investigar, a buscar esa verdad detrás de lo que no comprendemos bien.
“Sólo hay un bien, el conocimiento. Sólo hay un mal, la ignorancia”. (Sócrates).
Correo Autor: [email protected]
Fecha de Aceptación: 20 de Marzo del 2017 Fecha de Publicación: 31 de Mayo del 2017
ACEPTACIÓN Y CORRESPONDENCIA

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
NUÑEZ H. ET AL.ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
6
ESTUDIO SOBRE LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRA EN SILLA DE RUEDAS DEL HOSPITAL
REGIONAL DE ARICAHIPÓLITO NÚÑEZ1, MICHELLE CÁRCAMO1, CONSTANZA LEIVA1, GLORIA MIQUELES1.
INTRODUCCIÓN
En nuestra sociedad se trasmite el concepto de discapacidad, el cual se asocia a una desventaja, independientemente de las habilidades individuales o los recursos económicos de las personas. En el año 2000, la discapacidad se definió como “una condición crónica de la salud que hace difícil realizar una o más actividades generalmente consideradas apropiadas para los individuos de una edad apropiada: el juego o la escuela para los niños, el trabajo para los adultos y las actividades básicas de la vida cotidiana para los ancianos” (1).
Actualmente las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso, el cual se caracteriza por mantener una estructura donde la sociedad ha mantenido habitualmente condiciones de exclusión. Este hecho genera la restricción de sus derechos básicos y libertades, condicionando u obstaculizando su desarrollo personal, así como el disfrute de los recursos y servicios disponibles para toda la población y la posibilidad de contribuir con sus capacidades al progreso de la sociedad (2).
Study on the accessibility of people who is in a wheelchair of the Regional Hospital of Arica
1 Escuela de Terapia Ocupacional, Universidad Santo Tomás, Arica, Chile..
RESUMEN La accesibilidad de toda persona que se encuentra en silla de ruedas, siempre ha presentado dificultades para acceder a las diferentes edificaciones que presenta la ciudad, pero el poder acceder al hospital conlleva muchas aristas, ya que las edificaciones recién en los últimos 15 años han sido modificadas. En nuestra visión de personas ligadas al área de salud, sabemos que las barreras del entorno, en especial las arquitectónicas, causan gran impacto en todas las personas, principalmente en aquellas en situación de discapacidad. Se escogieron cuatro barreras arquitectónicas utilizadas y que presentan mayor flujo por personas que acuden habitualmente a las instalaciones del hospital, estas son: la rampa de la entrada principal, el baño del primer piso, ubicado en la entrada principal y el baño para persona en situación de discapacidad, los ascensores y los mesones de atención al público. El estudio se realizó con una encuesta cerrada, donde se valoró el nivel de dificultad de las cuatro barreras arquitectónicas mencionadas, además de preguntas como: sexo, edad, frecuencia de asistencia al Hospital y si asistía o no con cuidador. El total de usuarios encuestados fue de 37, los resultados indican que la rampa ubicada en la entrada principal del Hospital presenta dificultades tanto para mujeres 100% (13) y hombres 75% (18), le es muy difícil y/o necesitan de asistencia para acceder a la rampa de la entrada principal del Hospital, los otros lugares con menor porcentaje, continúan siendo un impedimento para el desempeño óptimo de sus Áreas de la Ocupación.
Palabras Claves: Accesibilidad, personas que hacen uso de silla de ruedas, barrera arquitectónica, diseño universal, rampa.
ABSTRACTThe accessibility for every person in wheelchairs, has been a challenge in almost every building in the city of Arica. But accessing the hospital involves many aspects, because the buildings has been modified in the last fifteen years. From our vision as people linked to the health field, we know that the surroundings barriers, specially the architectural ones, cause a great impact in people, mainly to those in disability condition. It was chosen four architectural barriers that present a higher flow of people that regularly attends the hospital facilities, these are: the main entrance ramp, the public bathroom in the first floor, located near the main entrance, and the people in disability condition bathroom; the elevators, and the reception desks. The study was made using a closed survey, where it was valued the difficulty level of the above mentioned barriers, besides questions as: gender, age, attendance frequency to the hospital and if the person is accompanied or not with a keeper. The surveyed users were 37, and the results indicate that the Hospital main entrance ramp presents difficulties to 100% of women (13) and 75% men (18); it is hard for them to access to it, or need assistance to access to it. The other barriers, despite the lower proportion, are still an obstacle for the optimal performance of their Occupation Areas.
Key Words: Accessibility, people using wheelchairs, architectural barriers, universal design, ramp.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 6 - 12.
7
La causa de discapacidad esta en relación al entorno, este puede ser sociocultural, físico o asociado a una función físico del individuo. Un ejemplo de esto se logra observar cuando una persona no puede entrar a un edificio debido a la existencia de varios escalones, puertas estrechas y pesadas, este tipo de diseño genera en los edificios que el acceso sea un problema mayor en personas que se desplazan en silla de ruedas (3).
Entre los diversos edificios e instituciones que existen en una ciudad hay momentos que se reciben aglomeraciones por el público, en este caso los hospitales dan la bienvenida al mayor número de personas en situación de discapacidad, las cuales, debido a su condición se ha reducido su movilidad y participación social (4).
El hombre se ha encargado de construir su entorno según las dimensiones antropomórficas, y esto ha dejado de lado a las personas que hacen uso de silla de ruedas (3).
Según el Centro de Trastornos del Movimiento (CETRAM) y Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) indican que cerca del 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad de origen físico, de los cuales 10% utiliza la silla de ruedas para trasladarse, es decir, aproximadamente 65 millones de personas en todo el mundo (5).
Las personas que utilizan la silla de ruedas, requieren apoyo para aceptar e integrar la movilidad sobre ruedas en su vida diaria, en circunstancias que la deambulación ya no es segura ni eficiente. Su medio de transporte les permite a las personas lograr competencias ocupacionales a pesar de la pérdida de deambulación (1).
El propósito principal de los Hospitales es acoger a estas personas y brindarles ayuda en su recuperación. Con el fin de cumplir esta función de manera eficaz el ambiente debe ser adaptado, por lo tanto, la recepción, el cuidado, la estadía del Hospital, debe ser un lugar que ofrezca las
mejores condiciones posibles tanto en términos de calidad e higiene, seguridad y facilidad de uso en instalaciones y objetos que se encuentren dentro y fuera del lugar. Por lo tanto, juegan un papel crucial, el diseño, equipamiento, construcción del Hospital y su equipo (4).
Se trata de aplicar el principio de accesibilidad a las necesidades de todos, sin excepción y sin discriminación. La accesibilidad es un derecho universal, incluso una obligación social (4). Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue identificar la dificultad de las personas que hacen uso de la silla de ruedas para acceder al Hospital Regional Juan Noé Crevani (HJNC), en los meses de julio y agosto del 2016.
MATERIAL Y MÉTODO
Tipo de investigación: Estudio descriptivo que permitió recolectar datos a través de una encuesta, acerca de las barreras del entorno que existe en el HJNC., lo que nos brindó la posibilidad de realizar registros de cuáles son las barreras arquitectónicas y urbanísticas más importantes que influyen en el acceso de las personas que hacen uso de la silla de ruedas en el HJNC, basándonos en lo indicado por la Ley 20.422 y al Diseño Universal (6).
Población y Muestra: El estudio, se basó en las personas que hacen uso de la silla de ruedas y que frecuentemente acceden a las instalaciones del HJNC que se encuentran en el primer piso, específicamente la rampa que se encuentra en la entrada principal, el baño principal y el baño para persona con discapacidad, los mesones de atención al público y todos los ascensores del HJNC.
La muestra que obtuvimos durante la aplicación de nuestra encuesta fue de 38 personas que hacen uso de la silla de ruedas y que son usuarios del HJNC.

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
NUÑEZ H. ET AL.ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
8
Criterios de inclusión:• Personas que hacen uso de la silla de ruedas que se
atienden en el HJNC.• Personas que hacen uso de la silla de ruedas de
manera independiente o con cuidador.• Que sean mayores a 18 años.• Que no estén institucionalizadas.
Criterio de exclusión:• Personas que utilizan otro tipo de ayuda técnica
(andador, bastón, entre otras).• Que sean menores a 18 años.• Personas que se encuentran institucionalizadas.
InstrumentoEn nuestro estudio se utilizó una encuesta cerrada donde debieron valorar en escala de 0 al 4 (0=Sin Dificultad; 1=Levemente Difícil; 2=Medianamente Difícil; 3=Difícil y/o Necesita Asistencia Parcial; 4=Muy Difícil y/o Necesita Asistencia) cuál es el nivel de dificultad de cuatro barreras arquitectónicas que presenta el HJNC en el primer piso que son: la rampa que se encuentra en la entrada principal, el baño principal y el baño para persona con discapacidad, los mesones de atención al público y todos los ascensores.
Asimismo, tiene como objetivo recabar información acerca de la accesibilidad del HJNC, que nos indicarán si cumple con la Ley 20.422 de las Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad y el Diseño Universal.
Tipo de Muestreo: La encuesta que se realizó en el HJNC constó de 3 preguntas relacionadas con datos como: sexo, edad y si asistía con cuidador; y 4 preguntas acerca de cuatro barreras arquitectónicas del HJNC que a su vez se respondía según el nivel de dificultad para acceder a cada uno.
La encuesta utilizada es de tipo cerrada, donde debieron valorar en escala de 0 a 4, el nivel de dificultad de cuatro barreras arquitectónicas que presenta el HJNC, estas barreras son: la rampa, el ascensor, el baño y el mesón de atención a público.
Análisis EstadísticosTodos los resultados se tabularon en el programa Microsoft ® Excel, el cual facilitó crear un archivo de datos en una forma estructurada y al mismo tiempo organizó una base de datos que pudo ser analizada con estadísticas porcentuales.
Aspectos éticosA cada usuario entrevistado se le informó de forma comprensible con una descripción y propósito de la investigación además del uso de la información y datos recogidos; asegurando al usuario confidencialidad de la información entregada; para esto se les explicó los derechos del participante y de su participación voluntaria.
RESULTADOS
La Tabla 1 muestra la edad por sexo de las personas encuestadas.
Tabla 1. Edad de las personas encuestadas que hacen uso de la silla de ruedas en el HJNC entre los meses de Julio a Agosto del 2016.
Adulto* Adulto Mayor* Total (37)
Hombre 37% (9) 63% (15) 100% (24)
Mujeres 8% (1) 92% (12) 100% (13)*Adulto: Se entiende como personas mayores a 18 años hasta los 60 años en mujeres y 65 años en varones.*Adulto Mayor: Se entiende como personas mayores a los 60 años en mujeres y 65 años en varones en adelante.(): Cantidad de personas encuestadas.
En la Tabla 2 se muestra frecuencia de asistencial al HJNC de los usuarios en silla de ruedas.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 6 - 12.
9
Tabla 2. Frecuencia de asistencia semanal de los usuarios que hacen uso de la silla de ruedas en el HJNC entre los meses de Julio a
Agosto del 2016.
Sexo / Día de la Semana 1 2 3 4 5 Total
Hombres25%
(6)
29%
(7)
42%
(10)
4%
(1)
0%
(0)
100%
(24)
Mujeres46%
(6)
15%
(2)
31%
(4)
0%
(0)
8%
(1)
100%
(13)
Tabla 3. Usuarios que hacen uso de la silla de ruedas que asisten al HJNC con o sin cuidador, entre los meses de Julio a Agosto del 2016.
Adulto Adulto Mayor Total
Hombres 29% (5) 71% (12) 100% (17)
Mujeres 8% (1) 92% (12) 100% (13)
(): Cantidad de personas encuestadas.
Tabla 4. Niveles de dificultad que presentan los usuarios que hacen uso de la silla de ruedas que asisten al HJNC, referente a la rampa de la entrada principal, entre los meses de Julio a Agosto del 2016.
0 Sin Dificultad 1 Levemente Difícil
2 Medianamente Difícil
3 Difícil y/o Necesita
Asistencia Parcial
4 Muy Difícil y/o Necesita Asistencia Total
Hombres 21% (5) 0% (0) 0% (0) 4% (1) 75% (18) 100% (24)
Mujeres 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (13) 100% (13)(): Cantidad de personas encuestadas.
Tabla 5. Niveles de dificultad que presentan los usuarios que hacen uso de la silla de ruedas que asisten al HJNC, referente al baño del primer piso que está en la entrada principal y el baño para personas en situación de discapacidad, entre los meses de Julio a Agosto del 2016.
0 Sin Dificultad 1 Levemente Difícil
2 Medianamente Difícil
3 Difícil y/o Necesita
Asistencia Parcial
4 Muy Difícil y/o Necesita Asistencia Total
Hombres 42% (10) 4% (1) 0% (0) 4% (1) 50% (2) 100% (24)
Mujeres 15% (2) 0% (0) 0% (0) 23% (3) 62% (8) 100% (13)(): Cantidad de personas encuestadas.
Tabla 6. Niveles de dificultad que presentan los usuarios que hacen uso de la silla de ruedas asisten al HJNC, referente a los ascensores, entre los meses de Julio a Agosto del 2016.
0 Sin Dificultad 1 Levemente Difícil
2 Medianamente Difícil
3 Difícil y/o Necesita
Asistencia Parcial
4 Muy Difícil y/o Necesita Asistencia Total
Hombres 54% (13) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 46% (11) 100% (24)
Mujeres 23% (3) 0% (0) 8% (1) 0% (0) 69% (9) 100% (13)(): Cantidad de personas encuestadas.
La Tabla 4 refiere al uso de la rampa del HNJC por los usuarios en silla de ruedas. En la Tabla 5 representa el uso del baño por los usuarios en sillas de ruedas. La tabla 6 muestra la dificultad de los usuarios en silla de ruedas para acceder a los ascensores del HNJC.
La Tabla 3 indica si los usuarios asisten con o sin cuidador al HNJC.

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
NUÑEZ H. ET AL.ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
10
Tabla 7. Niveles de dificultad que presentan los usuarios que hacen uso de la silla de ruedas asisten al HJNC, referente a los mesones de atención al público, entre los meses de Julio a Agosto del 2016.
0 Sin Dificultad 1 Levemente Difícil
2 Medianamente Difícil
3 Difícil y/o Necesita
Asistencia Parcial
4 Muy Difícil y/o Necesita Asistencia Total
Hombres 29% (7) 0% (0) 0% (0) 21% (5) 50% (12) 100% (24)
Mujeres 15% (2) 0% (0) 15% (2) 0% (0) 70% (9) 100% (13)(): Cantidad de personas encuestadas.
La Tabla 7 refiere a la dificultad para acceder a los mesones del HNJC por los usuarios en silla de ruedas.
DISCUSIÓN
De acuerdo a la Tabla 1, las edades de los usuarios que asisten al HJNC que utilizan la silla de ruedas, en estos destaca la existencia de una variación de 24% de diferencia entre los porcentajes de Adulto que es 37% (9) y Adultos Mayores con 63% (15) en varones que hacen uso de la silla de ruedas y asisten al HJNC, mientras que, hay una inclinación mayor de porcentaje en mujeres siendo esto una diferencia de 84% entre la población Adulto y Adulto Mayor. Se infiere que el mayor porcentaje que hace uso de la silla de ruedas y son usuarios del HJNC, es la población de Adultos Mayores en ambos sexos, en mujeres de un 92% (12) y en varones de un 63% (15). Sin embargo, al hacer la comparación entre ellos, es mayor el uso de silla de ruedas en mujeres Adulto Mayor. Por último, la población de Adultos es mayor en hombres con un 37% (9) que en mujeres con un 8% correspondiendo a una persona.
La Tabla 2 mostró que la frecuencia de asistencia en días de la semana de los usuarios al HJNC y que hacen uso de la silla de ruedas, siendo los porcentajes muy variados en ambas poblaciones. La frecuencia de asistencia semanal al HJNC, es mayor el porcentaje entre 1 a 3 días en la población femenina de un 46% y 31%, y en la población masculina en un 25% y 42%, y es menor la frecuencia para
los que asisten 4 y 5 veces a la semana. Por otra parte, la población de varones es más frecuente que asista 3 veces a la semana con un 42% (10), siendo distinto a la población de mujeres ya que frecuenta 1 vez a la semana 46% (6) al HJNC.
Del universo de 37 personas, 29 refirieron que asistían con cuidador (ver Tabla 3), por lo tanto, se desprende de la que diferencia entre las poblaciones de Adulto y Adultos Mayores en ambos sexos. Existe mayor necesidad de asistir al HJNC con cuidador para la población femenina con el 100% (13) que para los varones con un 66% (16). Por otro lado, al comparar las poblaciones de Adultos con Adultos Mayores, el mayor porcentaje lo tienen los Adultos Mayores en hombres con un 71% (12) y en mujeres con un 92% (12).
De las 4 preguntas que se realizaron a los pacientes en silla de ruedas. De la Tabla 4, se desprende que ambas poblaciones (mujeres y hombres) le es muy difícil y/o necesitan de asistencia para acceder a la rampa de la entrada principal del HJNC siendo en mujeres con un 100% (13) y en hombre un 75% (18).
En relación a la pregunta relacionada con el ingreso al baño (ver Tabla 5), se puede afirmar que ambas poblaciones, el mayor porcentaje indican que el baño es muy difícil y/o necesita asistencia para acceder a él, en hombres con un 50% (12) y en mujeres con 62% (8).

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 6 - 12.
11
Según la Tabla 6, con respecto de la utilización del ascensor, se observan porcentajes opuestos entre las poblaciones, ya que en las mujeres se destaca que le es muy difícil y/o necesitan de un cuidador con 69,2% (9), mientras que en los hombres no presentan dificultad para acceder al ascensor con un 54,2% (13).
Según Tabla 7, en relación con la atención desde el mesón, se indica que en ambas poblaciones les es muy difícil y/o necesitan de un cuidador para acceder o recibir atención desde los mesones del HJNC siendo esto en la población masculina con un 50% (12) y para la población femenina con un 69,2% (9).
Las barreras arquitectónicas referidas por los usuarios que se desplazan en silla de ruedas en el HJNC, específicamente la rampa de entrada al hospital es la que presenta mayor dificultad que encuentran las personas. Esto guarda relación con lo referido por Storr, quienes encontraron en Inglaterra, que ningún diseño de rampa satisface completamente las necesidades de estos grupos de usuarios, además, refieren de tener preferencia por rampas más anchas (7).
La encuesta permitió revelar que la barrera arquitectónica que genera menos impacto o sin dificultad para su acceso en las personas que hacen uso de la silla de ruedas en el HJNC, es el ascensor, pese a no cumplir con los requerimientos del Diseño Universal, ya que según el este, recomiendan que los botones estén ubicados horizontalmente, sobre relieve, contrastado con color y con el sistema Braille. Principalmente en los lugares públicos, en este caso el hospital, se aconseja que las señales audibles y visibles anticipe la llegada del ascensor, debe existir un espejo en la pared del fondo para permitir visibilidad y así el usuario pueda maniobrar para la entrada y salida del lugar (8).
Por otra parte, la encuesta arrojó que la mayoría de las
personas que hacen uso de la silla de ruedas acuden al hospital acompañadas de un cuidador, de acuerdo al enfoque de género, existe cierta resistencia de parte de los hombres a ser acompañados por algún cuidador a las atenciones que reciben del hospital, mientras que en las mujeres van acompañadas con un cuidador, teniendo diversas razones para ello.
Finalmente, existe distintos niveles de dificultad para las personas que hacen uso de la silla de ruedas en el acceso al HJNC, ya sea en comparación a las barreras arquitectónicas seleccionadas y para ambos sexos. Esto generó que se lograra, a través de los porcentajes, una clasificación diversa, discutiéndose distintos motivos como el asistir al Hospital acompañado de un cuidador siendo esto preferentemente en el sexo femenino. Asimismo, esto influye en las diferencias de niveles de dificultad que existe cuando el usuario asiste solo o acompañado, al mismo tiempo, de acuerdo a la clasificación anterior, la barrera arquitectónica que obtuvo el primer lugar requiere que la persona tenga que asistir acompañado o que solicite ayuda de una persona externa.
Según un estudio en Estados Unidos, la American with Disabilities Act, ADA, (Asociación de Discapacitados de América) impusieron regulaciones en el código de edificación dando igualdad de oportunidades con respecto al trabajo de personas en situación de discapacidad, también proporcionaron accesibilidad a los lugares públicos. Es importante destacar que esta Asociación logró acuerdos y contribuciones a que las personas que hacen uso de la silla de ruedas puedan vivir independientemente, libres y que tengan oportunidades de empleos, hasta el día de hoy en Arica, no existe una agrupación que vele por los derechos y/o beneficios (que están incertos en la ley) de las personas que hacen uso de la silla de ruedas, por lo que si existiera tal organización, lugares públicos como el hospital, no impedirían o dificultarían el acceso a las instalaciones del lugar (9).

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
NUÑEZ H. ET AL.ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
12
CONCLUSIONES
La principal barrera arquitectónica es la rampa de la entrada, que manifiestan las personas que hacen uso de la silla de ruedas del HJNC. Es así que la barrera arquitectónica que genera menos impacto en la independencia de las personas que hacen uso de la silla de ruedas son los ascensores del HJNC.
Las barreras arquitectónicas del HJNC utilizadas en nuestro estudio, fueron clasificadas según el nivel de dificultad que presentaban las personas que hacen uso de la silla de ruedas, de acuerdo a la dificultad que presenta cada persona que hace uso de la silla de ruedas, desde la mayor a la menor barrera arquitectónica del HJNC, en este orden, primeramente la rampa de la entrada del hospital, en segundo lugar el mesón de atención al público, en tercer lugar el ascensor y, en un cuarto y último lugar es el baño del primer piso que está en la entrada principal y el baño para personas en situación de discapacidad.
Y por ultimo podemos concluir que la dificultad de las personas que hacen uso de la silla de ruedas, es alto, lo cual influye en la independencia de los usuarios para acceder al HJNC.
BIBLIOGRAFÍA
1. Willard H, Spackman C. Terapia Ocupacional (10ª. Ed.). Buenos Aires: Médica Panamericana; 2005.
2. Quincoces J. Accesibilidad y Ciudades Inteligentes. Mayo, 2016, de Centro Nacional de Tecnologías de la
Accesibilidad; 2015.3. Turner A, Foster M, Johnson S. Principios, técnicas y
prácticas. En Terapia Ocupacional y Disfunción Física (688). Elsevier, España: Elsevier Science; 2003.
4. Kompany S, Briand D. Hospitals: Universal Design and Accessibility for All. WorkShop. 2011; 4, 103 – 105.
5. Bravo P., Lorca P. Guía de apoyo “Taller de reparación y mantención de silla de ruedas en la comunidad”. CETRAM & SENADIS. (2015).
6. Ministerio de Planificación [Internet]. Ley 20.422. Mayo, 2016, de Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2010. Disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idLey=20422.
7. Storr T, Spicer J, Frost P, Attfield S, Ward C. Pinnington L. Design features of portable wheelchair ramps and their implications for curb and vehicle access. Journal of Rehabilitation Research and Development. 2004; 41(3).
8. Boudeguer Simonetti A, Prett Weber P, Squella Fernández P. Manual de accesibilidad universal. Corporación Ciudad Accesible Boudeguer & Squella ARQ; 2010.
9. Pointer T, Kleiner B. Developments Concerning Accommodation of Wheelchair Users within the Workplace in Accordance to the Americans with Disabilities Act. 1997; (16), 44 – 49.
Correo Autor: [email protected]
Fecha de Aceptación: 26 de Enero del 2017 Fecha de Publicación: 31 de Mayo del 2017
ACEPTACIÓN Y CORRESPONDENCIA

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 13 - 19.
13
HIP JOINT POSITION DURING KNEE EXTENSION AND QUADRICEPS FORCE PRODUCTION AND EMG ACTIVATION
SARA NETO1, PAULO FERREIRA1, JOÃO VAZ2, MARIA ANTÓNIO CASTRO1, 3.
INTRODUCTION
The assessment of muscular force assists the clinician to establish a differential diagnosis, determining the muscular disability, so that therapeutic measures are applied to minimize or abolish the decrease of the function (1) or even increase it. Physical therapists have been especially involved in the development of accurate methodologies to assess the muscle strength (1).
The manual muscular test (MMT) is a simple and routinely used in clinical practice with no need of sophisticated
equipment. It´s a subjectively rated from 0 to 5 points based on the ability to move the tested body segment member against gravity and against manual resistance applied by the examiner (2). The quadriceps muscle group is a complex structure, favorable to injury which is often affected in the clinical setting.
Therefore, it is important to define the best hip joint position for the quadriceps muscle group to produce maximum muscle strength so that an accurate assessment
Posición de la articulación de la cadera durante la extensión de la rodilla y la producción de la fuerza del cuadriceps y la activación del EMG
1 Instituto Federal da Bahia, Departamento De Tecnologia em Saúde e Biologia, Salvador, Bahia, Brasil.
RESUMEN The assessment of muscle strength is an important parameter for the performance exam in physiotherapy as it is a mean of diagnosis, prognosis, treatment planning and evaluation of physiotherapeutic interventions. Objective: This study aimed to determine the best hip position to produce the maximum moment of muscle strength and its relationship with the electromyographic (EMG) signal. Participants: The study design included the participation of 30 healthy subjects, corresponding to 60 lower limbs of both sexes, aged between 18 and 22 years without restriction to the practice of physical activity. Methodology: The experimental protocol consisted in gathering surface electromyography information of three portions of the quadriceps muscle and of the peak moment of force during isometric contractions. The task consisted of knee extension in a fixed position of 5° of flexion at three angular positions of the hip, 25°, 55° and 85° against an external resistance offered by isokinetic dynamometer Biodex System 3 Pro. Results / Conclusion: It was found that a greater quadriceps strength is produced at 25° of hip flexion. It was observed that from all portions assessed only the rectus femoris was influenced by the variation of the joint position of the hip, showing a greater EMG signal percentage at 25° of hip flexion. In this position the relationship EMG / force had also higher values.
Key words: Muscle strength, electromyographic activity, position the hip joint; quadriceps
ABSTRACTThe assessment of muscle strength is an important parameter for the performance exam in physiotherapy as it is a mean of diagnosis, prognosis, treatment planning and evaluation of physiotherapeutic interventions. Objective: This study aimed to determine the best hip position to produce the maximum moment of muscle strength and its relationship with the electromyographic (EMG) signal. Participants: The study design included the participation of 30 healthy subjects, corresponding to 60 lower limbs of both sexes, aged between 18 and 22 years without restriction to the practice of physical activity. Methodology: The experimental protocol consisted in gathering surface electromyography information of three portions of the quadriceps muscle and of the peak moment of force during isometric contractions. The task consisted of knee extension in a fixed position of 5° of flexion at three angular positions of the hip, 25°, 55° and 85° against an external resistance offered by isokinetic dynamometer Biodex System 3 Pro. Results / Conclusion: It was found that a greater quadriceps strength is produced at 25° of hip flexion. It was observed that from all portions assessed only the rectus femoris was influenced by the variation of the joint position of the hip, showing a greater EMG signal percentage at 25° of hip flexion. In this position the relationship EMG / force had also higher values.
Keywords: Muscle strength, electromyographic activity, position the hip joint; quadriceps

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
NETO S. ET AL.ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
14
of this muscle is performed and a rehabilitation program established. The instrumental gold measure for muscle function is the isokinetic dynamometer. The advantage of its use is the ability to evaluate separately the weakened muscle groups throughout the range of motion with controlled speed. It allows to quantify the maximum moment strength (peak torque), power and work (2, 3, 4).
Although EMG doesn’t measure directly muscle strength it shows the muscle electrical activity (5) which is a strong sign of the force developed in the contraction since it depends on neural excitation supplied (6, 7).
Several authors, Kendall et al., 1971; Currier, 1977; Bohannon, 1986; Carvalho et al., 2007; Kong et al., 2010 (8,
9, 10, 11, 12) had measured the maximum force production and EMG of the quadriceps at different angular positions of hip, but the findings have been contradictory.
The present study aims to clarify the best hip position to develop the highest quadriceps force and its relationship with quadriceps EMG signal on the knee extension.
METHODS
The study carried out, the analysis of force production in knee extension with different hip flexion positions is a cross-sectional study. Sample consisted of 30 healthy subjects of both genders (10 males; 27 females), aged between 18 and 22 years (18.80 ±0.92), height between 1.54 and 1.79m (165 ±0.06), weight between 45.50 and 101.50Kg (64.28 ±13.08) and BMI between 19.20and 31.84 kg.m-2 (22.84 ±5.70); corresponding to 60 lower limbs with no restrictions on physical activity. All subjects with any quadriceps injury, or that had lower limb injury within the six months prior to data collection or any pathology that could compromise the tests, or were under medication with muscle effects were excluded.
The experimental protocol, consisted in collecting the EMG signal of three parts of the quadriceps muscle and the peak moment of force applied during the performance of isometric contractions in knee extension. The task consisted of knee extension in a fixed position of 5° of flexion at three hip angular positions, 25°, 55° and 85°, against an external resistance offered by isokinetic dynamometer Biodex System 3.
A clinical evaluation was performed looking for postural changes and muscle shortening (Psoas iliac, rectus femoris, biceps femoris). A warming up consisting in 20 repetitions of marching parade, 10 lunges, squats 5 reps for 5 seconds and 5 squat jumps was performed in order to prepare them for the effort (2, 10, 12, 13, 14). When in the isokinetic the subject performed three maximal contractions of the quadriceps at each position of the hip joint, for 5 seconds with 10 seconds rest between repetitions and 60 seconds between each hip position. The subjects were verbally and visually encouraged to perform maximum strength (12 - 14). To avoid lack of flexibility to influence on testing all subjects were submitted to iliopsoas and rectus femoris extensibility Thomas test (15) and popliteal angle was also measured to check for hamstring flexibility. To assure the maintenance of the hip angular positions during the isokinetic tests a camera (EXLIM Casio EX-FH20), was recording at 210Hz frequency, placed perpendicular to the isokinetic dynamometer.
Surface EMG at sampling frequency of 1000 Hz was collected from Rectus Femoral, Vast External and Vast Internal (12, 13) with a BioPluxReasearch unit (PLUX, Lisbon, Portugal). After cleaning the skin to reduce impedance bipolar electrodes were placed with 20 mm center-to-center distance (Al/AgCl, disk shape 10 mm Blue Sensor Ambu ® N -00- S).
On the isokinetic dynamometer Biodex System 3 subjects

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 13 - 19.
15
were stabilized by two straps cross on the trunk, one on the pelvis, one on the distal test thigh and one immediately above the malleolus (2, 10, 12, 13, 14). The test was performed with the arms crossed over the chest and 5° of knee flexion (12). The order of hip positions was set randomly to decrease study vies and to avoid fatigue effects.
EMG signals were subjected to a digital filter (10-490 Hz), full wave rectified, smoothed with a low-pass filter (Butterworth, 12 Hz, 4th order) and normalized in amplitude using the reference obtained during maximal voluntary contraction (MVC) of the muscles studied in muscle testing position (around 90° hip flexion and knee extension) which corresponds to the peak EMG signal obtained. A 100ms average window was used around peak EMG signal. EMG data was processed through Matlab® (Mathworks Inc., Natick, Massachusetts, USA) self-developed routines. Kinovea version 0.8.15 was used for kinematic analysis of the hip angle.
The sample characterization was performed using descriptive statistics, using the average and standard deviation. Analysis of variance (ANOVA) was used to evaluate differences between hip positions for the studied variables and the Bonferroni test, after verification of variables normality and homogeneity with the Kolmogorov-Smirnov test with Lilliefors correction and Levene (16), for comparison between groups. The significance level was set at 5% for all tests. Statistical analysis was performed using SPSS Statistics 21.0 software (IBM Corporation, New York, USA).
RESULTS
The data obtained for quadriceps strength produced on isokinetic and maximal EMG signal percentage for Vastus Medial, Vastus Lateral and Rectus Femoris is summarized in Table 2.
Table 1. Quadriceps peak Torque and maximal EMG signal percentage for Vastus Medial, Vastus Lateral and Rectus Femoris.
Hip position /variable N Min Max Mean Standard deviation
25º Flexion
Quadriceps force (N) 60 12.75 99.05 42.05 18.81
maxVM_EMG (%) 57 35.08 183.62 92.87 33.57
maxVL_EMG (%) 59 33.30 174.05 92.74 26.84
maxRF_EMG (%) 59 58.68 496.96 123.27 73.86*
55º Flexion
Quadriceps force (N) 60 18.78 88.74 41.25 17.75
maxVM_EMG (%) 60 46.77 194.07 95.89 32.96
maxVL_EMG (%) 58 49.37 149.50 93.05 20.17
maxRF_EMG (%) 60 46.91 345.53 114.50 50.45*
85º Flexion
Quadriceps force (N) 60 17.29 96.38 37.81 18.65
maxVM_EMG (%) 60 53.35 103.15 93.10 10.93
maxVL_EMG (%) 60 69.99 105.59 93.79 8.76
maxRF_EMG (%) 60 59.77 100.12 93.59 9.46*
*statistical differences found on maximal EMG signal % for Retus femoris between 85º and 25º of hip Flexion (p=0.01) and 85º and 55º of hip Flexion (p=0.09)

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
NETO S. ET AL.ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
16
Hip flexion of 25° is the position where a greater force is produced and the one where the rectus femoris shows a higher maximum EMG percentage. The myoelectric activity mean percentages of vastus medialis and lateralis didn’t oscillate significantly in all three positions. Only the rectus femoris is influenced by the variation of the hip joint position and a higher EMG activity is achieved at 25° and 85° of hip flexion. A statistical significant difference for Rectus femoris maximal EMG activity is found between 25° and 85° of hip.
DISCUSSION
This study aimed to find the position where quadriceps produces higher force. 60 lower limbs of healthy subjects were assessed. The results show that it is in the position of greatest lengthening of the biarticular rectus femoris muscle, 25° of hip flexion where a greater EMG activity is found.
This same position is also where highest values for maximum force production of the quadriceps muscle group is achieved. This findings may be related with the fact that in external contraction amplitude muscle actin-myosin fibers are in greater elongation and hence have greater potential for shortening. Another possible reason for this result is the role of Psoas Iliac on hip stabilization. Not to disregard is also the possible involvement of other muscles when extending the knee with 25° of hip flexion.
The magnitude of the force generated by a muscle is related to the length in which the muscle is maintained (5). The ideal length to generate muscular tension is slightly greater than the length at rest because contractile components are producing tension at an optimal level and passive components are storing elastic energy and increasing total tension in the unit. This relationship favors the idea of placing the muscle in a stretching position before starting
the muscle contraction. In isometric muscle is activated but keeps the same length, and the production of muscle strength depends on the number of cross-bridges formed, the greater the number formed, the greater the muscle force produced.
Vastus lateralis and medialis do not show significant differences concerning maximal EMG activation. In the study of Correa (17) that aimed to determine which joint angles it is possible to obtain a greater isometric force production and increased EMG on vastus medialis, rectus femoris and vastus lateralis when contacting with different knee extension positions. The 10 sample subjects were positioned sitting with the hip at 110° and the knee at 0° (full extension), 60° and 90°. Three maximal contractions were performed in each position for a period of five seconds and a five minute break between tests has been given. Authors concluded position didn´t affect significantly vastus lateralis and medialis EMG activation as in the present study.
Newman et al. studied (18) the influence that knee angle position and muscle length had on maximum force production and EMG activation. 8 subjects in an isokinetic dynamometer performed isometric knee extension in 10°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110° knee positions with a 90° hip flexion. The EMG signal was collected by an electrode placed immediately above the insertion of the vastus lateralis. They didn’t find any significant differences in muscle activation at different muscle lengths. Ottoni et. al. (2004) studied vastus lateralis and medialis EMG behavior in knee extension maximal isometric contraction for knee angular positions 150°, 165° and 180° and they had not found any significant difference between the angles.
The authors Shenoy et. al. obtained the opposite results when assessing the influence of different knee joint angles during a maximal voluntary isometric contraction with EMG activity and peak torque of the vastus medialis (19), vastus lateralis and rectus femoris muscles. In a sample of forty

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 13 - 19.
17
healthy subjects (20 men, 20 women), the peak torque and the EMG signal in the dominant leg were measured at 30°, 60° and 90° knee angular positions with the hip positioned at 110° flexion during a 10 second contraction. They found significant differences in EMG activity for the vastus medialis at all angles, with maximum activity at 60° of knee flexion followed by 90° and 30°.
Their findings also contradict to the author Kong et. al. (12) whose outcomes showed that monoarticular and biarticular portions had higher activation values in a sitting position, followed by inclined and lying. In contrast are the findings of Hasler et. al. (20) that obtained a greater vastus externalis EMG signal in extreme positions 90 º and 180 º and vastus medialis in a sitting position. Regarding the rectus femoris, Correa et. al. (17) outcomes show that a 90º knee angle is the most appropriate to assess this muscle maximum activation since it is more elongated, which is accordance with our findingswhere rectus femoris shows a greater EMG signal at 25° of hip flexion where it is has the greatest lengthening.
In contradiction the authors Silva and Chilibeck (21, 22) state that when muscle shortening is increased, greater recruitment of motor units occurs to assist the production of maximum force and the greater EMG signal. Our Findings are also in disagreement with the conclusions reached by Maffiuletti et. al. (23) that found a greater EMG activation in a sitting position (90º) while in our study there is a greater activation in the lying position (25º).
Like in our study Kong et. al. (12) states that hip extension is the position with high EMG values for rectus femoris. However Carvalho et. al. (11) didn’t find any influence of the hip angular position on EMG activation.
Concernig the maximal Force production our study findings are in agreement with the conclusions reached by previous studies that the production of maximum force is influenced
by the position of the hip joint. These findings are similar to those of Bandy et. al. (24) who applied a program training isometric to the quadriceps with different angles of knee flexion - 30º, 60º, 90º with the hip positioned at 110° of flexion and intended to check their influence on the muscle strength and EMG activity. They concluded that the force production was higher when muscle was in greatest lengthening, stating that an effective method for increasing the strength of isometric knee extension and EMG activity throughout the range of motion involves training the quadriceps in a position of greater elongation.
Correa et. al. (17) reported that with the hip positioned at 110°, muscle strength in knee extension is higher and similar to each other in positions 60° and 90° when compared to 0°, suggesting that in 60° there is great mechanical advantage.The authors Bohannon and Currier et al. (9, 10) also reported a higher force production on a position of maximum hip extension which is in accordance with the findings of our study that reveal greater force production in lying position.
Disagreement of this statements is found by Carvalho et. al. (11) that reported that from five positions studied (180°, 140°, 110°, 100°, 900°) the 110° position, with a slight inclination, was the one that produced greater muscle strength, which is consistent with the conclusions reached by Pavol et. al. (25) when they stated that the averages force moments generated by the knee extension at different starting angles were higher with the hip flexion at 80° than in full extension.
CONCLUSION
The present study investigated quadriceps strength and EMG activity during isometric knee extension in order to determine the best angular position of the hip to obtain a higher force production and consequently a higher EMG signal. Thus, based on the assessment to the extensor

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
NETO S. ET AL.ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
18
muscle group of the knee with the hip positioned at different angles relative flexion - 85 º, 55 º and 25 º - and the knee held in a position of 5° of flexion was possible to conclude that the quadriceps had the highest moment of force at the position of 25° of hip flexion; the largest percentage of EMG signal was found in rectus femoris muscle with the hip joint positioned at 25° of flexion; the relationship EMG / force showed higher values in position 25° of hip flexion.From our results in healthy young people it is suggested, therefore this position as the most suitable for evaluating the muscular strength of the quadriceps, as well as showing an increased mechanical advantage for increasing muscular strength in this muscle group in a process of physical recovery, regarding the position of the hip joint.
REFERENCES
1. Wadsworth, C. T.; Krishnan, R.; Harrold, J.; Nielsen, D. H.; Intrarater Reliability of Manual Muscle Testing and Hand-held Dynametric Muscle Testing; Physical Therapy; Vo. 67; No. 9; 1987.
2. Griffin, J. W.; McClure, M. H.; Bertorini, T. E.; Sequential Isokinetic and Manual Muscle Testing in Patients with Neuromuscular disease – a pilot study; Physical Theraphy; Vo. 66; No. 1; 1986.
3. Bohannon, R. W.; Manual muscle testing: does it meet the standards of an adequate screening test?; Clinical Rehabilitation; 19: 662-667; 2005.
4. Bolgla, L. A.; Uhl, T. L.; Reliability of electromyographic normalization methods for evaluating the hip musculature; Journal of Electromyography and Kinesiology; 17; pp. 102–111; 2007.
5. Hamill, J.; Knutzen, K. M.; Bases Biomecânicas do Movimento Humano. 2ª ed, São Paulo: Manole; 2008.
6. Correia P. P.; Mil-Homens P.; A Electromiografia no Estudo do Movimento Humano; Lisboa; FMH Edições; 2004.
7. De Luca, Carlo J. Surface electromyography: detection
and recording. DelSys, 2002.8. Kendall, F. P.; McCreary, E. K.; Provance, P. G.;
Rodgers, M. M.; Romani, W. A.; Muscles testing and function with posture and pain; 5th Edition; Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
9. Currier, D. P.; Positioning for knee strengthening exercises; Physical Theraphy; Vo. 57; No, 2; 1977.
10. Bohannon, R. W.; Gajdosik, R. L.; Leveau, B. F.; Isokinetic knee flexion and extension torque in the upright sitting and semireclined sitting positions; Physical Therapy; Vo. 66; No. 7; 1986.
11. Carvalho, P.; Cabri, J.; Avaliação isocinética da força dos músculos da coxa em futebolistas; Revista portuguesa de fisioterapia no desporto; Vo. 1; Nº 2; 2007.
12. Kong, P.W., Haselen, J.; Revisiting the influence of hip and hnee angles on quadriceps excitation measures by surface electromyography. International SportMed Journal, Vol. 11; No. 2; pp 313-323; 2010.
13. Alberto, M.; Carvalho, P.; Influencia da posição angular da anca na actividade electromiografica e no peak torque durante a contracção isométrica do quadricipite; Revista portuguesa de Fisioterapia no desporto; Vol. 2. No.1; 2008.
14. Lin, H.; Hsu, A.; Chang, J.; Chien, C.; Chang, G.; Comparison of EMG Activity between maximal manual muscles testing and Cybex maximal isometric testing of the quadriceps femoris; J Formosan Medical Association; vol.107 No.2; Elsivier; 2008.
15. Volpon JB. Orthopedic semiology. Medicina, Ribeirão Preto, 29: 67-79, jan/mar. 1996.
16. Pestana, M. H.; Gageiro, J.; Análise de dados para ciências sociais: A complementaridade do S.P.S.S; Lisboa; 2000.
17. Correa, C. S., Silva, B. G. C., Alberton, C. L., Wilhelm, E. N.; Moraes, A. C.; Lima, C. S., Pinto, R. S.; Analise da força isométrica máxima e do sinal de EMG em exercícios para os membros inferiores; Revista Brasileira Cineantropom Humana; Vo. 13; No. 6; pp.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 13 - 19.
19
429-435; 2011.18. Newman, S. A., Jones, G., Newham, D. J.;
Quadriceps voluntary activation at different joint angles measures by two stimulation techniques; Eur J Appl Physiol; Vo. 89; pp. 496-499; 2003.
19. Shenoy, S.; Mishra, P.; Sandhu, J. S.; Peak Torque and IEMG activity of Quadriceps Femoris muscle at three different knee angles in a collegiate population; J Exerc. Sci. Fit; Vol. 9; No. 1; pp. 40-45; 2011.
20. Hasler et. al. (1994).21. Silva, E. M., Brentano, A. M., Cadore, E. L.,
Almeida, A. P. V., Kruel, L. F. M.; Analysis of muscle activation during different leg press exercise at sub-maximum effort levels; J Strength Cond Res; Vo. 22; pp. 1059-65; 2008.
22. Chilibeck, P. D., Calde, A. W., Sale, D. G., Webber, C. E.; A comparison of strength and muscle mass increases during resistance training in young women; Eur J Appl Physiol; Vo. 77; pp. 170-5; 1998.
Correo Autor: [email protected]
Fecha de Aceptación: 23 de Marzo del 2017 Fecha de Publicación: 31 de Mayo del 2017
ACEPTACIÓN Y CORRESPONDENCIA
23. Maffiuletti, N. A.; Lepers, R.; Quadriceps femoris torque and EMG activity in seated versus supine position; Medicine & Science in Sports & Exercise; Vol. 35, No. 9, pp. 1511–1516, 2003.
24. Bandy, W. D., Hanten, W. P.; Changes in torque and electromyographic activity of the quadriceps femoris muscles following isometric training; Journal of the American Physical Therapy Association; Vo. 73; pp. 455-465; 1993.
25. Pavol, M. J.; Grabiner, M. D.; Knee strength variability between individuals across ranges of motion and hip angles; Medicine & Science in Sports & Exercise; Vol. 32; No. 5; pp. 985–992; 2000.

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
LOUREIRO H. ET AL.ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
20
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E DA INGESTÃO ALIMENTAR NOS IDOSOS DA SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE COIMBRAHELENA LOUREIRO1 , MAFALDA CARDOSO1
INTRODUÇÃO
Os idosos representam o segmento da população que mais cresce no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), são considerados idosos, nos países desenvolvidos, os indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos, ao passo que, nos países em desenvolvimento, considera-se a idade de 60 anos. A OMS avalia uma
população como envelhecida quando a quantidade de indivíduos idosos atinge 7% do total (1).
Distinguem-se, assim, três subdivisões do estado adulto: os jovens idosos (65-74 anos), os idosos médios (75-84 anos) e os muito idosos (85 ou mais anos) (2).
Evaluation of the nutritional status and food Intake in the elderly of Santa Casa da misericórdia de Coimbra
1 Dietética e Nutrição da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, Portugal.
RESUMO Introdução: Os idosos institucionalizados apresentam um risco aumentado de alteração do estado nutricional. Sendo assim, são necessários indicadores sensíveis para identificação da alteração do estado nutricional. Objectivo: Identificação do risco nutricional, avaliação do estado nutricional e avaliação do grau de dependência de idosos institucionalizados. Material e Métodos: Estudo transversal que avaliou 37 idosos residentes numa instituição em Coimbra, através de avaliação do Risco Nutricional (MNA), avaliação Antropométrica (peso, altura, IMC, perímetro do braço, circunferência da perna e perímetro abdominal), avaliação da história clinica (recolha de informação das doenças crónicas existentes e do número de medicamentos tomados por cada utente), avaliação Funcional (Índice de Barthel e Dinamometria) e avaliação da Ingestão Alimentar (Inquérito das 24 horas e do questionário de frequência alimentar). Resultados: A média de idades destes indivíduos foi de um total 81,5anos, sendo 75,7% do sexo feminino e 24,3% do sexo masculino. De acordo com a classificação de Lipschitz 8,1% dos idosos estudados apresentou-se desnutridos, 24,3% em risco de desnutrição, 43,2% dos idosos estavam nutridos e 24,4% apresentavam obesidade. Cerca de 67,6% dos inquiridos encontraram-se polimedicados, e tinham pelo menos uma doença crónica. Em média os idosos desta amostra foram considerados Ligeiramente Dependentes, para ambos os sexos. Foi verificado em todos os inquiridos um consumo energético superior ao seu metabolismo basal. Conclusões: Os instrumentos descritos e discutidos são essenciais para o diagnóstico do estado nutricional do idoso. Constatou-se a relevância dos métodos antropométricos como um instrumento fundamental para auxiliar a avaliação do estado nutricional de idosos.
Palabras chaves: Estado nutricional, avaliação funcional, ingestão alimentar.
ABSTRACTIntroduction: Institutionalized elderly report increased risk of changes in nutritional status. Therefore, it is necessary to identify sensitive indicators of changes in nutritional status. Prupose: Nutritional risk identification, assessment of nutritional status and assessing the degree of dependence of institutionalized elderly. Materials and methods: Cross-sectional study that evaluated 37 elderly residents in an institution in Coimbra, through assessment of nutritional risk (MNA), Anthropometric evaluation (weight, height, BMI, arm perimeter, leg circumference and abdominal perimeter), evaluation of clinical history (collecting information of existing chronic diseases and the number of medications taken by each user), Functional assessment (Barthel Index and Dynamometry) and evaluation of food ingestion (Survey of 24 hours and a food frequency questionnaire). Results: The mean age of these individuals was a total 81,5 years, being 75.7% female and 24.3% male. According to Lipschitz evaluation, 8.1% of the studied elderly are presented undernourished, 24.3% at risk of malnutrition, 43.2% of the elderly are nourished and 24.4% are obese. About 67.6% of respondents are polymedicated and have at least one chronic disease. On average the elderly in this sample are considered Slightly Dependents, for both sexes. It was found in all respondents a higher energy intake to its BMR (basal metabolic rate). Conclusions: The described and discussed tools are essential for the diagnosis of the nutritional status of the elderly. It was noted the relevance of anthropometric methods as a key tool to help assess the nutritional status of the elderly.
Key words: Nutritional status, functional evaluation, food intake.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 20 - 34.
21
O envelhecimento populacional é um fenómeno universal, característico tanto dos países desenvolvidos quanto dos em desenvolvimento. Ocorre pelo decréscimo das taxas de natalidade e de mortalidade, associado ao aumento da esperança média de vida (3 - 6) (9 - 11).
A tendência de envelhecimento da população tem vindo a acentuar-se em Portugal, à semelhança da maioria dos países europeus, aumentando significativamente o número de pessoas mais velhas na população portuguesa (14). Segundo o Instituto Nacional de Estatística (2014) a proporção de jovens (população com menos de 15 anos) recuou para 15% e a de idosos (população com 65 ou mais anos) cresceu para 19% entre os censos 2001 e 2011. Diminuindo assim a base da pirâmide, correspondente à população mais jovem, e alargou-se o topo, com o crescimento da população mais idosa. Em 2011, o índice de envelhecimento da população era de 128, o que significa que por cada 100 jovens existiam 128 idosos (102 em 2001). As Estimativas de População Residente dos últimos anos confirmam o duplo envelhecimento demográfico: aumento do número de idosos, diminuição do número de jovens e do número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (população em idade ativa). O índice de envelhecimento foi de 136 idosos por cada 100 jovens, em 2013. Em resultado do agravamento dos desequilíbrios geracionais, o índice de envelhecimento poderá vir a atingir o valor de 464 idosos por cada 100 jovens em 2060 (18).
As mudanças na estrutura familiar e na dinâmica da sociedade, nomeadamente com a inserção de mulheres no mercado de trabalho, levaram a que muitas famílias optassem pela institucionalização de seus idosos (4, 8, 10). Entretanto, essa institucionalização impõe alterações na rotina diária desses indivíduos, inclusive na alimentação, podendo gerar alterações dos seus hábitos alimentares, por conta da menor aceitação alimentar, com consequentecomprometimento do estado nutricional (4, 8, 15).
O envelhecimento é caracterizado por alterações morfológicas, bioquímicas, fisiológicas, comportamentais e psicossociais, que são responsáveis pelos distúrbios nutricionais em idosos (3 - 6) (9 - 11). Quando se fala em avaliação geriátrica, a avaliação do estado nutricional é um dos itensprimordiais, uma vez que o desequilíbrio nutricional no idoso tem relação estreita com a morbilidade, suscetibilidade a infeções e mortalidade no idoso (5, 7, 11).
Nos últimos anos tem merecido especial atenção a avaliação da composição corporal, cujas variações, quer no sentido da obesidade, quer no sentido da desnutrição, que parecem influenciar a morbilidade e a mortalidade neste escalão etário. Sendo a má nutrição definida como o desvio quantitativo e qualitativo (deficiência ou excesso) dum estado de nutrição normal essencial à manutenção da saúde. Nesse contexto, a deficiência nutricional é um problema relevante na população idosa, já que as alterações fisiológicas e o uso de múltiplos medicamentos acabam por interferir no apetite, no consumo de alimentos e na absorção dos nutrientes, podendo aumentar o risco de desnutrição nos idosos, especialmente entre os institucionalizados (6, 13). Dados epidemiológicos mostram que a desnutrição reduz, significativamente, o tempo de vida, sobretudo quando associada à presença de DoençasCrónicas Não-Transmissíveis (DCNT) (11, 13). E por outro lado, as percentagens elevadas de sobrepeso e obesidade também existentes nos idosos aumentam significativamente o risco de doenças crónicas, como hipertensão, diabetes mellitus e dislipidémia (17).
No processo de envelhecimento considerado normal as alterações fisiológicas e biológicas que afetam a alimentação e a nutrição do idoso, são: aumento do tecido adiposo, perda de massa magra e massa óssea, redução da água corporal total, perda de paladar e olfato, diminuição na produção de pepsina e do ácido clorídrico, com diminuição na ingestão de alimentos e na absorção de vitamina B12, ferro e outras substâncias (11). A gordura

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
LOUREIRO H. ET AL.ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
22
corporal diminui nas regiões periféricas e aumenta na região abdominal e no tronco. A massa magra diminui em todos os órgãos em virtude da redução da atividade física, alimentação inadequada, diminuição da água corporal e perda generalizada de massa muscular, comprometendo a força muscular, a capacidade funcional e a autonomia dos idosos. A redução de massa magra também é responsável pela redução concomitante do metabolismo basal, uma vez que representa os principais tecidos consumidores de oxigénio (3).
Para além das alterações referidas, os idosos apresentam uma maior incidência de patologias agudas (associadas ao declínio da função imunitária) e prevalência de doençascrónicas, acrescidas da polimedicação e sedentarismo, características comuns em muitos dos indivíduos em questão (4).
No geral, nos idosos verifica-se uma diminuição do nível de atividade física e a taxa de metabolismo basal (TMB) também diminui devido às alterações da composição corporal, nomeadamente à perda da massa muscular. Assim, a alimentação no idoso deve-se basear segundo os princípios de uma alimentação saudável e variada, fracionada em várias refeições ao longo do dia, associada a uma atividade física regular. O envelhecimento afeta a absorção e excreção, pelo que as necessidades nutricionais devem ser adaptadas. Recomenda-se que 45 a 65% do valor calórico total (VCT) seja composto por hidratos de carbono, privilegiando os complexos, ricos em fibras, e 20 a 35% do VCT seja correspondente a lípidos, dos quais devem ser privilegiados os ácidos gordos poli e monoinsaturados. O consumo de fibras deve ser de 30gnos homens e 21g nas mulheres. As necessidades proteicas não se alteram com a idade (mantém-se a RDA de 0,8g/kg/dia), no entanto o consumo superior de proteína que o recomendado para esta faixa etária justifica-se devido à diminuição da sua absorção (12). Estudos indicam que um maior aporte proteico (1,0 a 1,6g/kg/dia, correspondendo a
12 a 20% do VCT) atrasa o desenvolvimento da sarcopenia, potencia o aumento da massa muscular, e promove a função imunitária e a saúde óssea do indivíduo (31).
Até ao momento não existe consenso quanto ao melhor instrumento de avaliação nutricional do idoso, o que requer a análise conjunta de diversas medidas (antropométricas, funcionais, dietéticas e bioquímicas) para alcançar um diagnóstico. Os métodos não invasivos, fidedignos e de baixo custo para a avaliação de risco nutricional no idoso, encontram-se como os mais adequados para avaliação desta faixa etária (7). A avaliação nutricional específica abrange uma história completa, ou seja, história médica, perfil do doente, interações fármaco-nutriente, estimativa da ingestão alimentar, bem como a avaliação antropométrica fazem parte de uma avaliação nutricional eficaz, completa e eficiente.
A boa nutrição, sendo um fator importante na prevenção de algumas doenças e no retardamento da involução fisiológica dos aparelhos e sistemas, assume particular relevo na saúde, bem-estar e longevidade dos idosos. Estudos comprovam que melhora não somente a qualidade de vida, como também os custos direcionados aos cuidados de saúde (16).
Os objetivos principais deste estudo foram a identificação do risco nutricional, a avaliação do estado nutricional e a avaliação do grau de dependência de idosos institucionalizados. Sendo os objetivos específicos a análise da história clínica, a avaliação antropométrica, a avaliação da ingestão alimentar e a avaliação funcional desse mesmo grupo.
MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo do tipo transversal, visto que as avaliações foram realizadas num único momento de

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 20 - 34.
23
contacto com cada um dos inquiridos. A amostra foi do tipo não probabilístico, e a técnica de amostragem utilizada foi de conveniência.
A amostra foi representada por idosos de uma instituição em Coimbra, Santa Casa da Misericórdia de Coimbra. Sendo que os critérios de inclusão para a constituição da amostra foram os inquiridos terem idade igual ou superior a 65 anos, estarem inscritos nesta instituição e darem autorização para o estudo. Quantos aos critérios de exclusão foram ser idosos imobilizados no leito, estarem em cadeira de rodas e não comunicarem verbalmente.
A recolha de dados foi efetuada durante os meses de Março e Abril de 2016. A avaliação da amostra consistiu na Avaliação do Risco Nutricional (MNA), avaliação da história clinica (recolha de informação das doenças crónicas existentes e do número de medicamentos tomados por cada utente), Avaliação Funcional (Índice de Barthel e Dinamometria), Avaliação Antropométrica (peso, altura, IMC, perímetro do braço, circunferência da perna e perímetro abdominal) e Avaliação da Ingestão Alimentar (Inquérito das 24 horas e do questionário de frequência alimentar).
Avaliação do Risco NutricionalA European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) recomenda o Mini Nutrition Assessment (MNA) como instrumento seguro na deteção da presença de desnutrição e do risco de desenvolver desnutrição na população idosa (19). O MNA é uma técnica prática, não invasiva que permite uma rápida avaliação de um risco potencial de desnutrição no idoso. Este instrumento (Anexo 1), concebido especificamente para idosos, tem sido reconhecido como uma ferramenta adequada pela generalidade dos especialistas nesta área do conhecimento e tem sido validado em diversas amostras de idosos de muitos países. A validação do MNA da População Geriátrica Portuguesa decorreu no ano de 2008 (21). O MNA
compreende dezoito itens agrupados em quatro categorias: avaliação antropométrica (índice de massa corporal, perda de peso em três meses, perímetro médio braquial e circunferência da perna), avaliação global (estilo de vida, medicação, mobilidade, lesões de pele, presença de sinais de depressão e demência), avaliação dietética (número de refeições, ingestão de alimentos e líquidos e autonomia ao se alimentar) e avaliação subjetiva (autopercepção sobre sua saúde e nutrição). Cada resposta tem um valor numérico que contribui para o resultado final. Essa etapa chega a um valor máximo de 30 pontos. Valores maiores ou iguais a 24 indicam um estado Nutricional Adequado. Valores entre 17 e 23,5 sugerem Risco de Desnutrição, e valores abaixo dos 17 indicam Desnutrição (3, 21).
Avaliação Antropométrica - A antropometria é caracterizada por ser um método não invasivo, de fácil execução, de baixo custo, seguro e por ter valor preditivo para identificar populações em risco nutricional.21 Para a obtenção dos dados antropométricos (peso, altura, IMC, perímetro abdominal, perímetro do braço dominante e circunferência da perna), com exceção do peso corporal, foram realizadas três medidas calculando-se a média aritmética das mesmas (1).
O peso foi avaliado de manhã, com os idosos em jejum, com recurso a uma balança mecânica (precisão de quinhentos gramas) com os idosos descalços, em roupa interior e após terem urinado.
A altura foi medida com recurso a um estadiómetro, com os idosos de pé, descalços, em posição ortostática com o corpo erguido em extensão máxima e a cabeça ereta, olhando para a frente, em posição de Frankfort (arco orbital inferior alinhado em plano horizontal com o pavilhão auricular), com as costas e a parte posterior dos joelhos encostadas ao instrumento de medida, e os pés juntos e planta dos pés totalmente apoiada no solo.

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
LOUREIRO H. ET AL.ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
24
O Índice de Massa Corporal (IMC) é o indicador antropométrico mais utilizado para avaliar o estado nutricional, por ser uma medida facilmente aplicável, não invasiva e de baixo custo (5). Este índice antropométrico pretende correlacionar o peso com a altura, fornecendo uma ideia sobre a forma corporal bem como sobre a existência ou não de magreza ou obesidade. Em termos genéricos podemos dizer que o IMC nos diz qual o peso do individuo por metro quadrado de superfície corporal. Índice de massa corporal (IMC em kg/m2): calculado através doíndice de Quételet que é a relação peso/altura², com a massa expressa em quilogramas e a altura em metros.
Existem duas referências para a classificação do IMC: a primeira foi estipulada pela OMS (1) e a outra, proposta por Lipschitz (20). Há críticas, no entanto, sobre o uso dos mesmos pontos de corte para classificar obesidade em adultos e idosos, pois mudanças na composição corporal, associadas ao processo de envelhecimento, devem ser consideradas. Já os pontos de corte propostos por Lipschitz levam em consideração as mudanças na composição corporal que ocorrem com o envelhecimento quando comparados com os indivíduos adultos (5).
Calculou-se o IMC, indicador da massa corporal, com base na altura real. Para classificar os valores obtidos recorreram-se aos valores de referência propostos por Lipschitz (Tabela 1) (20).
Tabela 1. Classificação do Estado Nutricional segundo o IMC proposto por Lipschitz (20).
IMC Classificação do Peso
<21kg/m2 Desnutrição
21,0 e 24,9 kg/m2 Em Risco de Desnutrição
25,0 e 29,9 kg/m2 Nutrido
> 30,0 kg/m2 Obesidade
Tabela 2. Pontos de corte propostos pela OMS para relação do PA e do risco de doenças cardiovasculares.
Risco elevado Risco muito elevado
Sexo masculino ≥94 ≥102
Sexo feminino ≥80 ≥88
O perímetro do braço (PB em cm) e a circunferência da perna (CP em cm), avaliam a gordura subcutânea e o músculo. Uma diminuição indica a redução de massa
muscular e de tecido subcutâneo. O instrumento utilizado para a medição é uma fita métrica flexível e não elástica, com possibilidade de leitura até ao milímetro. O perímetro do braço é avaliado no braço dominante, a nível do ponto médio da linha que une o acrómio ao olecrâneo. A circunferência da perna é avaliada com a fita métrica posicionada ao redor da maior circunferência, no espaço entre o tornozelo e o joelho, com idoso sentado com as pernas perpendiculares ao chão, de forma a que a curvatura da perna com o joelho faça um ângulo de 90º. A circunferência da perna é considerada, pela OMS, como a medida mais sensível da massa muscular nos idosos. Sendo considerada adequada a circunferência igual ou superior a 31 cm para homens e mulheres (1).
Avaliou-se ainda o perímetro abdominal (PA em cm), vaticinador da gordura visceral, com recurso a uma fita – métrica flexível e não elástica (aproximação ao milímetro). Para tal, o idoso deve estar na posição ereta, com o peso distribuído equitativamente pelos dois pés, pés afastados ao nível dos ombros. O perímetro abdominal mediu-se no ponto médio entre a margem inferior da última costela e a crista ilíaca, num plano horizontal, no final da expiração normal. Utilizaram-se os pontos de corte da OMS, considerados como risco para doenças metabólicas e cardiovasculares (Tabela 2) (24).
Análise da História Clínica As doenças crónicas não transmissíveis, como diabetes mellitus, hipertensão, dislipidémia, osteoporose e doenças cardíacas, são comuns e interferem significativamente no estado nutricional desta população, uma vez que necessitam de restrições dietéticas para o seu tratamento e alteram as necessidades nutricionais e os processos de

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 20 - 34.
25
digestão, absorção, utilização e excreção de nutrientes (3). Os problemas nutricionais podem afetar o estado da saúde do idoso, favorecendo o agravamento de patologias pré-existentes ou o aparecimento de outras, que por sua vez podem contribuir para a deterioração do estado nutricional (4). Para análise das doenças crónicas foram consideradas as 20 doenças crónicas definidas pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de acordo com a OASH List (30).
Dada a prevalência de múltiplas patologias no idoso, este encontrasse frequentemente polimedicado. A polimedicação é definida como o consumo de cinco ou mais medicamentos e a polimedicação excessiva como o consumo de mais de 10 medicamentos (27 - 29). Perante asmúltiplas alterações fisiológicas associadas ao envelhecimento, o idoso encontra-se em risco de interações entre fármacos e de interações entre fármacos e nutrientes, fatores que podem comprometer o estado nutricional e de saúde daquele (4).
Avaliação Funcional - A avaliação funcional dos idosos foi feita com base no Índice de Barthel e pelo teste do dinamómetro de mão. O Índice de Barthel (Anexo 2) é um instrumento para avaliação do nível de autonomia do sujeito para o desempenho de atividades da vida diária (4). Avalia o nível de independência do sujeito para a realização de dez atividades básicas de vida diária: comer, vestir, tomar banho, higiene pessoal, uso dos sanitários, controlo de esfíncteres, transferência da cadeira para a cama, mobilizar-se e subir e descer escadas (22). Cada atividade apresenta entre dois a quatro níveis de dependência, em que 0 corresponde à dependência total e a independência pode ser pontuada com 5, 10 ou 15 pontos de acordo com os níveis de dependência. Para este estudo foram utilizados os pontos de corte de Sequeira (2007), Tabela 3 (23).
Tabela 3. Pontos de corte para identificação do Grau de Dependência proposto por Sequeira (2007) (23).
Independente 90-100
Ligeiramente dependente 60-90
Moderadamente dependente 40-55
Severamente dependente 20-35
Totalmente dependente <20
O teste do dinamómetro de mão é uma medida simples e rápida que quantifica o déficeda força isométrica de preensão. É um bom indicador de força muscular, de prognóstico e do risco da morbi-mortalidade na população idosa. Esta medida faz parte das 3 variáveis que compõem o diagnóstico de sarcopenia segundo o Grupo Europeu de Trabalho com pessoas Idosas (25). Há evidência crescente que é um indicador precoce indireto para o risco de desnutrição (26). A força de preensão deve ser medida com um dinamómetro manual, de acordo com protocolo definido. A preensão palmar é registada em quilograma-força (KgF) e foi medida nas duas mãos. Os valores de referência para os diferentes sexos na identificação da fraqueza muscular são valores inferiores a 20KgF nas mulheres e inferiores a 30KgF nos homens (25).
Avaliação da Ingestão AlimentarPara avaliação da Ingestão alimentar foram utilizados o Inquérito das 24 horas e o Questionário de Frequência Alimentar (QFA) desenvolvido pelo Departamento de Epidemiologia Clínica, Medicina Preditiva e Saúde Pública da Faculdade de Medicina do Porto, devidamente validado para a população portuguesa. (Anexo 3) O cálculo da ingestão alimentar de cada inquirido foi calculado com base no inquérito das 24 horas e no QFA através da versão digital da Tabela de Composição de Alimentos do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. Optou-se por esta metodologia, pois como descrito na literatura, um único dia não representa a ingestão habitual de um

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
LOUREIRO H. ET AL.ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
26
Tabela 4. Valores de média e desvio-padrão das variáveis antropométricas IMC, PA, PB e CP.
IMCFemenino 27,48 4,99
Masculino 26,92 3,32
PCFemenino 100,05 10,27
Masculino 102,33 7,22
PBFemenino 29,08 3,00
Masculino 28,63 2,33
CPFemenino 31,50 3,58
Masculino 31,74 2,98
indivíduo devido à elevada variabilidade intrapessoal do consumo (13). Para o cálculo das gramas de proteínas por Kg de peso, utilizou-se o peso real dos utentes no caso do estado nutricional ser Nutrido e utilizou-se o peso ideal para o caso do utente apresentar um estado nutricional Desnutrido ou de Obesidade, conforme guidelines da ESPEN (19).
Para o tratamento dos dados foi utilizado o programa informático de estatística IBM SPSS Statistics versão 22.0. Os dados recolhidos foram analisados através de métodos de estatística descritiva (média, mediana, quartis, moda, desvio padrão, máximo e mínimo das variáveis), assim como da aplicação de métodos de estatística inferencial (Testes t-Student, ANOVA, Teste do Qui-quadrado da Independência, H de Kruskal-Wallis e Coeficiente de Correlação Linear de Pearson). Para a inferência estatística tivemos em conta um nível de confiança de 95% para um erro aleatório máximo até 5%.
RESULTADOS
A amostra analisada foi constituída por 37 idosos residentes na Santa Casa da Misericórdia de Coimbra, dos quais 75,7% (n=28) eram do sexo feminino e 24,3% (n=9) do sexo masculino. A média de idades destes indivíduos foi de um total 81,51 ± 5,81 anos, sendo que a média de idades do sexo feminino foi de 82,5 ± 4,9 anos e do sexo masculino de 78,56 ± 7,7 anos. Distinguidos por três classes de idade onde se identificou 10,8% idosos considerados como Jovem Idosos (3,5% do sexo feminino e 33,3% do sexo masculino), 56,7% Idosos Médios (60,7%do sexo feminino e 44,4% do sexo masculino) e 32,5% Muito idosos (35,7% do sexo feminino e 22,2% do sexo masculino).
Avaliação do Risco NutricionalNa avaliação do Risco Nutricional (MNA) observou-se
que 45,9% (46,4% do sexo feminino e 44,4% do sexo masculino) da amostra encontrava-se Nutrida, 43,2% (39,3% do sexo feminino e 55,5% do sexo masculino) em Risco de Desnutrição e 10,9% (14,3% do sexo feminino e 0% do sexo masculino) Desnutrido. A média da pontuaçãoobtida de MNA para toda a população foi de 22,56 ± 3,02, sugerindo um estado de Risco de Desnutrição. Tentando analisar se o risco nutricional variava em função do género dos idosos, aplicou-se o teste do Qui-quadrado. Viemos a constatar a ausência de relação entre o risco de desnutrição quer em homens quer em mulheres do lar em estudo (p = 0,426). Quanto à influência da idade no risco nutricional também não se encontraram evidências estatisticamente significativas que permitam sustentar a hipótese de que os doentes desnutridos apresentam idades superiores às dos não desnutridos. De facto, analisando a correlação linear de Pearson constatou-se que não existia correlação entre o risco nutricional e a Idade (p=0,452).
Avaliação AntropométricaOs valores da média e do desvio-padrão dos valores do IMC, do Perímetro Abdominal (PA), do Perímetro do Braço (PB) e da Circunferência da Perna (CP), conforme o sexo, podem ser observados na Tabela 4. Os valores médios do
IMC e Perímetro do Braço nas mulheres foram superiorescomparativamente aos homens, enquanto os valores médios do Perímetro Abdominal e da Circunferência da Perna foram superiores nos homens do que nas

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 20 - 34.
27
mulheres. Porém viemos a constatar que essas diferenças revelaram não ser estatisticamente significativas em função do género (IMC p=0,777; PA p=0,645; PB p=0,817; CP p=0,763). No que concerne à avaliação do estado nutricional a partir do IMC, destacou-se que 8,1% dos idosos estudados apresentaram-se desnutridos, 24,3% em risco de desnutrição, 43,2% dos idosos estão nutridos e 24,4% apresentaram obesidade. O estado nutricional mais prevalente em ambos os sexos foi o estado nutricional Nutrido com 39,3% dos inquiridos do sexo feminino e 55,5% dos inquiridos do sexo masculino. Em seguida destacou-se o estado nutricional de Obesidade que se encontrou presente em maior percentagem nos utentes dosexo feminino do que nos utentes do sexo masculino, com 28,5% e 11,1%, respetivamente. O valor médio de IMC foi de 27,4Kg/m2 considerando a população como Nutrida. Quando procuramos avaliar a relação entre género e estado nutricional constatamos que este indicador nutricional não variou de forma significativa em função do género (p = 0,452). Analisando a correlação linear de Pearson constatou-se que não existe correlação entre o estado nutricional e a Idade (p=0,861).
Somente 32,4% dos idosos (n=12) apresentaram valores adequados para a medida de Circunferência da Perna (≥31cm). Sendo que do sexo feminino apenas 32,1% (n=9) da amostra apresentou valores adequados e do sexo masculino 33,3% (n=3).
O risco cardiovascular, a julgar pela medida do Perímetro Abdominal, esteve presente em todos os inquiridos. O risco
elevado em 14,3% (n=4) das mulheres e em 66,7% (n=6) dos homens, e o risco muito elevado em 85,7% (n=24) das mulheres e em 33,3% (n=3) dos homens.
Relativamente aos valores médios para cada género e considerando que foram superiores a 102cm no sexo masculino e a 88cm no sexo feminino foi possível constatar que em média ambos os géneros apresentam um risco muito elevado para doenças cardiovasculares.
Tentando compreender se havia correlação entre o PA e o IMC e o MNA aplicou-se o teste R de Pearson. Constatou-se que há correlação forte entre o PA e o IMC (r=0,891, p=0,000), e uma correlação moderada entre o PA e o MNA (r=0,415, p=0,011). Ou seja, perante valores mais elevados de IMC e de MNA os idosos tendem a demonstrar maior número de doenças cardiovasculares.
De destacar que há diferenças estatisticamente significativas entre o PA e o IMC mas não há diferenças estatisticamente significativas entre o PA e o MNA. Ou seja, os indivíduos com um risco mais elevado de doenças cardiovasculares expressam um valor de IMC significativosuperior comparativamente ao grupo de idosos com risco mais baixo.
Encontrou-se diferenças estatisticamente significativas do PA com a doença crónica Doença da artéria coronária (p=0,017) e com a doença crónica Arritmia cardíaca (p=0,017).
Tabela 5. Classificação nutricional segundo diferentes parâmetros para cada género.
Parâmetro ClassificaçãoFeminino Masculino Total
n % n % n %
IMC
Desnutrição 3 10,7 0 0 3 8,1
Risco de desnutrição 6 21,4 3 33,3 9 24,3
Nutrido 11 39,3 5 55,6 16 43,2
Obesidade 8 28,6 1 11,1 9 24,3

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
LOUREIRO H. ET AL.ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
28
MNADesnutrido 4 14,3 0 0,0 4 10,9
Risco de desnutrição 11 39,2 5 55,6 16 43,2
Nutrido 13 46,5 4 44,4 17 45,9
PASem risco 0 0 0 0 0 0
Risco Elevado 4 14,3 6 66,7 10 27
Risco muito Elevado 24 85,7 3 33,3 37 73
CPAdequada 9 32,1 3 66,7 12 32,4
Desadequada 19 67,9 6 33,3 25 67,6
Análise da História ClínicaA totalidade dos indivíduos geriátricos desta amostra padece de pelo menos uma doença crónica. Os grupos de patologias com mais impacto foram a Hipertensão com 18,1% (n=23) dos inquiridos, a Diabetes com 15% (n=19) dos inquiridos, a Dislipidémia com 11,8% (n=15) e a Demência que surgiu em 11% (n=14) dos casos. No grupomasculino a doença mais prevalente foi a Hipertensão (66,6%, n=6), seguido da Dislipidémia e Depressão (ambos com 55,5%, n=5). Já na população feminina, os diagnósticos mais ocorrentes depois da hipertensão (60,7%, n=17) foram a diabetes (53,5%, n=15), seguida de demência (39,3%, n=11) e dislipidémia (35,7%, n=10).
Existem diferenças estatisticamente significativas entre a quantidade de doenças crónicas e o género (Z=-2,634, p=0,008), ou seja, em média os homens apresentam maior propensão para ter doenças crónicas do que as mulheres, 4 doenças em oposição a 3 doenças.
Cerca de 67,6% dos inquiridos encontram-se polimedicados, isto é, tomam mais de 5 medicamentos diariamente. O consumo médio de medicamentos foi de 6,67 (DP=2,83) medicamentos/dia entre homens e de 6,14 (DP=2,43) entre as mulheres. No entanto, este valor médio de consumo de medicamentos não se diferenciou-se entre géneros. Analisando o estado nutricional através
Figura 1: Número de Doenças Crónicas existentes na amostra.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 20 - 34.
29
do IMC constatou-se que os inquiridos com o estado nutricional Desnutrido têm tendência a ter um maior número de Doenças Crónicas, sendo a média para este de 4 doenças por cada utente, embora não existem diferenças estatisticamente significativas no número de doenças em função do estado nutricional (𝑋2=0,992 ep=0,803). Relacionando o número de doenças com o MNA verificou-se o mesmo, que através da análise estatística não há diferenças significativas da relação entre as duas variáveis (𝑋2=0,686 e p=0,710). Tentando verificar seos utentes classificados como obesos pelo IMC têm um maior risco de prevalência de doenças metabólicas ou cardiovasculares, verificou-se que existiu mais diabéticos na classe dos obesos (42,1%) mas com doenças como a hipertensão ou a dislipidémia encontrou-se em maior percentagem na classe dos nutridos, com 47,8% e 46,7%,respetivamente.
Relacionando o número de doenças crónicas com a polimedicação destaca-se que em média o utente polimedicado tinha maior número de doenças crónicas (4 doenças) que o utente não-polimedicado (3 doenças), embora essa diferença não seja estatisticamente significativa (p=0,185). Apesar que, existe uma correlação positiva entre ambos, quanto maior o número de doenças, maior o consumo de medicamentos.
Constatou-se que não há relação entre a polimedicação e o estado nutricional, não havendo diferenças estatisticamente significativas na polimedicação em função do IMC (p=0,793), nem na polimedicação em função do MNA (p=0,836). Analisando a prevalência de medicação nos diferentes grupos da avaliação do estado nutricional através do IMC, verificou-se que em média, o grupo dos indivíduos nutridos (Nutrido e Obesidade) tomavam maiorquantidade de medicamentos comparativamente com o grupo dos desnutridos (Desnutrição e Risco de Desnutrição). Sendo que os nutridos tomam em média 6,6 comprimidos e os desnutridos tomam em média 5,4
comprimidos. Para além disso, 28% dos desnutridos encontravam-se polimedicados e no grupo dos nutridos a percentagem foi de 72%. Analisando a incidência de medicação nos diferentes grupos da avaliação do risco nutricional através do MNA, verificou-se um consumo muito semelhante entre os indivíduos nutridos (Nutrido) e os indivíduos desnutridos (Desnutrição e Risco de Desnutrição), 6,4 e 6,5 comprimidos/dia, respetivamente.
Avaliação FuncionalQuanto ao grau de dependência, observou-se através do Índice de Barthel, que a média dos valores são de 86,96±18,43 nas mulheres e 85,00±16,96 nos homens, ou seja, em média os idosos desta amostra são considerados Ligeiramente Dependentes, para ambos os sexos. Na amostra 73% (n=27) dos inquiridos apresentavam-se Totalmente Independentes para as suas atividades de vida diárias e os outros 27% (n=10) apresentaram algum grau de dependência. Dentro destes, 18,9% (n=7) eram Ligeiramente Dependentes, 5,4% (n=7) estavam Moderadamente Dependentes e 2,7% (n=1) eram Totalmente Dependentes.
Constatou-se que quanto mais independentes forem os idosos mais altos serão os valores de MNA, existindo assim uma correlação fraca (r=0,309) com um erro de ± 6%. Não se verificou correlação estatisticamente significativa com os valores de IMC, nem relação estatisticamente significativa entre o Índice de Barthel e os valores de IMC e de MNA. Quanto aos valores obtidos na força de preensão palmar (FPP) no grupo de idosos verificou-se que apenas 2,7% (n=1) não apresentou valores de presença de fraqueza muscular.
Este valor apenas foi atingido em um dos braços. Foi possível verificar que há correlação entre os valores de FPP e o risco nutricional, correlação moderada (r=0,458, p=0,004) na mão direita e correlação fraca (r=0,398, p=0,015) na mão esquerda, ou seja, quanto mais nutrido estiver o

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
LOUREIRO H. ET AL.ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
30
utente mais força terá em ambos os braços. Verificou-se que a média dos valores de FPP no grupo masculino, em ambos os lados, foram superiores em relação ao das mulheres (FPPd=12,78KgF e FPPe=12,00KgF versus FPPd=11,57KgF e FPPe=10,71KgF, respetivamente).
Avaliação da Ingestão AlimentarDe acordo com o Inquérito das 24 horas e o Questionário de Frequência Alimentar (QFA), os idosos apresentaram consumo alimentar com média do Valor Energético Total de 1837,4±208,27 Kcal/dia, sendo em média 50,4% deste valor proveniente dos hidratos de carbono (HC), 17,6% das proteínas (P) e 32% dos lípidos (L). O valor médio de fibra ingerida foi de 25,84±6,93g e de ingestão de proteína de 1,31g/Kg de peso. Nenhum dos inquiridos tinha um valor de ingestão alimentar abaixo do valor do seu metabolismo basal.
Nas mulheres as médias de consumo foram de 1809,93±212,95 Kcal/dia, onde 50,1% deste valor é proveniente dos HC, 17,2% proveniente das P, e 32,7% dos L. O valor médio de fibra ingerida foi de 26,29±7,62g e de ingestão proteica de 1,28g/Kg de peso.
Nos homens as médias de consumo foram de 1923,00±176,79 Kcal/dia, onde 49,1% deste valor é proveniente dos HC, 18% proveniente das P, e 31,5% dos L. O valor médio de fibra ingerida foi de 24,44±4,19g e de ingestão proteica de 1,41g/Kg de peso.
DISCUSSÃO
A população analisada constitui-se, na sua maioria, por idosos do sexo feminino, 75,7%, assim como se verifica na população portuguesa, que apresenta uma predominância de 58% de mulheres face aos 42% de homens (18). A média de idades deste estudo foi de 81 anos, sendo o sexo feminino o que apresentava idade mais avançada.
A partir do MNA diagnosticou-se, entre os 37 participantes do estudo, 4 idosos desnutridos (10,9%) e 16 em risco de desnutrição (43,2%), proporção esta inferior à incidênciade 29,7% de desnutridos, observada por Félix e colaboradores (2009) (7), em estudo utilizando o mesmo instrumento com população idosa (n=37) residente numa instituição no Brasil. Obtevese uma pontuação média, neste estudo, de 22,56, sugerindo assim um estado em média de Risco de Desnutrição. Não se encontraram diferenças estatisticamente significativas entre o género e a idade e este instrumento de avaliação.
Para avaliação do estado nutricional encontrou-se uma média de IMC de 27,4Kg/m2, ponto de corte classificado como Nutrido por Lipschitz. Sendo encontrada concordância com orelatado em outros estudos para idosos da mesma faixa etária em diferentes países. O estudo de Souza e colaboradores (2013) encontraram um IMC médio de 25,5Kg/m2, para os mesmos pontos de corte deste estudo.5 Enquanto Rauen e colaboradores (2008) encontraram um IMC médio de 23,4Kg/m2 para um ponto de corte da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), considerado como um peso normal.6 No estudo de Volpini e colaboradores (2013) o IMC médio encontrado foi de 24,2Kg/m2, considerando a amostra com peso normal para pontos de corte propostos por Nutrition Screening Initiative (8).
Encontrou-se uma divergência de parâmetros de referência dos valores de IMC para classificar o estado nutricional em idosos isto porque existem poucos estudos para valores de referência específicos para esta classe etária. No entanto, há críticas sobre o uso dos mesmos pontos de corte para classificar obesidade em adultos e idosos, pois mudanças na composição corporal, associadas ao processo de envelhecimento, devem ser consideradas.
Uma vez que o IMC e o peso corporal aumentam com a idade, enquanto a altura e a massa magra diminuem,

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 20 - 34.
31
no presente estudo foram utilizados os pontos de corte propostos por Lipschitz, identificando 32,4% dos idosos com baixo peso (desnutridos + risco de desnutrição), proporção superior às encontradas por Souza e colaboradores (2013), com a mesma classificação, de aproximadamente 16%.5 O mesmo acontece no estudo de Silveira e colaboradores (2014) com uma proporção de 15,8%, para os mesmos pontos de corte, mas para um grupo na maioria compreendido em idades dos 60 aos 69 anos.27 Por sua vez Sousa e colaboradores (2013), encontrou um aumento de população com esta classificação (58,8%) (10). A população deste estudo foi constituída por indivíduos com média de idade de 82 anos, o que justifica a alta frequência de baixo peso, o que implica que os idosos com mais idade serão mais vulneráveis à desnutrição (7).
Assim como o baixo peso, a ocorrência de um excesso de peso tem merecido especial atenção por se refletir num risco superior de doenças crónicas, dentro das mais frequentes, as doenças cardiovasculares, a diabetes mellitus e a hipertensão. Neste estudo de acordo com o IMC, foram identificados 24,3% de idosos com obesidade, em 28,6% das mulheres e em 11,1% dos homens. Ou seja, a obesidade foi mais frequente em mulheres do que nos homens, embora não tenham sido encontradas diferenças estatisticamente significativas entre o sexo e as diferentes classificações do estado nutricional. No estudo de Félix e colaboradores (2009) verificou-se o contrário, 33,3% dos homens e 22,7% das mulheres apresentaram sobrepeso eobesidade, num total de 16,7% da população (7).
A fim de determinar quais dos métodos de avaliação (IMC ou MNA) são capazes de identificar precocemente a desnutrição nos idosos, realizou-se uma comparação entre a presença ou não de desnutrição determinada pelo IMC e pelo MNA. O IMC identificou desnutrição em 8,1% (n=3) dos idosos, enquanto a MNA identificou 10,9% (n=4) de desnutrição.
O valor médio de Perímetro do Braço foi de 29,08cm nas mulheres e 28,63cm nos homens. Valores superiores de PB encontrado nas mulheres tal como no estudo de Moreira e colaboradores (2009) (16). No estudo de Volpini e colaboradores (2013) os valores de PB foram maiores nos homens com 27,7cm e as mulheres com 26,4cm (8).
Dos 37 utentes do estudo apenas 12 apresentaram valores adequados de circunferência da perna, indicando desta forma que 67,6% desta amostra tem uma depleção de massa muscular. O sexo masculino apresentou um valor em média superior ao das mulheres. Os valores encontrados em média foram semelhantes aos encontrados noutros estudos6,8,16, embora que nos estudos de Moreira e colaboradores (2009)16 e Rauen e colaboradores (2008)6 encontraram valores de CP maiores nas mulheres comparando com os homens.
A avaliação dos idosos pela medida do perímetro abdominal diagnosticou, de forma alarmante, um risco para doenças cardiovasculares em todos os idosos. A média dos valores foi superior nos homens com 102cm em oposto aos 88cm no sexo feminino. Sendo encontrada concordância com outros estudos. 5,7 Constatou-se diferença entre o PA e o IMC, o que sugere que os indivíduos com um risco mais elevado de doenças cardiovasculares expressam um valor de IMC significativo superior comparativamente ao grupo de idosos com risco mais baixo. Foi constatado que os utentes com maior PA também tinham uma maior predisposição a doenças cardiovasculares.
As doenças crónicas mais prevalentes foram a hipertensão arterial, diabetes, dislipidémias e demência, indo de encontro ao constatado em outros estudos.5,8,10,13,17 Em comparação entre o género, verificou-se que as mulheres têm em média menos doenças que os homens. Os inquiridos com estado nutricional Desnutrido têm tendência a ter um maior número de Doenças Crónicas e os

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
LOUREIRO H. ET AL.ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
32
inquiridos com diabetes na sua maioria eram classificados como obesos.
Quanto à quantidade de medicamentos utilizados, não houve diferença entre o grupo feminino e masculino, sendo observadas as médias de 6,14±2,43 e 6,67±2,83 medicamentos/dia, respetivamente. No estudo de Félix e colaboradores (2009) (7) foram encontrados valores semelhantes, também sem diferenças entre os géneros. A prevalência de polifarmácia foi de cerca de 67,6% dos inquiridos e destaca-se que quanto maior o número de doenças crónicas, maior será o consumo de medicamentos. No estudo de Silveira e colaboradores (2014) (27) verifica-se uma prevalência de polifarmácia de 28%, valor substancialmente mais baixo que o encontrado neste estudo, embora essa amostra seja constituída por idosos com idades compreendidas entre os 60-69 anos. Alguns fatores podem contribuir para o consumo elevado de medicamentos, como a baixa frequência de uso de tratamentos não farmacológicos para tratamento de doenças (por exemplo a dietoterapia) e o fácil acesso a medicações (27). No total da amostra verifica-se um consumo maior de medicamentos no grupo de indivíduos nutridos em comparação com o grupo de idosos desnutridos, facto constatado também no estudo referido anteriormente (27).
Os participantes do grupo masculino apresentaram grau de dependência mais comprometido frente ao feminino. A idade avançada pode ser um dos fatores que justificam os resultados obtidos (8). Os resultados também reafirmam o fato de que a institucionalização está, na maioria das vezes, associada a uma maior dependência física e cognitiva (10). Constatou-se que os utentes classificados como nutridos apresentam maior independência face aos desnutridos.
Em relação ao aporte energético dos idosos institucionalizados do presente estudo, observou-se uma variação entre 1428 Kcal/dia e 2399 Kcal/dia. Sendo verificado em todos os inquiridos um consumo energético
superior ao seu metabolismo basal. Observou-se que a ingestão média de hidratos de carbono (50,4%), e lípidos (32%) estão dentro das recomendações estabelecidas pelas RDI’s para população idosa, 45% a 65% e 20% a 35%, respetivamente. O valor médio obtido de ingestão proteica (1,31g/Kg de peso) foi superior às RDAs definidas para a população acima dos 50 anos12 no entanto está entre os valores preconizados para atrasar o desenvolvimento da sarcopenia (31).
CONCLUSÃO
O estado nutricional adequado beneficia tanto o indivíduo idoso como a sociedade, já que a saúde nutricional associa-se ao menor grau de dependência e menor tempo de convalescença, o que diminui o uso de recursos da saúde. A avaliação nutricional de pacientes idosos deve ser realizada rotineiramente na prática clínica, uma vez que esses indivíduos representam uma população vulnerável a distúrbios nutricionais, resultado de alterações fisiológicas, psicossociais, económicas e comportamentais.
Os instrumentos descritos e discutidos são essenciais para o diagnóstico do estado nutricional do idoso, e agrupá-los e interpretá-los de forma conjunta ainda é um grande desafio para a ciência da nutrição. Constatou-se a relevância dos métodos antropométricos como um instrumento fundamental para auxiliar a avaliação do estado nutricional de idosos. A classificação do estado nutricional de idosos deve considerar pontos de corte superiores aos adotados para os adultos em geral, devido à maior suscetibilidade que os mesmos apresentam às doenças.
Interessa destacar que o presente estudo teve em consideração uma população de número restrito e de apenas uma instituição, que impediu que fossem realizadas análises estatísticas específicas com estratificação da amostra.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 20 - 34.
33
Porém, ressalta-se a contribuição da presente investigação para exemplificação do perfil de alterações nutricionais que têm ocorrido na população idosa portuguesa.
REFERÊNCIAS
1. WHO Expert Commitee on Physical Status. The use and interpretation of antropometry physical status: the use and interpretation of antropometry. Report of a Who Expert Commitee Switzerland: WHO, 1995.
2. SIMÕES, António (2006). A Nova Velhice – Um novo público a educar. 1ª Edição. Porto: Editora Âmbar. ISBN 9789724310596
3. Guedes, Ana Carolina, Gama, Carolina Rebelo e Tiussi, Adriani Cristini. Avaliação nutricional subjetiva do idoso: AvaliaçãoSubjetiva Global (ASG) versus Mini Avaliação Nutricional (MAN). Com. Ciências Saúde., 2008, Vols. 19(4):377-384.
4. Fonseca, Ana Catarina. Estado Nutricional - Relação com Actividade Física e Doenças Crónicas em Idosos Institucionalizados. Covilhã: Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina, 2009.
5. Raphaela Souza, Juliana Schimitt de Fraga, Catarina Bertaso Andreatta Gottschall, Fernanda Michielin Busnello, Estela Iraci Rabito. Avaliação antropométrica em idosos: estimativas de peso e altura e concordância entre classificações de IMC. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., 2013, Vols. 16(1):81-90.
6. Michelle Soares RAUEN, Emília Addison Machado MOREIRA, Maria Cristina Marino CALVO, Adriana Soares LOBO. Avaliação do estado nutricional de idosos institucionalizados. Rev. Nutr., Campinas,, 2008, Vols. 21(3):303-310.
7. Michelle Soares RAUEN, Emília Addison Machado MOREIRA, Maria Cristina Marino CALVO, Adriana Soares LOBO. Avaliação do estado nutricional de idosos institucionalizados. Rev. Nutr., Campinas,, 2008, Vols. 21(3):303-310.
8. Milena Maffei Volpini, Vera Silvia Frangella. Avaliação
nutricional de idosos institucionalizados. Einstein, 2013, Vols. 11(1):32-40.
9. Karina Pfrimer, Mariana Marques Messias, Eduardo Ferriolli, Márcia Saladini Vieira Salles, Luiz Carlos, Roma Junior, Arlindo Saran Netto, Marcus Antônio Zanetti, Helio Vannucchi. Avaliação e acompanhamento nutricional em idosos de uma instituição de longa permanência. ARCHIVOS LATINOAMERICANOS DE NUTRICIÓN, 2015, Vol. Vol. 65 N° 2.
10. Kamilla Sousa, Laura Mesquita, Leandro Pereira, Catarina Azeredo. Baixo peso e dependência funcional em idosos institucionalizados de Uberlândia (MG), Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, 2014, Vols. 19(8):3513-3520.
11. NARA LACERDA, SILVANA SANTOS. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE IDOSOS: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO. Rev. RENE. Fortaleza, 2007, Vols. v. 8, n. 1, p. 60-70.
12. Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL. Krause: Alimentos, nutrição e Dietoterapia. 13ª ed. Elsevier; 2012
13. Maíra Malta, Silvia Papini, José Corrente. Avaliação da alimentação de idosos de município paulista- aplicação do Índice de Alimentação Saudável. Ciência & Saúde Coletiva, 2013, Vols. 18(2):377-384.
14. Joaquim Passos, Carlos Sequeira, Lia Fernandes. Focos de Enfermagem em pessoas mais velhas com problemas de saúde mental. Revista de Enfermagem Referência, 2014, Vols. Série IV - n.° 2- pp.81-91.
15. Lucas Ferreira, Tais Cochito, Flaviana Caíres, Laís Marcondes, Paulo Saad. Capacidade funcional de idosos institucionalizados com e sem doença de Alzheimer. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., Rio de Janeiro, 2014, Vols. 17(3):567-573.
16. Anderson Moreira, Humberto Nicastro, Renata Cordeiro, Patrícia Coimbra, Vera Frangella. Composição corporal de idosos segundo a antropometria. REV. BRAS. GERIATR. GERONTOL., 2009, Vols. 12(2):201-213.

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
LOUREIRO H. ET AL.ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
34
17. Christiane Leite-Cavalcanti, Maria Rodrigues-Gonçalves, Luiza Rios-Asciutti, Alessandro Leite-Cavalcanti. Prevalência de doenças crônicas e estado nutricional em um grupo de idosos brasileiros. Rev. salud pública. , 2009, Vols. 11 (6): 865-877.
18. INE - Instituto Nacional de Estatística. População residente em Portugal com tendência para diminuição e envelhecimento. Destaque: Dia Mundial da População 10 (2014).
19. Kondrup J, Allison S, Elia M, Vellas B, Plauth M. ESPEN guidelines for nutrition screening 2002. Clinical nutrition. 2003; 22(4):415-21
20. Lipschitz DA. Screening for nutritional status in the elderly. Prim Care. 1994; 21:55-67.
21. Loureiro, M. H. Validação do Mini Nutricional Assessement Em Idosos. (Universidade de Coimbra, 2008).
22. Mahoney FI, Barthel D. “Functional evaluation: The Barthel Index.” Maryland State Medical Journal 1965;14:56-61
23. Sequeira, C. (2007). Cuidar de idosos dependentes. Coimbra: Quarteto Editora.
24. World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemia. Geneve:WHO; 1997.
25. Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, Boirie Y, Cederholm T, Landi F et al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: Report of the European Working Group on Sarcopenia in Older People. Age Ageing. 2010;39(4):412-23.
26. Camina-Martin MA, de Mateo-Silleras B, Malafarina V, et al. Nutritional status assessment in
geriatrics: Consensus declaration by the Spanish society of geriatrics and gerontology nutrition work group. Maturitas 2015;81(3):414-419. doi:10.1016/j.maturitas.2015.04.018.
27. Erika Aparecida Silveira, Luana Dalastra, Valéria Pagotto. Polifarmácia, doenças crônicas e marcadores nutricionais em idosos. REV BRAS EPIDEMIOL , OUT-DEZ 2014, Vols. 17(4): 818-829.
28. Johanna Jyrkka, Jaakko Mursub, Hannes Enlunda, Eija Lonnroos. Polypharmacy and nutritional status in elderly people. Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins, 2012, Vols. Volume 15, Number 1.
29. Johanna Jyrkka, Hannes Enlund, Piia Lavikainen, Raimo Sulkava, Sirpa Hartikainen. Association of polypharmacy with nutritional status,functional ability and cognitive capacity over a three-year period in an elderly population. Pharmacoepidemiology and drug safety , 2011, Vols. 20: 514–522.
30. Goodman, Richard A., et al., et al. Defining and Measuring Chronic Conditions:Imperatives for Research, Policy, Program, and Practice. Preventing Chronic Disease, 2013, Vols. Volume 10, Page 1 of 16.
31. Bauer, J. et al. Evidence-based recommendations for optimal dietary protein intake in older people: A position paper from the prot-age study group. J. Am. Med. Dir. Assoc, 2013. 14, 542–559.
Correo Autor: [email protected]
Fecha de Aceptación: 23 de Marzo del 2017 Fecha de Publicación: 31 de Mayo del 2017
ACEPTACIÓN Y CORRESPONDENCIA

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 35 - 41.
35
DETERMINACIÓN DE NIVELES DIAGNÓSTICOS DE REFERENCIA PARA EXÁMENES DE TOMOGRAFÍA
COMPUTADA CON OPTIMIZACION DE DOSISHUGO ARREY1.
INTRODUCCIÓN
La tomografía computada junto con la radiología intervencionista es una de las técnicas imagenológicas con fuentes de rayos X que en la actualidad conforman las más altas dosis de radiación a pacientes, contribuyendo con más del 34% de la dosis colectiva de los exámenes en radiodiagnóstico a nivel mundial (1). Con el fin de mantener en perfecto y absoluto equilibrio la relación dosis - calidad de imagen se hace extremadamente necesaria la optimización tanto de las dosis emitidas en
cada una de las exploraciones así como la estandarización de protocolos y herramientas de mejoramiento de imágenes.Los niveles diagnósticos de referencia (DRL siglas en ingles de Diagnostic Reference Level) constituyen una herramienta a disposición de los profesionales del área de la imagenología cuyo función es optimizar los procedimientos y las condiciones de irradiación de los pacientes a fin de lograr los objetivos propuestos para un correcto diagnostico manifestado por un adecuado nivel
Determination of diagnostic reference levels for examens of computed tomography with dose optimization
1 Servicio de imagenología del centro médico Servimedica de la ciudad de San Felipe, Chile.
RESUMEN La tomografía computada (TC) hoy en día representa una de las técnicas imagenológicas en radiodiagnóstico con mayor entrega de dosis al paciente, donde los niveles diagnósticos de referencia (DRL) son la principal herramienta de optimización dosimétrica relacionada con la calidad diagnóstica de las imágenes. El objetivo de este estudio fue establecer DRL para exámenes de TC con una reducción de un 25% del eff.mAs sobre los protocolos estándares establecidos por la guía A40 de Siemens. Se analizaron 169 pacientes sometidos a exámenes de cerebro, columna, abdomen, tórax y pielotac, determinando la calidad diagnóstica de las exploraciones por medio del nivel de ruido presente en las imágenes. Se utilizaron como herramientas de medición, la desviación estándar (DS) de las zonas de interés (ROI) y un criterio de aceptación visual. Se corrigió el nivel de ruido mediante filtrado de bajo contraste y se compararon los resultados con las imágenes a dosis completa. Se determinaron las magnitudes dosimétricas de índice de dosis volumétrico en tomografía computada (CTDIvol), producto dosis longitudinal (DLP) y dosis efectiva (E) para cada zona evaluada y se compararon con estudios internacionales. El uso de filtros post-proceso logró una mejora considerable en la calidad de las imágenes tanto a través de la medición de DS como el criterio de aceptación visual. Los CTDIvol y DLP obtenidos en el presente estudio, pueden ser considerados DRL válidos para determinar la calidad diagnóstica de las imágenes.
Palabras Claves: Tomografía computarizada multidetectora, dosificación de radiación, protección contra las radiaciones, mejora de la imagen.
ABSTRACTComputed tomography (CT) today represents one of the imaging techniques in diagnostic radiology with highest dose delivery to the patient, where diagnostic reference levels (DRL) are the main tool of dosimetric optimization related quality diagnostic images. The aim of this study was to establish DRLs for CT examinations with a reduction of 25% eff.mAs on standard protocols established by the Siemens A40 guide. We analyzed 169 patients examined at brain, spine, abdomen, thorax and pielotac, and determined the quality of the scans diagnosed through the level of noise present in images. Were used as measuring tools, the standard deviation (SD) in areas of interest (ROI) and a visual acceptance criteria. The noise was corrected by filtering low contrast and the results were compared with the images at full dose. Dosimetric quantities were determined from, computed tomography dose index (CTDIvol), longitudinal dose product (DLP) and effective dose (E) for each area evaluated and compared with international studies. The use of post-processing filter achieving a considerable improvement in the quality of the images through measuring DS as the visual acceptance criterion. The CTDIvol and DLP obtained in this study can be considered valid DRL to determine the diagnostic quality of images.
Key words: Multidetector computed tomography, radiation dosage, radiation protection, image enhancement.

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
ARREY H.ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
36
de calidad diagnostica de las imágenes (2).
Las magnitudes dosimétricas en tomografía computada que influyen en la determinación de estos niveles de referencia, se emplea principalmente el CTDIvol y el DLP, los cuales además de servir como indicadores dosimétricos, permiten estimar la dosis efectiva para cada una de las exploraciones evaluadas (3). En este contexto el objetivo de este estudio fue determinar DRL para protocolos exploratorios de rutina con optimización de dosis mediante tomografía computada de 4 canales, mejorando la calidad de las imágenes mediante el uso de filtros de bajo contraste.
MATERIAL Y MÉTODOS
El presente estudio tiene un diseño de corte transversal. Se seleccionaron 169 pacientes sometidos a tomografía computada de Cerebro, Columna Lumbosacra, Abdomen, Pielotac y Tórax durante un semestre en el servicio de imagenología del Centro Médico Servimedica de la ciudad de San Felipe, Chile. Los criterios de inclusión para esta selección fueron individuos de ambos sexos con edades entre 16 y 99 años y con un índice de masa corporal (IMC) entre delgadez aceptable y obeso tipo I.
Se utilizo un tomógrafo multicorte de 4 canales Siemens modelo Sensation 4, en el cual se definieron los protocolos para cada una de las exploraciones a evaluar. La optimización de la dosis se basó en una reducción de un 25% del miliampere segundo efectivo (Eff.mAs) para cada uno de estos protocolos, tomando como referencia los recomendados en la guía A40 establecida por el fabricante del equipo (4).
Para determinar el nivel de calidad diagnostica de las imágenes se utilizó un criterio objetivo y otro subjetivo. El
primero se basó en el nivel de ruido presente en mediciones hechas en zonas anatómicas homogéneas para cada exploración. Para este efecto se utilizó la herramienta región de interés (ROI), con la cual es posible obtener de una zona determinada de la imagen los valores de unidades Housnfield (UH) mínimos y máximos, la media, el tamaño de la región medida y la desviación estándar, esta ultima representa el ruido presente en la imagen o las fluctuaciones de la señal (UH) de un punto a otro para una zona uniforme (5, 6). Las zonas de medición homogénea para cada exploración fueron:
• Cerebro: Región subcortical frontal derecha. • Columna Lumbosacra: Musculo dorsal largo.• Abdomen: Segmento VI del lóbulo hepático derecho.• Pielotac: Segmento V del lóbulo hepático derecho.• Tórax: Arteria aorta ascendente.
La valoración subjetiva se basó en el nivel de aceptación visual de las imágenes y fue realizado por dos médicos radiólogos del centro médico, encargados de los informes radiológicos, para lo cual se creó una escala de aceptación visual de 5 puntos relacionando la cantidad de energía utilizada con el nivel de calidad diagnóstica de las imágenes. Esta escala se creó mediante un fantoma de homogeneidad de polimetilmetacrilato (PMMA), utilizado en las pruebas de control de calidad para tomografía computada (7), y fueron obtenidas de acuerdo a las siguientes cantidades de Eff.mAs (Figura 1);
• Nivel 1 50 Eff.mAs • Nivel 2 100 Eff.mAs • Nivel 3 150 Eff.mAs • Nivel 4 200 Eff.mAs • Nivel 5 250 Eff.mAs
Con el fin de compensar el nivel de ruido y mejorar la calidad diagnostica de las imágenes obtenidas con los

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 35 - 41.
37
protocolos a dosis reducida, a todas las imágenes se les aplicó un filtrado de bajo contraste basado en 4 niveles de filtros disponible en el equipo. Los resultados fueron comparados con las imágenes obtenidas a dosis completa determinando el nivel de ruido presente es las imágenes post procesadas así como el nivel de aceptación visual alcanzado.
Una vez finalizada la etapa de filtración de imágenes, se procedió al cálculo de las magnitudes dosimétricas de CTDIvol, DLP y E, tanto para las imágenes a dosis completa, las reducidas y las reducidas con filtrado.
Los datos recolectados fueron ingresados a una planilla Excel y se analizaron mediante el uso análisis estadístico de tipo descriptivo cuantitativo, para lo cual se utilizó el software computacional G-Stat versión 2.0. La estadística descriptiva se realizó a través de mediana, DS, frecuencia, intervalos de confianza y porcentaje.
RESULTADOS
El análisis estadístico para la mediana de las UH del protocolo a dosis completa, con reducción de dosis y con uso de filtración de bajo contraste para todas las áreas anatómicas evaluadas, arrojó valores similares para cada medición en todas las exploraciones. (Tabla 1).
Tabla 1. Análisis estadístico para la mediana de las UH, a dosis completa, con reducción de dosis y uso de filtración de bajo contraste.
Zona anatómica
UH Protocolo normal
(Me de la DS)
UH Protocolo reducido
(Me de la DS)
UH Protocolo reducido/filtro(Me de la DS)
Cerebro 14,5 14,1 13,4
CLS 48,6 49,4 49,6
Abdomen 51,8 52,1 53,1
Pielotac 49,4 51,7 52,1
Tórax 33,1 34,3 33,2
Figura 1: La imagen de la izquierda muestra el nivel 1 de aceptación imagenológica obtenida con 50 Eff.mAs y la imagen de la derecha muestra el nivel 5 de aceptación imagenológica con 260 Eff.mAs.

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
ARREY H.ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
38
La determinación del ruido cuántico medido mediante calculo de DS del ROI de las imágenes, aumentó entre 11% y 16,5% aproximadamente para las exploraciones evaluadas. (Tabla 2).
Tabla 2. Determinación del ruido cuántico mediante calculo de DS del ROI .
Zona anatómica
DS ROI Protocolo
normal(Me)
DS ROI ProtocoloReducido
(Me)
% Aumento de Ruido (DS)
Cerebro 14,5 14,1 13,4
CLS 48,6 49,4 49,6
Abdomen 51,8 52,1 53,1
Pielotac 49,4 51,7 52,1
Tórax 33,1 34,3 33,2 Tabla 4. Los valores de CTDIvol .
Zona anatómica
CTDIvol (mGy)Protocolo
normal
CTDIvol (mGy)Protocolo reducido % Diferencia
Cerebro 62,40 48,00 23,1
CLS 29,70 22,57 24,0
Abdomen 14,85 9,50 36,0
Pielotac 14,85 9,48 36,2
Tórax 8,10 5,32 34,0
Tabla 3. Valores de DS del ROI (ruido).
Zona anatómicaDS ROI Protocolo
normal(Me)
DS ROI ProtocoloReducido / Filtrado
(Me)
Cerebro 3,6 3,4
CLS 7,0 6,2
Abdomen 12,4 10,8
Pielotac 14,2 11,6
Tórax 9,6 9,7
El uso post proceso de filtros de bajo contraste para las imágenes con reducción de dosis, mostró valores de DS del ROI (ruido) relativamente iguales e incluso menores que las imágenes obtenidas a dosis completa (Tabla 3).
La Figura 2 muestra imágenes de cortes obtenidos a dosis completa, reducción de Eff.mAs y uso de filtrado de bajo contraste.
Figura 2: La imagen de la izquierda muestra una imagen de cerebro realizada con dosis completa, la del centro con dosis reducida y la de la derecha la misma imagen a dosis reducida con adición de filtrado de bajo contraste..
Los valores de CTDIvol para protocolos de dosis reducida con uso de filtrado, arrojaron reducciones de dosis en un rango de entre 23% y 36%, en comparación con las exploraciones a dosis completa (Tabla 4).

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 35 - 41.
39
Figura 3: Gráfico de comparación dosimétrica para protocolo con dosis completa (sin optimizar) y con reducción de dosis (optimizado).
Los valores obtenidos de DLP y E arrojaron valores directamente proporcional a los valores de CTDIvol obtenidos en el cuadro anterior ya que estos parámetros dosimétricos están estrechamente relacionados con el índice de dosis volumétrico respecto a la longitud de escaneo para cada exploración, así como con los factores de conversión utilizados para el cálculo de dosis efectiva expresada en mSv (8, 9).
Al evaluar la frecuencia y el porcentaje de las notas encontradas para cada zona se determinó que a nivel cerebral el 53,7% de las notas correspondió al nivel 5 y un 46,2 al nivel 4. A nivel de CLS el 42,3% estuvo en el nivel de aceptación 5 y el 53,8% en el nivel 4, sólo se reporto un caso con nivel 3 o aceptable. En el caso de la región abdominal el 89,6% representó una puntuación de 5 y sólo el 10,3% una puntuación 4; resultados similares se encontraron en el estudio de pielotac con un 75% con valoración 5 y 25% con puntuación 4, finalmente, para
tomografía de tórax se encontraron valores de 94,4% para el nivel de aceptación 5 y sólo 5,5% para un valor de 4.
DISCUSIÓN
Al optimizar los protocolos de exploración para las áreas de cerebro, columna lumbosacra, abdomen, pielotac y tórax con una reducción de un 25% del eff.mAs en los protocolos originales recomendados por la guía A40 de Siemens, se obtienen valores de CTDIvol reducidos entre un 23% y un 36 % de la dosis media entregada por corte, siendo estos valores más bajos que los encontrados en la mayoría de los estudios internacionales comparados (Figura 3).
Los niveles de ruido determinados por la desviación estándar calculada en las medidas de UH de las imágenes, no aumentan significativamente al utilizar los protocolos optimizados, siendo los filtros de bajo contraste la mejor

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
ARREY H.ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
40
herramienta de post proceso utilizada para disminuir estos niveles de ruido en las imágenes, en donde existe una relación directa entre las mejoras hechas mediante esta filtración y el aumento del nivel visual de aceptación imagenológica, lo cual permite obtener imágenes con una óptima calidad diagnóstica sin mayor aumento de la dosis (10).
Las magnitudes dosimétricas de DLP y E obtenidas con los protocolos optimizados, presentaron una reducción dosimétrica cercana a los porcentajes de reducción del CTDIvol en comparación con los protocolos a dosis completa. Tanto el DLP como la E para los protocolos optimizados de abdomen, pielotac y tórax, presentaron también valores considerablemente más bajos al ser comparados con estudios internacionales, mientras que para columna lumbosacra y cerebro, fueron ligeramente más elevados, a pesar de presentar valores de CTDIvol
menores, esto debido principalmente a la diferencia de criterio utilizado en las longitudes de escaneo para estas exploraciones.
La necesidad de un protocolo optimizado representa una tarea básica en la práctica diaria, siendo crucial establecer parámetros apropiados para asegurar la calidad de la imagen con la menor dosis posible. Los protocolos creados y recomendados por el fabricante del equipo tienden a asegurar un alto nivel de calidad en la imagen, pero normalmente estos protocolos se encuentran asociados a niveles energéticos más altos de lo necesario, de ahí la necesidad de optimizar los parámetros más determinantes en la entrega de dosis como lo es el eff.mAs, responsable en forma absoluta de la entrega de fotones por parte del tubo generador de rayos X.
En conclusión los valores de CTDIvol y DLP determinados en los protocolos optimizados para el presente estudio, representan indicadores de dosis válidos para ser considerados como DRL en cada una de las tomografías
evaluadas. Se hace necesario el uso de la filtración de bajo contraste para que estos niveles diagnósticos de referencia sean considerados como una herramienta de control de calidad para el diagnóstico por imagen en CT. (Tabla 5).
Tabla 5. Control de calidad para el diagnóstico por imagen en CT.
Región CTDIvol DLP E
Cerebro 48,00 725 1,7
CLS 22,57 378 6,3
Abdomen 9,50 257 3,9
PieloTAC 9,48 383 5,7
Tórax 5,32 187 3,1
REFERENCIAS
1. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation.Sources and effects of ionizing radiation. Medical radiation exposures, annex D. 2000 Report to the General Assembly with annexes. New York, NY: United Nations. 2000.
2. International Commission on Radiological Protection. 1990 recommendations of the International Commission on Radiological Protection. Publication 60. Annals of the ICRP 21 (1–3), Pergamon Press, Oxford. 1991.
3. Commission of the European Communities. 1999. European Guidelines on quality criteria for computed tomography, EUR 16262. Brussels: Office for Official Publications of the European Communities. Disponible en: http://www.drs.dk/guidelines/ct/quality/index.htm (Consultado el 01 de abril de 2017).
4. Siemens 2011. Application Guide Somaton Sensation 4. Disponible en: https://www.healthcare.siemens.cl/computed-tomography/ct-customer-information-portal/somatom-sensation-application-guides/somatom-sensation (Consultado el 01 de abril de 2017).
5. Boedeker K, Cooper V, McNitt-Gray M. Application of the noise power spectrum in modern diagnostic

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 35 - 41.
41
MDCT: part I. Measurement of noise power spectra and noise equivalent quanta. Phys. Med. Biol. 2007; 52: 4027–4046.
6. Perry S. 1993. The Physical Principles of Medical Imaging. Second edition. Disponible en: http://www.sprawls.org/ppmi2/IMGCHAR/. (Consultado el 01 de abril de 2017).
7. Real Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen los criterios de calidad en radiodiagnóstico. BOE de 29/12/1999.
8. Leitz W, Szendro G, Axelsson B. Computed Tomography Practice in Sweden -Quality Control, Techniques and Patient Dose. Radiat. Prot. Dosim. 1995; 57: 469-473.
9. Dieter H. CT Parameters that Influence the Radiation Dose In: Baert, A.L. Knauth M. Sartor K. Editions.
Radiation dose from adult and pediatric multidetector computed tomography. Munich: Springer; 2007. p. 51-56.
10. Christner J, Kofler J, McCollough C. Estimating Effective Dose for CT Using Dose–Length Product Compared With Using Organ Doses: Consequences of Adopting International Commission on Radiological Protection Publication 103 or Dual-Energy Scanning. AJR Am J Roentgenol. 2010;194: 881-889.
Correo Autor: [email protected]
Fecha de Aceptación: 10 de Enero del 2017 Fecha de Publicación: 31 de Mayo del 2017
ACEPTACIÓN Y CORRESPONDENCIA

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
RIBEIRO A. ET AL.
42
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
ESTUDO DO DESLOCAMENTO TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO EM TRABALHADORES TÊXTEIS
ANA RIBEIRO1, CARLA SILVA1
INTRODUÇÃO
A exposição ao ruído está omnipresente em muitos ambientes profissionais. As exposições ao ruído superiores a 85dB(A) são associadas a uma larga variedade de efeitos no sistema auditivo do Homem e efeitos gerais como agitação, cansaço, dores de cabeça, hipertensão, entre outros. Efeitos adversos que incluem a perda auditiva temporária a permanente, podem interferir com a comunicação do trabalhador assim como prejudicar
as suas capacidades como ouvir sinais de alarme ou a monitorização de equipamentos no local de trabalho, com consequentes efeitos como a exaustão, distracção, tensão mental, irritabilidade, aumento do stress, irritabilidade, decréscimo das habilidades do processamento temporal e distúrbios do sono (1, 2).
Em Portugal, segundo o Instituto Nacional de Estatística,
Study of the Temporary Threshold Shift in Textile Workers
1 Instituto Politécnico de Coimbra, ESTESC-Coimbra Health School, Audiologia, Portugal.
RESUMO O termo «ruído» é usado para descrever um som indesejável; é considerado um dos agentes mais nocivos encontrado no ambiente de trabalho afetando a vida do individuo no plano social, físico e psicológico. As consequências decorrentes da exposição ao ruído são várias. No que diz respeito à audição, o ruído propicia três efeitos: a Mudança Temporária do Limiar Auditivo, a Perda Auditiva Induzida Pelo Ruído (PAIR), e o Trauma Acústico. O objetivo desta investigação é determinar a influência do ruído na Mudança Temporária do Limiar Auditivo em trabalhadoras têxteis comparando para o efeito o resultado dos Limiares Auditivos e das Otoemissões Acústicas Transitórias antes e após a exposição ao ruído. Neste estudo participaram 31 trabalhadoras têxteis com idades compreendidas entre os 20 e 50 anos, que trabalham no sector têxtil há pelo menos 2 anos. Após análise dos resultados, foi possível verificar diferenças estatisticamente significativas entre os limiares auditivos da pré e pós-exposição, no Ouvido Direito e Esquerdo, exceto nas frequências de 8000Hz e 2000Hz, respetivamente. Relativamente às Otoemissões Acústicas Transitórias de Diagnóstico não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre a Pré e Pós-Exposição, embora se observe uma diminuição das amplitudes das mesmas após a exposição ao ruído. Face a estes resultados, torna-se importante a implementação obrigatória de Programas de Conservação Auditiva sempre que exista exposição ao ruído nos postos de trabalho, devendo ser tomadas medidas para reduzir os níveis de pressão sonora, de forma a proteger a saúde auditiva dos trabalhadores.
Palavras chave: Otoemissões acústicas transitórias de diagnóstico, audiograma tonal simples, mudança temporária do limiar auditivo, perda auditiva induzida pelo ruído.
ABSTRACTThe term «noise» is used to describe undesirable sounds. It is considered to be one of the most harmful factors found in the workplace, affecting the life of an individual in the social, physical and phychological field. The resulting consequences due to the exposure to undesirable sounds are diverse. With regard on hearing, noise provides 3 effects: the Temporary Threshold Shift (TTS), the Noise Induced Hearing Loss (NIHL) and the Acoustic Trauma. The goal of this investigation is to determinate the influence of noise in the Temporary Threshold Shift, comparinhg for such, the results of the Simple Tonal Audiometry and the Transient-Evoked Otoacoustic Emissions before and after the exposure to noise. 31 textile workers participated in this investigation. Aged between 20 and 50 years old, they have been working in textile manufacture for at least 2 years. After analyzing the results, it was possible to identify statistically significant differences between the Simple Tonal Audiometry, in pre and post-exposure, in the right and left ears, except in frequencies of 8000Hz and 2000Hz, respectively. Regarding the Transient-Evoked Otoacoustic Emissions, there was no statistically significant differences between pre and post-exposure, though it can be identified a decrease in its amplitude after the exposure to noise. Facing these results, it becomes importante the mandatory applications of Hearing Conservation Programs in workplaces where is exposure to harsh sounds, taking preventive measures to decrease the sound pressure levels, protecting the workers hearing health.
Key words: Transient‐evoked otoacoustic emissions, simple tonal audiometry temporary threshold shift, noise induced hearing loss, hearing conservation program.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 42 - 53.
43
estima-se que trabalhem no sector têxtil cerca de 40 707 trabalhadores, protegidos pela legislação portuguesa referente ao ruído ocupacional em ambientes industriais (3), que estabelece como valor limite de exposição diária de um trabalhador 87 dB(A). Se os riscos decursivos da exposição ao ruído não puderem ser prevenidos por outros meios, devem ser concedidos aos trabalhadores protetores auditivos individuais apropriados, o que infelizmente não acontece em muitos postos de trabalho.
O ruído, quando em alta intensidade e exposto de forma continuada pode causar alterações na estrutura do ouvido interno, afetando principalmente as células ciliadas externas (CCE), provocando inicialmente, uma falha na regulação iónica intracelular devido às alterações na membrana celular das CCE. Este processo leva ao aumento do número de lipossomas e à inflamação das células. Os cílios tornam-se mais flexíveis e desordenados, causando a apoptose das células (4, 5).
No que diz respeito aos efeitos auditivos provocados pelo ruído, estes podem ser: Trauma Acústico (causado por uma única exposição a um nível sonoro de intensidade elevada, que para além de atingir as estruturas do ouvido interno, por vezes pode provocar a destruição do Orgão de Corti, danos na cadeia ossicular e rutura da membrana timpânica); Mudança Temporária do Limiar Auditivo (redução do limiar auditivo após algumas horas de exposição a níveis sonoros intensos, tendendo a voltar ao normal 2 a 3 horas após cessação da exposição ao ruído); e Perda Auditiva Induzida Pelo Ruído (PAIR) (6 - 8).
A PAIR é a consequência de uma acumulação de exposições contínuas ou intermitentes ao ruído, que geralmente se desenvolve de um modo lento ao longo dos anos (9). Em geral, quanto maior o tempo de exposição, e/ou quanto maior o nível sonoro do ruído, maior é o impacto sobre a audição (10). A PAIR tem as seguintes características (9): É sempre sensorioneural, tipicamente bilateral e irreversível;
O seu principal sintoma é um ‘’entalhe’’ no Audiograma Tonal Simples (ATS) nas altas frequências de 3000, 4000 ou 6000 Hz, com recuperação aos 8000 Hz, o local exacto do entalhe depende de múltiplos fatores, incluído a frequência do ruído e a dimensão do canal auditivo externo; Os acufenos são um sintoma de alerta precoce da PAIR, a presença de uma TTS com presença ou não de acufenos é um indicador de risco de PAIR que ocorrerá se a exposição ao ruído continuar; No início da PAIR, os limiares auditivos médios às frequências de 500, 1000 e 2000 Hz são melhores que os limiares a 3000, 4000 e 6000 Hz, e o limiar a 8000 Hz é geralmente melhor do que a parte mais baixa do entalhe; O risco da PAIR é considerado baixo para exposições inferiores a 85dB (média ponderada para 8 horas de trabalho diário), aumentando significativamente com exposições de intensidades superiores a 85dB. A PAIR além de permanente é reabilitável, por meios terapêuticos individuais e em grupo, a partir da análise cuidadosa da avaliação audiológica do trabalhador; mas 100% evitável usando medidas de segurança (4).
São muitos e variados os critérios e as classificações existentes para a PAIR, sendo que todos eles consideram apenas os Limiares Auditivos por via aérea: o método Clínico de Goldman, o de Fowler, o de Pereira, Merluzzi, e Ferreira Júnior (11).
A análise dos Limiares Auditivos deve permitir ao Médico e ao Audiologista uma conduta de prevenção da perda auditiva induzida pelo ruído. Atualmente, existe uma necessidade de se criar uma padronização na classificação da PAIR em conjunto com a história clínica, exames e avaliações do Handicap Auditivo, para assim se ver esclarecido os verdadeiros danos que o ruído causa ao individuo (11).
Sempre que a exposição ao ruído nos postos de trabalho for suscetível de originar efeitos adversos, devem ser tomadas medidas para reduzir os níveis de pressão

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
RIBEIRO A. ET AL.
44
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
sonora, de forma a proteger os trabalhadores expostos, implementando um Programa de Conservação Auditiva (12).
A National Institute for Occupational Safety and Health(1998) (NIOSH) sugere que a estrutura de um PCA contenha, pelo menos, os seguintes pontos; Auditorias iniciais e anuais aos procedimentos utilizados; Avaliação do ruído ocupacional; Medidas de controlo técnico e administrativo das exposições ao ruído; Avaliação e monitorização da função auditiva dos trabalhadores; Utilização de proteção individual para exposições iguais ou superiores a 85 dB(A), independentemente da duração da exposição; Formação e motivação dos trabalhadores; Arquivo de registos.
Em Portugal, em apenas algumas indústrias encontramos um PCA devidamente estruturado, como descrito anteriormente. Apesar deste facto, há muitas entidades e empresas que manifestam preocupações para com este assunto. Além disso, por obrigação legal, muitas das empresas têm de cumprir alguns dos requisitos dos PCA, nomeadamente, a avaliação auditiva dos trabalhadores e a avaliação da exposição ao ruído ocupacional (12).
Os testes audiométricos devem ser realizados periodicamente entre os trabalhadores expostos. As normas da Occupational Safety and Health Administration (OSHA) exigem testes nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000, 4000 e 6000 Hz. A PAIR afecta principalmente as altas frequências (ou seja, 4000 e 6000 Hz), sendo que o seu diagnóstico precoce pode ajudar a evitar uma maior perda de audição e com consequente extensão da perda às frequências da fala - ou seja, 500, 1000, 2000 e 3000 Hz (13).
Por sua vez as Otoemissões Acústicas Evocadas (sons emitidos a partir de células ciliadas externas em resposta a um estímulo acústico, enviado para canal auditivo externo, onde são posteriormente captadas) particularmente as
otoemissões acústicas evocadas transitórias (TOEA) constituem uma ferramenta importante na avaliação auditiva em indivíduos expostos ao ruído. As TOEA deveriam ser aplicadas em programas de conservação auditiva para fins de detecção precoce de danos causados por exposições ocupacionais, uma vez que, nestes casos, as otoemissões acústicas transitórias de diagnóstico apresentam-se ausentes ou com amplitudes diminuídas (13 - 15). Em comparação com a audiometria tonal, as TOEA podem ser mais sensíveis na avaliação de alterações na cóclea, temporárias ou permanentes, causadas pela exposição ao ruído ou outros agentes ototóxicos. Alguns autores mostraram que, após dez minutos de exposição ao ruído, foi obtida uma correlação significativa entre os valores das TOEA e as mudanças temporárias no limiar auditivo (TTS). Uma diminuição significativa nas respostas das TOEA foi observada especialmente nas frequências mais altas, confirmando os efeitos do ruído na região basal cóclea (14).
O objetivo do presente estudo foi estudar a influência que o ruído tem na audição de trabalhadoras têxteis, para assim verificar se o ruído ao qual os trabalhadores estão expostos provoca uma mudança temporária do limiar auditivo. Pretende-se de igual modo, analisar uma possível relação entre a TTS e a PAIR.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo foi realizado nas instalações de uma confeção têxtil. A sua população foi constituída por 31 indivíduos com idades compreendidas entre os 20 e os 50 anos que trabalhem no sector têxtil há pelo menos 2 anos. São fatores de exclusão para este estudo a presença de alterações na otoscopia, alterações no ouvido externo e/ou médio, timpanograma diferente do Tipo A, a realização de alguma cirurgia otológica e a toma de qualquer tipo de

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 42 - 53.
45
medicação.
Os recursos técnicos utilizados nesta investigação foram: o otoscópio da marca Heine modelo Mini 2000, e respetivos espéculos, impedancímetro GSI 38 Auto Tymp, e respetivas olivas, o audiómetro Madsen modelo Midimate 622, os auscultadores TDH 39, o equipamento das otoemissões acústicas da marca Otodynamic e as suas respetivas olivas.
Tendo em conta o objetivo do estudo, foram colocadas as seguintes questões de investigação: Q1: Os Limiares Auditivos das trabalhadoras estão mais aumentados após a exposição ao ruído? Q2: As Otoemissões Acústicas Transitórias de Diagnóstico apresentam uma redução na amplitude de respostas após exposição ao ruído? Após a obtenção da autorização para a realização do estudo nas suas instalações da confeção têxtil, todas as funcionárias da mesma foram informadas devidamente sobre o estudo e dos procedimentos do mesmo, tendo sido entregue um termo de consentimento informado, livre e esclarecido. Seguidamente, foi distribuído um questionário, para perceber se estavam reunidos os critérios necessários para poderem integrar a amostra do estudo, assim como conhecer alguma possível sintomatologia dos indivíduos. Posteriormente, foram marcados todos os indivíduos de modo a que o mesmo individuo realizasse os exames antes e após a jornada de trabalho, com pelo menos 13 horas de descanso entre a realização dos exames da pré-exposição e a última exposição ao ruído.
Após a organização das trabalhadoras têxteis, foram realizados os exames audiológicos. Efetuou-se primeiramente uma Otoscopia e Timpanometria. Procedeu-se de seguida à realização do Audiograma Tonal Simples. Os critérios de normalidade considerados foram os do BIAP, norma 02. Procedeu-se à pesquisa dos limiares
auditivos na via áerea nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000Hz, de 1 em 1 dB. Por via óssea foram testadas as frequências de 500 e 1000Hz, pelo mesmo processo.
De seguida, foram realizadas as Otoemissões Acústicas Evocadas Transitórias de Diagnóstico. Na realização deste exame, foram testadas as frequências de 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 e 6000 Hz. Como parâmetros de estimulação foi usado, o Click como tipo de estímulo, com 200 passagens a uma intensidade entre os 80 a 85 dB SPL. Apenas as TOEA com uma reprodutibilidade de aproximadamente 90% foram consideradas para o estudo. Esta avaliação era repetida mais tarde, após aproximadamente 8 horas de exposição ao ruído.
MÉTODOS ESTATÍSTICOS
A análise estatística dos resultados da recolha da amostra será feita através da base de dados Statistical Package for the Social Sciences versão 23 (SPSS), recorrendo aos vários testes estatísticos.
O teste utilizado para a análise dos resultados foram: o teste t-Student para amostras emparelhadas. Neste teste, para se considerar que existam diferenças estatisticamente significativas, o valor significativo (p) tem de ser inferior a 0,05.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Características gerais da amostra Segundo os dados recolhidos a média das idades dos participantes é de 36 anos, sendo a idade mínima de 20 anos e a idade máxima de 50 anos. É possível verificar que as trabalhadoras estão nesta profissão em média há 168,10 meses consecutivos, e na empresa em média há

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
RIBEIRO A. ET AL.
46
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
51,45 meses consecutivos. Em média, as trabalhadoras trabalham neste sector no mínimo há 24 meses consecutivos e no máximo há 384 meses.
As trabalhadoras questionadas sobre a audição, 90,3% responderam que ouvem bem, sendo que 22,6% das funcionárias sentem acufenos. Questionadas sobre a dificuldade em compreender o que os outros dizem e se sentem desconforto quando expostas a sons elevados, responderam que sim 22,6% e 45,2%, respetivamente.
Quando questionadas sobre o que sentiam quando expostas ao ruído, 19,% responderam dor de Cabeça. Das 31 trabalhadoras, 9 respoderam não sentir qualquer tipo de sintomas, e ainda 12 trabalhadoras referiram sentir stress entre os demais sintomas.
Análise Estatística dos ResultadosRelativamente à análise estatística dos resultados, inicialmente comparou-se as médias dos limiares auditivos de cada ouvido, separadamente, e para ambos os momentos de teste (pré e pós-exposição ao ruído). Na Tabela 1, é possível observar as médias dos limiares auditivos do Ouvido Direito, na Pré e Pós-Exposição ao Ruído. Verifica-se que em todas frequências testadas ocorre um aumento dos limiares auditivos na Pós-Exposição, observando-se que é na frequência de 500Hz que ocorre um maior aumento (4,4517dB).
Nesta tabela é possível verificar, também, que é na frequência de 6000 Hz onde a diferença entre os limiares na Pré e Pós-Exposição é mais elevada; e que é na frequência de 8000Hz onde ocorre a menor variação do limiar auditivo.
Ainda da Tabela 1, é possível averiguar que no Ouvido Direito existem diferenças estatisticamente significativas entre a média dos limiares de todas as frequências na pré e pós exposição ao ruído, uma vez que o valor p ≤ 0,05,
exceto na frequência de 8000Hz.
Ao comparar-se a médias dos limiares do Ouvido Esquerdo na Pré e Pós-Exposição ao Ruído (Tabela 2), verificou-se que, tal como no Ouvido Direito, existe um aumento do limiar auditivo na Pós-Exposição ao Ruído, para todas as frequências testadas. Observou-se, igualmente ao Ouvido Direito, que é na frequência de 6000Hz onde o limiar auditivo está mais elevado, ultrapassando os 20dB de limiar auditivo nas duas situações de teste (pré e pós exposição).
Observando a Tabela 2, é possível verificar que, no Ouvido Esquerdo, existem diferenças estatisticamente significativas nos limiares auditivos entre a pré e a pós-exposição ao ruído nas frequências de 500, 1000, 3000, 4000, 6000 e 8000Hz.
Relativamente às Otoemissões Acústicas Transitórias de Diagnóstico, foi possível verificar que ocorre uma diminuição da amplitude destas a todas as frequências testadas no Ouvido Direito após exposição ao ruído (Tabela 3). Ainda na mesma tabela, é possível verificar que nas frequências de 5000Hz e 6000Hz, ocorre uma diminuição do número de indivíduos que apresentam Otoemissões.
Relativamente, ao estudo das Otoemissões Acústicas no Ouvido Esquerdo (Tabela 4), é possível verificar que com o aumento das frequências o número de indivíduos que apresentavam Otoemissões Acústicas diminuíram, nomeadamente às frequências de 5000Hz e 6000Hz. Ainda na Tabela 20, é possível comprovar que ocorre uma diminuição da amplitude das Otoemissões Acústicas em todas as frequências testadas na pós-exposição comparativamente à pré-exposição.
Relativamente, ao estudo das Otoemissões Acústicas no Ouvido Esquerdo (Tabela 20), é possível verificar que com o aumento das frequências o número de indivíduos

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 42 - 53.
47
que apresentavam Otoemissões Acústicas diminuíram, nomeadamente às frequências de 5000Hz e 6000Hz. Ainda na Tabela 20, é possível comprovar que ocorre uma diminuição da amplitude das Otoemissões Acústicas em todas as frequências testadas na pós-exposição comparativamente à pré-exposição.
De forma a complementar as informações retiradas no Audiograma Tonal Simples e nas Otoemissões Acústicas Transitórias de Diagnóstico, dividiu-se as trabalhadoras têxteis em três grupos consoante o tempo de trabalho na profissão: Até 5 anos (inclusivé), dos 5 aos 15 anos (inclusivé) e mais que 15 anos. Posto isto, foi verificado os limiares auditivos das frequências de 500, 1000, 2000 e 4000Hz para cada ouvido e para as duas situações de teste, pré e pós-exposição ao ruído. No Ouvido Direito foi possível verificar que com o aumento dos anos de trabalho na profissão, os limiares da Pré-Exposição aumentam; acontecendo o mesmo na Pós-Exposição. Verifica-se, também, que o grupo onde a diferença entre média dos limiares auditivos da Pré e Pós-Exposição é mais elevado é no grupo onde constam as funcionárias com mais de
15 anos de serviço na profissão, ocorrendo um aumento de 4,2 dB. No Ouvido Esquerdo é possível verificar que o grupo onde ocorre uma maior variação/aumento do limiar auditivo na Pós-Exposição é o grupo III, que corresponde às funcionárias que possuem mais anos de serviço, à semelhança do que ocorreu no Ouvido Direito.
Por último, e de forma a obter mais informações sobre o ambiente a que as funcionárias estão expostas, foi feita a medição do ruído ocupacional. A disposição das funcionárias foi dividida em duas partes e foi realizada a medição. Este processo contou com o apoio de um docente do Departamento de Saúde Ambiental da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (Tabela 5 - 7).
Nas Tabelas 5 e 6, é possível observar que o valor equivalente do ruído contínuo é de 77,8 e 83,0 dB (A), respetivamente. Na Tabela 7, é possível analisar as frequências nas quais o ruído se propaga. Daqui, é possível retirar que é nas frequências graves que este mais se difunde, e com maior porção na frequência de 500 Hz.
Tabela 1. Media dos Limiares Auditivos do Ouvido Direito na Pré e Pós-Exposição ao Ruído. Análise estatística obtida pelo Teste T-Student para amostras emparelhadas.
Diferenças Emparelhadas
Média N Desvio Padrão Média Desvio Padrão P
Limiar a 500HzPré-Exposição 10,1935 31 4,87456
4,45161 4,55952 0Pós-Exposição 14,6452 31 5,41940
Limiar a 1000HzPré-Exposição 9,4194 31 3,81902
3,70968 3,95974 0Pós-Exposição 13,1290 31 4,16927
Limiar a 2000HzPré-Exposição 8,4839 31 6,84042
2,35484 4,18369 0,004Pós-Exposição 10,8387 31 7,83623
Limiar a 3000HzPré-Exposição 6,8065 31 6,08506
2,19355 3,74539 0,003Pós-Exposição 9,0000 31 7,31209
Limiar a 4000HzPré-Exposição 8,3871 31 9,75936
2,80645 4,73582 0,003Pós-Exposição 11,1935 31 10,92526
Limiar a 6000HzPré-Exposição 12,2581 31 7,32106
3,58065 5,23943 0,001Pós-Exposição 15,8387 31 7,91242
Limiar a 8000HzPré-Exposição 9,3548 31 8,64696
1,6129 6,15726 0,155Pós-Exposição 10,9677 31 8,35258

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
RIBEIRO A. ET AL.
48
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Tabela 2. Media dos Limiares Auditivos do Ouvido Esquerdo na Pré e Pós-Exposição ao Ruído. Análise estatística obtida pelo Teste T-Student para amostras emparelhadas.
a. A correlação e t não podem ser calculados porque a soma de ponderações de caso é menor ou igual a 1.
Diferenças Emparelhadas
Média N Desvio Padrão Média Desvio Padrão P
Limiar a 500HzPré-Exposição 7,1935 31 6,26322
3,32258 5,10155 0,001Pós-Exposição 10,5161 31 7,45149
Limiar a 1000HzPré-Exposição 6,0323 31 4,58609
2,16129 3,55993 0,002Pós-Exposição 8,1935 31 5,19243
Limiar a 2000HzPré-Exposição 9,5484 31 7,15932
1,61290 4,52163 0,056Pós-Exposição 11,1613 31 7,99207
Limiar a 3000HzPré-Exposição 7,1935 31 7,46288
2,70968 6,16546 0,02Pós-Exposição 9,9032 31 8,40775
Limiar a 4000HzPré-Exposição 6,5806 31 9,33729
3,93548 7,88220 0,009Pós-Exposição 10,5161 31 10,45585
Limiar a 6000HzPré-Exposição 20,6774 31 11,51343
3,12903 6,09777 0,008Pós-Exposição 23,8065 31 9,21744
Limiar a 8000HzPré-Exposição 8,2581 31 6,97600
3,19355 7,69164 0,028Pós-Exposição 11,4516 31 8,38586
Tabela 3. Amplitude das Otoemissões Acústicas Transitórias de Diagnóstico no Ouvido Direito na Pré e Pós-Exposição ao Ruído. Análise estatística pelo Teste T-Student para amostras emparelhadas.
Diferenças Emparelhadas
Média N Desvio Padrão Média Desvio Padrão P
Amplitude OEA a 1000Hz
Pré-Exposição 1,4355 31 5,755780,4871 2,73468 0,329
Pós-Exposição 0,9484 31 5,94216
Amplitude OEA a 1414Hz
Pré-Exposição 7,3226 31 6,018070,56452 4,67308 0,506
Pós-Exposição 6,7581 31 4,65573
Amplitude OEA a 2000Hz
Pré-Exposição 2,4871 31 5,915840,04516 2,12741 0,907
Pós-Exposição 2,4419 31 5,47319
Amplitude OEA a 2828Hz
Pré-Exposição 2,01 31 6,087060,40032 1,45318 0,136
Pós-Exposição 1,6097 31 5,74627
Amplitude OEA a 4000Hz
Pré-Exposição -2,629 31 7,177150,19677 1,97459 0,583
Pós-Exposição -2,8258 31 7,19768
Amplitude OEA a 5000Hz
Pré-Exposição -10,86 10 5,295951,38 0,58462 0
Pós-Exposição -12,24 10 5,20517
Amplitude OEA a 6000Hz
Pré-Exposição -12 1a -- - -
Pós-Exposição -14 1a -

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 42 - 53.
49
Tabela 4. Amplitude das Otoemissões Acústicas Transitórias de Diagnóstico no Ouvido Esquerdo na Pré e Pós-Exposição ao Ruído. Análise estatística pelo Teste T-Student para amostras emparelhadas.
Diferenças Emparelhadas
Média N Desvio Padrão Média Desvio Padrão P
Amplitude OEA a 1000Hz
Pré-Exposição 3,4613 31 4,995310,53226 3,28931 0,375
Pós-Exposição 2,9290 31 5,27827
Amplitude OEA a 1414Hz
Pré-Exposição 7,1806 31 4,129040,12258 4,29517 0,875
Pós-Exposição 7,0581 31 5,31136
Amplitude OEA a 2000Hz
Pré-Exposição 3,6935 31 5,149240,09677 5,02749 0,915
Pós-Exposição 3,5968 31 6,66901
Amplitude OEA a 2828Hz
Pré-Exposição 2,1129 31 5,825050,85806 4,44205 0,291
Pós-Exposição 1,2548 31 6,47626
Amplitude OEA a 4000Hz
Pré-Exposição -3,6355 31 6,908480,17097 5,11737 0,854
Pós-Exposição -3,8065 31 8,14952
Amplitude OEA a 5000Hz
Pré-Exposição -12,84 5 3,811562,04 4,23415 0,342
Pós-Exposição -14,88 5 1,10995
Amplitude OEA a 6000Hz
Pré-Exposição -14,3667 3 3,821433,33333 4,9085 0,361
Pós-Exposição -17,7 3 1,3
Tabela 5. Fila 1: à esquerda quando se entra nas instalações.
Leq: 77,8 dB(A) Exposição ao Ruído
LCPeak, T: 110,1 dB(C) Exposição a Picos de Ruído
Tabela 6. Fila 2: à direita de quando se entra nas instalações.
Leq: 83,0 dB(A) Exposição ao Ruído
LCPeak, T: 112,5 dB (C) Exposição a Picos de Ruído
Tabela 7. Análise do Ruído em Frequência.
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
75,1 80,7 86,7 93,6 81 73,9 69,9 65
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Com o intuito de estudar a Mudança Temporária dos Limiares Auditivos em Trabalhadoras de uma Confeção Têxtil foram utilizadas as Otoemissões Acústicas Transitórias de Diagnóstico (TEOA) e o Audiograma Tonal Simples (ATS).
Dentro das várias consequências, a exposição ao ruído pode provocar uma perda temporária da audição, que pode ser recuperada após cessação da exposição ao ruído. Por outro lado, a perda de audição pode agravar-se e levar a uma perda permanente da audição, que tende a piorar com a continuação da exposição a níveis elevados de ruído e com o tempo de exposição a este. A surdez resultante da exposição a níveis sonoros elevados no local de trabalho é uma das doenças mais conhecidos e representa umas das principais doenças profissionais da atualidade, sendo actualmente detetada através do ATS.Um complemento para avaliação da PAIR são as OEA, pois podem ser usadas de forma eficiente, sendo um método preciso, objetivo, e uma ferramenta rápida e não invasiva para avaliar a função das CCE, células estas que são as principais estruturas afetadas pelo ruído, desencadeando a partir dai uma série de alterações a nível da audição.
Relativamente às questões de investigação deste estudo,

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
RIBEIRO A. ET AL.
50
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
a Questão 1 que pretendia verificar se os limiares auditivos das trabalhadoras estão aumentados após a exposição ao ruído, verificou-se que existiam diferenças estatisticamente significativas para todas as frequências testadas, com exceção da frequência dos 8000Hz.
Os resultados do ouvido esquerdo apontam igualmente para um aumento dos limiares auditivos, na pós-exposição, para todas as frequências testadas. Nesta situação, foram observadas diferenças estatisticamente significativas para todas as frequências, exceto na frequência de 2000Hz. No cálculo da média da perda tonal após a exposição ao ruído, foi possível observar que os limiares estão dentro da normalidade em ambos os ouvidos. Porém, em ambos os ouvidos, foi possível observar que os limiares auditivos se encontram aumentados na frequência dos 6000Hz.
Na literatura, é possível observar estudos com resultados semelhantes. Boger, Barbosa-Branco & Otonni (16), realizaram 192 avaliações audiométricas; destas 91 foram realizadas em duas indústrias metalúrgicas, 54 em três indústrias madeireiras e 47 numa fábrica de mármore. Os autores observaram que as maiores médias dos limiares auditivos se encontravam na frequência dos 6000Hz; observaram igualmente a variação das frequências para cada ouvido e obtiveram diferenças estatisticamente significativas para todas as frequências.
Este resultado igualmente observado no nosso estudo, é consistente com o quadro clinico típico de PAIR, como defendem os autores Kirchner e colaboradores (9), já citados anteriormente neste estudo.
No estudo de Solanki e colaboradores (17), foram investigados os limiares auditivos em trabalhadores têxteis expostos ao ruído e em indivíduos não expostos.
A audiometria revelou um entalhe no audiograma na frequência dos 4000Hz, sendo a frequência de 6000Hz
menos afectada. Os resultados deste estudo diferem do nosso na medida em que os 6000Hz foram a frequência cujos limiares sofreram maior perda após exposição ao ruído.
Coelho e colaboradores (18) defendem que a alta prevalência do entalhe, mesmo com limiares auditivos dentro da normalidade, é um indicativo para o futuro desenvolvimento da PAIR. Estes sinais clínicos devem ser valorizados na prática clinica de modo a que sejam adoptadas medidas profiláticas na salvaguarda da saúde auditiva dos trabalhadores expostos ao ruído. Este achado é congruente com o nosso estudo, uma vez que embora todos os indivíduos tenham limiares auditivos dentro da normalidade, estes apresentam entalhe na frequência de 6000Hz.
Régis, Crispim & Ferreira (19), realizaram um estudo em 1499 sujeitos. Para estimativa da incidência da PAIR foram selecionados 763 audiogramas (realizados anteriormente) com audição normal e foram comparadas com as audiometrias realizadas posteriormente. Os autores verificaram que a perda auditiva aumentou de acordo com o tempo de serviço. Este resultado é congruente com o presente estudo, onde observamos que o aumento de tempo de serviço leva a um aumento dos limiares auditivos tanto na pré como na pós-exposição ao ruido. Foi verificado, também, que é no grupo de funcionárias com mais tempo de serviço que ocorre uma maior variação entre os limiares auditivos da pré e da pós-exposição.
Também no nosso estudo foi possível observar que existe uma ligeira diferença de limiares auditivos entre o ouvido direito e o esquerdo, sendo que é no ouvido direito onde eles se encontram ligeiramente aumentados. Este facto foi também observado no estudo de Shah, Baig & Vaidya (4), com a justificação de que «poderia ser por causa da posição dos indivíduos enquanto trabalham na máquina, sendo que no caso dos destros o ouvido direito estará

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 42 - 53.
51
mais perto da máquina».
Tendo em consideração a Questão de Investigação 2 que pretendia verificar se as amplitudes das otoemissões acústicas evocadas transitórias de diagnóstico diminuíam na pós-exposição, os resultados deste estudo revelaram que em todas as frequências testadas, e em ambos os ouvidos, ocorreu uma diminuição das amplitudes. Sendo que apenas se obtiveram diferenças estatisticamente significativas a 5000Hz no ouvido direito. Sliwinska-Kowalska, Kotylo & Mendler (14), estudaram trinta e dois funcionários do sexo masculino de uma fábrica de metal. Foram incluidos na bateria de testes as otoemissões acústicas evocadas transitórias, a audiometria tonal simples e a impedanciometria. Tanto a audiometria como as otoemissões acústicas mostraram uma redução significativa devido à exposição ao ruído. Os seus resultados confirmam a alta sensibilidade das otoemissões ao ruído industrial. Este estudo pode recomendar essa medida como um método de avaliação para a TTS a incluir no programa de conservação, além da audiometria tonal, já contemplada.
Nada, Ebraheem & Sheta (15), apresentam um estudo com uma amostra de 145 individuos e igual número de controles que foram expostos a níveis elevados de ruido. Os autores realizaram audiograma tonal simples, otoemissões acústicas evocadas transitórias e otoemissões com supressão contralateral. Os resultados apontam para uma diminuição das amplitudes das OEAT na pós-exposição.
Em termos práticos, torna-se necessária uma mudança nos Programas de Conservação Auditiva, como por exemplo, a identificação precoce de suscetibilidade às perdas auditivas e a identificação precoce do desenvolvimento destas. É o caso da avaliação das otoemissões acústicas para determinação da suscetibilidade às perdas auditivos induzidas pelo ruido. O que atualmente a lei prevê é
apenas a realização de um ATS de dois em dois anos.
Torna-se assim necessário diminuir o espaço de tempo entre a realização dos exames, assim como inserir uma forma de identificação precoce da PAIR, uma vez que o audiograma só identifica a PAIR quando esta está já instalada. Um programa de Conservação Auditiva deve ter um efeito preventivo e não identificar a doença quando esta já está instalada.
CONCLUSÃO
A elaboração deste estudo tinha como objetivo determinar a influência do ruído na Mudança Temporária do Limiar Auditivo em Trabalhadoras Têxteis comparando o resultado dos Limiares Auditivos e das Otoemissões Acústicas Transitórias de Diagnóstico antes e após a exposição ao Ruído.
Sabendo que a exposição ao ruido pode causar perturbações na audição, dentro das quais Perda Temporária da Audição e a Perda Permanente da Audição, foi realizado o Audiograma Tonal Simples, pesquisando e analisando os limiares auditivos das trabalhadoras antes e após a exposição ao ruído. Os resultados foram conclusivos: ocorreram diferenças estatisticamente significativas no ouvido direito e ouvido esquerdo, com exceção da frequência de 8000 Hz e de 2000 Hz, respetivamente. Ainda no Audiograma Tonal Simples, foi possível observar que o entalhe típico de PAIR ocorre na frequência de 6000 Hz em ambos os ouvidos. A segunda questão de investigação, baseada na realização das Otoemissões Acústicas Evocadas Transitórias de Diagnóstico, foi comprovada. A amplitude das Otoemissões Acústicas diminuíram após a exposição ao ruído, sendo que em alguns indivíduos não se obteve respostas nas frequências de 5000Hz e 6000Hz. Diante estes resultados

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
RIBEIRO A. ET AL.
52
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
é possível observar que as Otoemissões Acústicas possibilitam uma monitorização das CCE, mesmo em indivíduos com limiares auditivos dentro da normalidade. Observados os resultados das questões de estudo, ficamos com uma ideia de como poderá ser encarado o futuro dos PCA, recorrendo a instrumentos que não irão substituir os atualmente utilizados, mas sim complementar a análise e, se possível salientar indicadores mais úteis. Esta complementaridade implicará uma mudança do Decreto-Lei 182/2006, de 6 de Setembro.
Estudos Futuros
Como estudos futuros é proposto a realização de um estudo do Processamento Auditivo Central em indivíduos expostos ao Ruído Ocupacional de modo a observar se existe ou não uma perda funcional do sistema nervoso auditivo central por exposição ao ruído.
REFERÊNCIAS
1. Roozbahani, M. M., Nassiri, P., & Shalkouhi, P. J. (2009). Risk assessment of workers exposed to noise pollution in a textile plant. Int. J. Environ. Sci. Tech., 6(4), 591–596.
2. Cantley, L. F., Galusha, D., Cullen, M. R., Dixon-Ernst, C., Rabinowitz, P. M., & Neitzel, R. L. (2015). Association between ambient noise exposure, hearing acuity, and risk of acute occupational injury. National Institue of Health, 41(1), 75–83.
3. Decreto-Lei nº 182/2006, de 6 de setembro – Prescrições mínimas de segurança e de saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devido ao ruído.
4. Shah, N. N., Baig, M. N. H., & Vaidya, S. R. (2013). A study of exposure to noise and hearing loss among textile workers. Perspectives in Medical Research, 1(1).
5. Barcelos, D. D., & Ataíde, S. G. (2014). Análise do Risco Ruido em Indústria de Confeção de Roupa. Revista CEFAC, 16(1), 39–49.
6. Silva, A. F. da. (1999). Mudança Temporária de Limiar Auditivo. Pesquisa em uma indústria calçadista. Centro de Especialização em Fonoaudiologia Clinica.
7. Vieira 2000.8. Monteiro, D. A. F. (2013). A Importância das Otoemissões
Acústicas num Programa de Conservação de Audição em Trabalhadores Expostos ao Ruído. Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa.
9. Kirchner, D. B., Evenson, E., Dobie, R. A., Rabinowitz, P., Crawford, J., Kopke, R., & Hudson, T. W. (2012). Occupational Noise-Induced Hearing Loss. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 54(1), 106–108.
10. Lu, J., Cheng, X., Li, Y., Zeng, L., & Zhao, Y. (2015). Evaluation of individual susceptibility to noise-induced hearing loss in textile workers in China. Archives of Environmental & Occupational Health, 60(6), 287–294.
11. Bezerra, M. D., & Marques, R. A. (2004). Configurações audiométricas em saúde ocupacional. Brazilian Journal of Health Research, 17(2), 61–65.
12. Arezes, P. M., & Miguel, A. S. (2002). A exposição ocupacional ao ruído em Portugal. Revista Portuguesa de Saúde Pública, 20(1), 61–69.
13. Baradarnfar, M. H., Karamifar, K., Mehrparvar, A. H., Mollasadeghi, A., Gharavi, M., Karimi, G., … Mostaghaci, M. (2012). Amplitude changes in otoacoustic emissions after exposure to industrial noise. Noise & Health, 14(56), 28–31.
14. Sliwinska-Kowalska M, Kotylo P., & Hendler, B. (1999). Conparing changes in transient-evoked otoacustic emission and pure-tone audiometry following short to industrial noise. Noise and Health, 1(2), 50.
15. Nada, E., Ebraheem, W., & Sheta, S. (2014). Noise-induced hearing loss among workers in textile factory. The Egyptian Journal of Otolaryngology, 30(3),

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 42 - 53.
53
243. 16. Boger, M. E., Barbosa-Branco, A., & Ottoni, Á. C.
(2009). A influência do espectro de ruído na prevalência de Perda Auditiva Induzida por Ruído em trabalhadores. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 75(3), 328–334.
17. Solanki, J., Mehta, H., Shah, C., & Gokhale, P. (2012). Occupational noise induced hearing loss and hearing threshold profile at high frequencies. Indian Journal of Otology, 18(3), 125.
18. Coelho, M. D. S. B., Ferraz, J. R. D. S., Almeida, E. D. O. C., & Almeida Filho, N. De. (2010). As emissões otoacústicas no diagnóstico diferencial das perdas
auditivas induzidas por ruído. Revista CEFAC, 12(6), 1050–1058.
19. Régis, A. C. F. de C., Crispim, K. G. M., & Ferreira, A. P. (2014). Incidência e prevalência de perda auditiva induzida por ruído em trabalhadores de uma indústria metalúrgica, Manaus - AM, Brasil. Revista CEFAC, 16(5), 1456–1462.
Correo Autor: [email protected]
Fecha de Aceptación: 23 de Marzo del 2017 Fecha de Publicación: 31 de Mayo del 2017
ACEPTACIÓN Y CORRESPONDENCIA

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
DA SILVA C. ET AL.
54
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
ESTUDO DO DESLOCAMENTO TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO EM CABELEIREIROS
CÁTIA DA SILVA1, CARLA SILVA1, JOÃO ALMEIDA2
INTRODUÇÃO
Nos dias de hoje, é de conhecimento geral, que o ruído está presente no nosso quotidiano. No trânsito, em casa, nas saídas de lazer, no trabalho, ou a ouvir música, o indivíduo está exposto direta ou indiretamente a níveis de ruído, bastante elevados. Este ruído, se não for controlado, poderá causar danos no organismo e, principalmente,
danos irreparáveis na audição.
De acordo com Brito (1), os efeitos do ruído na audição humana podem ser divididos em três grupos: TTS (Temporary Threshold Shift) - diminuição da sensibilidade auditiva resultante de exposições a níveis de pressão
Study of the Temporary Threshold Shift in Hairdressers
1 Instituto Politécnico de Coimbra, ESTESC-Coimbra Health School, Audiologia, Portugal.2 Instituto Politécnico de Coimbra, ESTESC – Coimbra Health School, Saúde Ambiental, Portugal.
RESUMO Existem muitas profissões que, pela sua natureza, são profissões de risco, porque estão expostas ao ruído diariamente e nada é feito quanto à proteção dos seus profissionais. O objetivo do presente estudo foi avaliar a audição dos cabeleireiros e perceber se estes, devido à sua profissão, têm perda auditiva temporária. A amostra foi constituída por 25 indivíduos do sexo feminino. Após anamnese e otoscopia, obtiveram-se os limiares auditivos bilaterais nas frequências 500Hz, 1 KHz, 2 KHz, 3 KHz, 4 KHz, 6 KHz e 8 KHz por via aérea, pesquisando os limiares auditivos de 1 em 1 dB. Os limiares foram obtidos pré e pós-jornada de trabalho. Para recolher os níveis de ruído nos salões de cabeleireiro utilizou-se um sonómetro de marca Brüel & Kjær, modelo 2260, seguindo-se, por efeitos metodológicos, o Decreto-Lei 182/2006 de 6 de Setembro que, estabelece as prescrições mínimas de segurança e saúde dos trabalhadores, respeitantes aos riscos de exposição ao ruído. A idade dos sujeitos foi, em média, de 33,48 anos e, em média, cada profissional trabalhava por dia 544,8 minutos. Os resultados revelaram que todas as médias dos limiares auditivos estão dentro dos valores da normalidade. No ouvido direito o p (<0,05) só foi significativo para os 6000Hz e 8000Hz e no ouvido esquerdo para os 2000Hz e os 6000Hz. Só foi encontrado um valor negativo, no ouvido direito na frequência de 1000Hz. Os valores de LEX,8h obtidos não ultrapassaram o valor limite de exposição. Podemos afirmar que esta profissão está sujeita a TTS, no entanto, os valores da perda não são muito acentuados. Seria útil a realização de ações de sensibilização para alertar e, consequentemente, prevenir danos na saúde auditiva dos cabeleireiros, pois há um conjunto de medidas preventivas que, se fossem implementadas, poderiam prevenir perdas de audição nos mesmos.
Palavras chaves: Perda auditiva temporária, segurança no trabalho, cabeleireiros.
ABSTRACTThere are many professions that by their nature, are risk professions, because the professionals are exposed daily to noise and do nothing to protect themselves. The aim of this study was assess the hearing of hairdressers and see if they, due to their profession, have Temporary Threshold Shift. The sample was composed of 25 females. After an interview and otoscopy, we obtained the bilateral hearing at the frequencies of 500Hz, 1 KHz, 2 KHz, 3 KHz, 4 KHz, 6 KHz e 8 KHz by air - conduction, searching the thresholds with increases of 1 by 1 dB. The thresholds were obtained pre and post journey of work. To measure the sound pressure level in each hairdressing salons we used a sound level meter, brand Brüel & Kjær, model 2260, and followed the Decreto-Lei 182/2006 de 6 de Setembro that establishes the minimum requirements for safety and health of workers, about risks of exposure to noise.The age of the subjects was, on average, 33.48 years, and each professional worked, on average, 544,8 minutes per day. All means of hearing thresholds are within normal limits. In the right ear the p (<0.05) was only statistically meaningful for 6000 Hz and 8000 Hz and in the left ear for 2000 Hz and 6000 Hz. We only found a negative value, in the right ear on the frequency of 1000Hz. The LEX,8h values obtained did not exceed the recommended maximum.We can affirm that this profession is subject to TTS, however, the threshold shift are not very pronounced. It would be useful the realization of awareness campaigns to alert and thus prevent, damage in the hearing health of the hairdressers, because there is a set of preventive measures which, if implemented, could prevent hearing loss.
Key words: Temporary hearing loss, safety at work, hairdressers.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 54 - 65.
55
sonora elevados. É uma alteração temporária, que é recuperada após um período de repouso auditivo. PAIR – perda auditiva consequente de exposições a ruídos de alta intensidade, durante longos períodos de tempo (meses, anos). Trauma acústico - perda auditiva súbita, geralmente decorrente de exposição a ruídos de impacto. Trata-se de uma alteração irreversível.
Existem muitas profissões que, pela sua natureza, são profissões de risco porque, os seus profissionais estão expostos ao ruído diariamente e muitas vezes pouco fazem para se proteger. São exemplos os músicos, bombeiros, polícias, médicos dentistas, serralheiros, cabeleireiros, entre outros. Neste estudo, dá-se ênfase a esta última profissão porque se considera que há pouca informação sobre o tema, sendo que, grande parte destes profissionais não tem conhecimento dos riscos a que estão sujeitos, nomeadamente a nível da sua audição, nem quais os mecanismos de proteção existentes no mercado.
Tendo também em consideração que o ruído é o mais comum agente nocivo nestes ambientes de trabalho e que ainda não existe um suficiente investimento na sua redução e controlo, este artigo procura aumentar o interesse quanto à necessidade de ações preventivas em relação ao ruído e as suas implicações na saúde auditiva dos trabalhadores, já que estes não estão devidamente conscientes dos malefícios que advêm da contínua exposição ao ruído.
Temporary Threshold Shift e Permanent Threshold ShiftO efeito da exposição ao ruído na sensibilidade auditiva é expressa em termos de aumento do limiar auditivo. A Perda Auditiva Temporária (Temporary Threshold Shift – TTS) é uma mudança na sensibilidade auditiva, que ocorre a seguir a uma exposição a grandes níveis de pressão sonora, por um certo período de tempo, e é um fenómeno que já toda a gente vivenciou. No entanto, depois de cessada a exposição, o limiar auditivo tende a voltar ao normal gradualmente (2, 3). O conceito básico de
TTS é, portanto, muito simples. Se uma pessoa, cujo limiar auditivo seja 5 dB HL, for exposta a uma intensidade de ruído relativamente alta por um certo período de tempo, se voltarmos a testar a sua audição verificamos que, o limiar auditivo aumenta. Se testarmos novamente passado algumas horas, durante as quais o indivíduo não esteve exposto a ruído, verifica-se que o seu limiar volta ao valor inicial. Quando o limiar não volta ao valor inicial (antes da exposição ao ruído), estamos perante uma Perda Auditiva Permanente (Permanent Threshold Shift - PTS), também conhecida por Perda Auditiva Permanente Induzida pelo Ruído (Noise Induced Permanent Threshold Shift – NIPTS) ou Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (Noise Induced Hearing Loss - NIHL) (2).
NIHL é, então, a denominação dada à perda auditiva permanente que evoluiu, gradualmente, depois de meses ou anos de exposição a níveis elevados de ruído (4).
A PTS pode surgir, também, quando o ouvido humano é exposto a um ruído de impulso, a uma intensidade sonora de 120 dB ou superior, ocorrendo o trauma acústico. A carga sonora produzirá, na cóclea, lesões intensas como rutura da membrana basilar, desorganização dos tecidos e células ciliadas, de maneira abrupta (5).
Relativamente às variações da TTS, estas ainda são controversas, mas, de maneira geral, observa-se que: os ruídos de alta frequência são mais nocivos que os de baixa frequência, principalmente na faixa entre 2kHz a 6kHz; o TTS começa a partir de uma exposição de 75dB e, acima desse nível, ele aumentará proporcionalmente ao aumento de intensidade e duração do ruído; a exposição contínua é mais nociva do que a interrompida; a suscetibilidade individual segue uma distribuição normal (6).
Segundo Merluzzi (7), a recuperação dos limiares auditivos tem um progresso proporcional ao logaritmo do tempo, sendo que a maior parte do TTS é recuperado nas

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
DA SILVA C. ET AL.
56
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
primeiras duas a três horas. O restante da recuperação pode levar até 16 horas para se completar, dependendo da intensidade do estímulo. A fadiga auditiva dessas estruturas pode ser considerada anormal quando a mudança de limiar permanece por mais de 16 horas, após o término da exposição (6).
O RuídoEntre os vários elementos de risco ocupacional, a exposição ao ruído pode ser indicada como um dos agentes que produz um maior efeito nocivo sobre a saúde auditiva dos indivíduos que trabalham em contacto com esse elemento (8).
O ruído é basicamente todo o som perturbador que não é desejado. Todos os sons que ouvimos podem ser classificados como ruído, desde que sejam indesejados por outros indivíduos que os escutam. Pode-se considerar ruído todo o sinal acústico que influencia o bem estar físico e mental do indivíduo (9).
A perda auditiva induzida por elevados níveis de pressão sonora consiste, atualmente, numa das maiores causas de perdas auditivas sensorioneurais. Inúmeros fatores influenciam a ocorrência dessas perdas, destacando-se o nível de pressão sonora, o tempo de exposição ao ruído, a sua intensidade e a suscetibilidade individual. As alterações temporárias do limiar auditivo têm vindo a ser amplamente estudadas pois a sua presença, em maior ou menor grau, sinaliza um prognóstico de suscetibilidade para perdas auditivas permanentes (10).
Exposição ao ruídoO ruído enquanto som é complexo, não possui períodos regulares, ou seja, não há movimentação rítmica das partículas fazendo com que um ciclo seja exatamente igual ao que o antecede ou ao que o segue. Quando se fala em ruído não se caracteriza frequência, comprimento, período ou ciclo. Pode dizer-se que abrange intervalos de
frequência aproximados. Pode medir-se a sua intensidade, sendo esta a pressão exercida pelas partículas vibráteis umas sobre as outras. A sua medida é o decibel (dB). Trata-se de um logaritmo, uma razão e, portanto, uma medida relativa. O zero dB não significa ausência de som. Também não é linear, ou seja, o aumento de 1 para 3dB é diferente do aumento de 5 para 7dB. Pode ser expresso por diferentes níveis de referência: SPL: Sound Pressure Level, Nível de Pressão Sonora; HL: Hearing Level, Nível de Audição; IL: Intensity Level, Nível de Intensidade; SL: Sensation Level, Nível de Sensação (5).
Interessa distinguir dB SPL de dB HL. O primeiro tem como referência a pressão sonora, sendo esta medida em MicroPascais. O valor de referência é 0dB SPL e é a pressão sonora mais fraca que o ouvido humano pode detetar (5).
Quanto ao dB HL, este tem como referência o nível da audição. O zero dB de cada frequência é a intensidade mínima do som necessária para que um ouvido normal perceba o som. Ou seja, para cada frequência é necessária uma intensidade diferente, já que o ouvido não é igualmente sensível em todas as frequências. Os Audiómetros estão calibrados em dB HL (5).
Para muitos trabalhos psicofísicos e para controlos de ruído é comum utilizar um medidor do nível de som equipado com um filtro para produzir uma curva de sensibilidade próxima do limiar auditivo humano. Esse filtro é chamado de filtro de ponderação (A), e os níveis de pressão sonora medidos com ele geralmente são chamados de níveis de pressão sonora de ponderação (A) e são expressos em dB(A). Em termos de exemplos práticos temos: num quarto sossegado um nível de pressão sonora de ponderação (A) de aproximadamente 30dB(A), numa conversação normal 70dB(A) e num concerto de rock mais de 110dB(A) (11).
A Occupational Safety & Health Administration (OSHA)

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 54 - 65.
57
em 1999 estabeleceu critérios para a exposição ao ruído. Assim, sem protetores auriculares, os trabalhadores só podem estar expostos ao ruído contínuo, um dado número de horas diárias. Por exemplo, trabalhando 8 horas, poderiam estar expostos até 90dB(A). Quando a exposição sonora diária é composta por dois ou mais períodos de exposição ao ruído de diferentes níveis, deve ser considerado o seu efeito combinado, ao invés do efeito individual de cada um (12).
Muitos sons do nosso ambiente excedem os padrões da OSHA e a exposição contínua a esses sons poderá causar perda de audição. A diferença em níveis decibel é maior do que se poderia esperar: entra nos ouvidos, num ambiente de 95dB, 100 vezes mais energia sonora, do que num ambiente de 75dB. A exposição contínua a elevadas intensidades de ruído pode causar deficiência auditiva em algumas pessoas. Quanto maior a exposição a ruídos, maior será o risco para a audição (13).
Com o propósito de se determinar se o ruído num determinado local apresenta riscos para a audição humana, torna-se necessário um estudo do ambiente através de medições sonoras que permitam a análise da intensidade do ruído (6, 14).
Avaliação da Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR) e dos seus efeitos na audiçãoA avaliação do trabalhador exposto a ruído consta de avaliação clínica e ocupacional, na qual se pesquisa a exposição ao risco, o precedente e o atual, considerando-se os sintomas característicos. Além dos sintomas auditivos frequentes: perda auditiva, dificuldade de compreensão de fala, zumbido e intolerância a sons fortes, o trabalhador portador de PAIR também apresenta queixas, como cefaleias, tonturas, irritabilidade, problemas digestivos, entre outros. São importantes os detalhes da exposição, para que seja possível encontrar relações entre a exposição, os sinais e os sintomas. Desta forma, a anamnese ocupacional configura-se como instrumento fundamental para a identificação do risco. O conhecimento sobre o ambiente de trabalho também pode ser feito por meio da visita ao local, avaliação dos instrumentos técnicos da própria empresa e das informações disponíveis acerca das auditorias, para além das informações obtidas através do trabalhador. Para a confirmação da existência de alterações auditivas, é fundamental a realização da avaliação audiológica. A avaliação audiológica é formada por uma bateria de exames: Audiometria Tonal, Audiometria Vocal e Impedancimetria. Para a avaliação dos efeitos não-auditivos e para a sua caracterização pode utilizar-se a própria anamnese ocupacional. Estes podem estar relacionados com a exposição ao ruído e com a própria perda auditiva. Também podem ser utilizados outros instrumentos padronizados específicos que recolham as dificuldades da vida diária, principalmente as de comunicação (6).
A audiometria tonal simples possui alguns fatores não controláveis que podem interferir na execução, interpretação e resultado do exame audiométrico. Desta forma, a avaliação auditiva ocupacional realizada somente com recurso à audiometria tonal simples pode não retratar a real situação do funcionamento coclear do
Tabela 1: Legislação do Decreto-Lei 182/2006 de 6 de Setembro.
Valores em Causa LEX,8h dB(A)Valor limite de exposição 87
Valor superior de exposição que desencadeia a ação 85
Valor inferior de exposição que desencadeia a ação 80
Em consequência da Tabela 1, resta explicar que, para a aplicação dos valores de ação, na determinação da exposição do trabalhador ao ruído não são tidos em conta os efeitos decorrentes da utilização de protetores auditivos. Ainda, confrontando os valores com os da (12), percebemos que em 7 anos a legislação se alterou.

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
DA SILVA C. ET AL.
58
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
trabalhador (8). A avaliação das otoemissões acústicas evocadas possibilita uma pesquisa direta do mecanismo de amplificação coclear das células ciliadas externas, o que permite uma monitorização auditiva mais preventiva e efetiva (2).
Segundo um estudo realizado a 203 indivíduos expostos ao ruído, evidenciou-se que 98% dos limiares audiométricos pesquisados, após a exposição ao ruído, revelaram configurações alteradas. Os autores acreditam que existe uma etapa prévia às mudanças temporárias do limiar de audibilidade, visto que, o sistema auditivo exposto ao ruído pode apresentar alterações auditivas subliminares, sem lesões aparentes (15).
A atividade exercida por funcionários de centros de beleza (cabeleireiros, assistentes de cabeleireiros, manicuras e esteticistas) envolve exposição ao ruído dos secadores, e de outro tipo de instrumentos auxiliares para o tratamento estético. Com efeito, os funcionários de centros de beleza constituem uma população que sofre os efeitos cumulativos da exposição ao ruído, e isto pode vir a trazer consequências que interferem, eventualmente, na sua qualidade de vida (16).
Os cabeleireiros são uma das profissões com mais doenças associadas. Embora o trabalho desta profissão seja considerado leve, estes profissionais passam muitas horas de pé e estão sujeitos a luzes fortes, ruído, horários irregulares e horas extraordinárias (17).
Assim, é comum que estes ambientes de trabalho possuam uma série de agentes físicos e químicos que, combinados com fatores de stress psicossociais e organizacionais, representam riscos para a saúde destes trabalhadores (18).
De acordo com um estudo realizado por Nassiri e colaboradores em 1996 (17), que comparava níveis de pressão sonora em cabeleireiros masculinos e femininos,
chegou-se à conclusão que o nível da pressão sonora é superior nos salões de cabeleireiros femininos.
Num outro estudo, cujo objetivo era determinar se o ruído dos secadores causava algum dano à saúde auditiva dos profissionais (cabeleireiros), concluiu-se que há uma maior alteração auditiva para uma frequência, em relação às outras, ou seja, a frequência com maior preponderância de TTS é a de 6000Hz. Relativamente aos níveis de TTS obtidos estes foram iguais ou inferiores a 20dB, sendo a maioria de 5dB, em sujeitos expostos a ruído intermitente (14).
Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo avaliar a audição dos cabeleireiros e perceber se estes, devido à sua profissão, têm perda auditiva temporária.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo é de nível II, descritivo – correlacional, de coorte transversal pois, a recolha da amostra foi num único momento temporal.
A população do presente estudo foi constituída por todos os indivíduos com idade superior a 18 anos, da zona centro do país, com a profissão de cabeleireiro. O tipo de amostra é probabilístico, sendo constituída por 25 indivíduos que exercem a profissão de cabeleireiros na região Centro do País.
No presente estudo temos: Variável independente nominal: cabeleireiros; Variável dependente quantitativa: perda auditiva temporária (TTS).
As questões de investigação que se colocam são: Q1: A profissão de cabeleireiro provoca TTS? ; Q2: Quanto mais horas o profissional trabalha por dia, maior é a sua TTS?;

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 54 - 65.
59
Q3: A frequência de 4000Hz é a frequência mais afetada, em termos de TTS?.
Foi utilizado um questionário, distribuído pelos cabeleireiros com o intuito de recolher informações para uma melhor caracterização sócio-demográfica da amostra, um Otoscópio de marca Heine, de modelo mini 2000 e respectivos espéculos, um Audiómetro de marca MADSEN, modelo MIDIMATE 622, auscultadores TDH-39 e um sonómetro Brüel & Kjær, modelo 2260.
Após a obtenção do consentimento informado dos elementos da amostra foi realizada a primeira recolha de dados, por anamnese, onde se adquiriram informações cruciais para o desenvolvimento da investigação, sendo o tempo de exposição ao ruído e os anos de serviço as mais importantes.
Começou por fazer-se, a cada profissional, uma Otoscopia, dando esta normal, prosseguiu-se com o Audiograma Tonal Simples antes e após o dia de trabalho. Assim, comparando-se os dois Audiogramas verificamos o valor da TTS. O exame compreendeu a obtenção dos limiares auditivos bilaterais nas frequências 500Hz, 1 KHz, 2 KHz, 3 KHz, 4 KHz, 6 KHz e 8 KHz por via aérea, tendo sido utilizado o método descendente, pesquisando os limiares auditivos de 1 em 1 dB.
Para a recolha dos níveis de ruido e de modo a cumprir o Decreto-Lei 182/2006 de 6 de Setembro, utilizou-se o sonómetro Brüel&Kjaer, modelo 2260, que foi devidamente calibrado antes e após das medições. Estas foram efetuadas entre 10 e 30cm de distância à frente do ouvido mais exposto ao secador. Relativamente ao tempo de medição, foram seguidas as indicações do anexo I, ponto 4 alínea a) do Decreto-Lei 182/2006 de 6 de Setembro. Por conseguinte, o intervalo do tempo de medição foi escolhido de modo a medir e a englobar todas as variações importantes dos níveis sonoros nos salões
dos cabeleireiros.
RESULTADOS
Características gerais da amostraA amostra foi constituída por 25 indivíduos do sexo feminino. No que concerne à idade dos sujeitos verificou-se que a idade mínima foi de 19 anos e a máxima de 57, tendo sido obtida uma média de 33,48 anos. Nenhuma das inquiridas da amostra foi sujeita a cirurgia aos ouvidos. A maioria dos indivíduos (64%) nunca tinha realizado um exame auditivo. Quanto à percentagem de sujeitos que considerava que não ouvia bem, esta foi de 28%. Sendo que, 16% considera que ouve pior do ouvido direito, 8% do ouvido esquerdo e 4% tinha queixas de ambos os ouvidos. Por consequência, 22 cabeleireiras possuíam uma audição normal, inferior a 20dB. As 3 restantes tinham uma audição entre 21 e 28dB, mas como a recolha dos dados não foi realizada num ambiente insonorizado, como seria de esperar, não se consideraram estes valores como perda auditiva. Quanto ao número de minutos que cada profissional trabalha por dia obteve-se uma média de 544,8 minutos. Verificou-se que o valor máximo encontrado foi o dobro do valor mínimo, 360 e 720 respetivamente. O tempo de exposição ao ruído por dia foi expresso em minutos, tendo cada profissional respondido a sua média diária de exposição. Assim, a média foi de 508,8 minutos, com um mínimo de 240 e um máximo de 720 minutos. Também, em média, as cabeleireiras demoram 23,8 minutos a realizar uma tarefa que envolva o secador. Relativamente ao número de dias semanais laborais obteve-se uma média de 5,32 dias semanais, um mínimo de 2 dias e um máximo de 6. No que concerne aos anos de experiência das profissionais, ou seja, há quanto tempo a profissional exerce a sua atividade, concluiu-se que a média é de 13,817 anos de experiência. A cabeleireira com menos prática possui apenas 5 meses de serviço. Analisando o tempo de não exposição ao ruído, ou seja,

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
DA SILVA C. ET AL.
60
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
o número de minutos que os indivíduos consideram que não há ruído ambiente no seu local de trabalho, obteve-se uma média de 74,4 minutos mas, é necessário referir que, na maioria das vezes, este tempo de não exposição, não é contínuo, é um somatório dos poucos minutos diários sem ruído. É importante mencionar também que, a maioria das inquiridas refere que não possui momentos de silêncio. Verificou-se que apenas 28% das inquiridas fazem pausas durante o horário de expediente. É de salientar que, as respostas dadas foram a soma de todos os intervalos. Assim, em média, os indivíduos estão 48,14 minutos sem realizar qualquer tipo de atividade, o que não significa que não estejam expostas ao ruído. Houve, ainda, uma opinião generalizada, assumida por 80% dos indivíduos que consideravam o local de trabalho ruidoso. No que concerne a acufenos verificou-se que 40% os sentem. Nenhuma referiu sentir acufenos constantes. Por consequência, todas referem senti-los esporadicamente, sendo que 8% dizem que o acufeno se localiza no ouvido direito, 4% no ouvido esquerdo e os restantes 28% em ambos os ouvidos. No que toca à plenitude auricular, apenas 16% refere sentir esta sensação, mas raramente. No que toca à localização sonora, apenas 24% tem dificuldade em perceber de onde vem o som. Em contraste, 60% refere ter dificuldade em compreender o que as outras pessoas dizem na presença de ruído de fundo. A nível de desconforto auditivo obteve-se uma grande discrepância, já que 52% dos indivíduos sentem-se incomodados na presença de sons altos e 48% não. No que se refere a sintomas não auditivos verifica-se que 52% das inquiridas não sente cefaleias no final do dia de trabalho. Quanto à presença de vertigem temos que, 40% das profissionais costumam sentir vertigem. Destas, 16% referem sentir-se a “andar à roda” e 24% sentem os objetos à sua volta rodar.
Análise Estatística dos ResultadosAs tabelas 2 e 3 revelam a média dos limiares obtidos
antes e depois da exposição ao ruído, ou seja, antes e após o dia de trabalho, no ouvido direito e no ouvido esquerdo, respetivamente, nas frequências estudadas. Fazendo a sua análise verifica-se que, todas as médias dos limiares estão dentro dos valores da normalidade, segundo o BIAP (19), ou seja, são inferiores a 20dB tanto no ouvido direito como no esquerdo. Relativamente às médias das primeiras medições dos limiares, no ouvido direito tivemos como valor mínimo 8,76dB a 2000Hz e 16,04dB a 6000Hz de valor máximo; no ouvido esquerdo tivemos como valor mínimo 7,6dB a 4000Hz e 16dB a 6000Hz de valor máximo. No que diz respeito às médias dos limiares obtidos após o dia de trabalho, no ouvido direito registou-se como valor mínimo 10,08dB a 3000Hz e 18,08dB a 6000Hz de valor máximo; no ouvido esquerdo registou-se como valor mínimo 9,04dB a 4000Hz e 18,88dB a 6000Hz de valor máximo.
Tabela 2: Média dos limiares obtidos antes e depois da exposição ao ruído no ouvido direito.
Ouvido Direito Média N Desvio Padrão
2º medição a 500 Hz 16,600 25 7,217
1º medição a 500 Hz 15,960 25 8,965
2º medição a1000 Hz 13,360 25 5,971
1º medição a 1000 Hz 13,560 25 6,397
2º medição a 2000 Hz 10,200 25 7,714
1º medição a 2000 Hz 8,760 25 6,912
2º medição a 3000 Hz 10,080 25 7,826
1º medição a 3000 Hz 9,120 25 6,559
2º medição a 4000 Hz 11,200 25 9,678
1º medição a 4000 Hz 9,960 25 8,060
2º medição a 6000 Hz 18,080 25 14,124
1º medição a 6000 Hz 16,040 25 13,321
2º medição a 8000 Hz 14,760 25 16,058
1º medição a 8000Hz 12,720 25 14,780

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 54 - 65.
61
Tabela 3: Média dos limiares obtidos antes e depois da exposição ao ruído no ouvido esquerdo.
Ouvido Esquerdo Média N Desvio Padrão
2º medição a 500Hz 17,960 25 6,961
1º medição a 500 Hz 15,080 25 8,717
2º medição a 1000 HZ 14,160 25 5,893
1º medição a 1000 Hz 11,480 25 7,698
2º medição a 2000 Hz 11,760 25 7,384
1º medição a 2000 Hz 9,280 25 8,706
2º medição a 3000 Hz 10,680 25 7,846
1º medição a 3000 Hz 9,200 25 10,198
2º medição a 4000 Hz 9,040 25 9,094
1º medição a 4000 Hz 7,600 25 8,865
2º medição a 6000 Hz 18,880 25 11,994
1º medição a 6000 Hz 16,000 25 11,744
2º medição a 8000 Hz 11,320 25 15,266
1º medição a 8000 Hz 9,360 25 14,256
Tabela 4: Diferenças entre as medições obtidas no ouvido direito, sendo que o t representa o t de Student para amostras emparelhadas e o p os valores estatisticamente significantes com uma margem de erro de 5%.
Diferenças nas medições do Ouvido Direito Média Desvio Padrão t Graus de Liberdade p
2º medição – 1º medição a 500 Hz 0,640 7,035 0,455 24 0,653
2º medição – 1º medição a 1000 Hz -0,200 5,292 -0,189 24 0,852
2º medição – 1º medição a 2000 Hz 1,440 4,263 1,689 24 0,104
2º medição – 1º medição a 3000 Hz 0,960 3,259 1,473 24 0,154
2º medição – 1º medição a 4000 Hz 1,240 3,811 1,627 24 0,117
2º medição – 1º medição a 6000 Hz 2,040 4,430 2,303 24 0,030
2º medição – 1º medição a 8000 Hz 2,040 3,931 2,594 24 0,016
Tabela 5: Diferenças entre as medições obtidas no ouvido esquerdo, sendo que o t representa o t de Student para amostras emparelhadas e o p os valores estatisticamente significantes com uma margem de erro de 5%.
Diferenças nas medições no Ouvido Esquerdo Média Desvio Padrão t Graus de Liberdade p
2º medição – 1º medição a 500 Hz 2,880 9,248 1,557 24 0,133
2º medição – 1º medição a 1000 Hz 2,680 6,549 2,046 24 0,052
2º medição – 1º medição a 2000 Hz 2,480 5,018 2,471 24 0,021
2º medição – 1º medição a 3000 Hz 1,480 6,131 1,207 24 0,239
2º medição – 1º medição a 4000 Hz 1,440 6,899 1,044 24 0,307
2º medição – 1º medição a 6000 Hz 2,880 5,325 2,704 24 0,012
2º medição – 1º medição a 8000 Hz 1,960 5,594 1,752 24 0,093
Nas Tabelas 4 e 5 constatamos os valores da TTS. O ouvido esquerdo obteve valores mais elevados do que o ouvido direito, exceto na frequência de 8000Hz. O p representa os valores estatisticamente significativos com uma margem de erro de 5%. No ouvido direito o p só foi significativo para os 6000Hz e 8000Hz e no ouvido esquerdo para os 2000Hz e os 6000Hz.
Analisando agora a tabela 6 pode-se verificar os valores de ruído, em dB(A), em cada frequência analisada pelo sonómetro. Conclui-se que, a frequência com níveis mais altos é a de 2000Hz com 74,78dB(A). No que concerne aos níveis de LEX, 8h obteve-se um valor máximo de 83,7dB(A) e um valor médio de 80,3dB(A).
Relativamente aos secadores, verifica-se que são utilizados, em média, 2 em cada salão e estes têm uma

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
DA SILVA C. ET AL.
62
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Tabela 6: Medições relativas ao ambiente sonoro dos salões de cabeleireiro.
250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz LEx, 8h (dB) Nº secad. Potência secador (W)
Salão A 60,46 71,59 75,27 76,82 77,68 73,68 82,60 2 1600 - 1900
Salão B 62,09 71,62 73,63 74,95 74,71 70,06 80,46 2 2000 - 2600
Salão C 59,11 69,66 71,67 70,98 69,68 65,53 77,04 4 1600 - 2000
Salão D 64,30 73,20 77,50 77,90 77,90 74,20 83,70 4 1500 - 2000
Salão E 60,80 68,60 72,60 73,00 70,90 66,60 78,10 2 1600-1900
Salão F 59,50 71,60 74,10 75,00 74,20 70,00 80,40 3 1800
Salão G 62,80 70,80 74,30 77,80 75,80 70,60 81,80 2 1800
Salão H 57,70 66,20 69,40 70,40 70,80 67,80 76,40 2 1600 - 2000
Salão I 64,80 73,50 77,40 75,80 75,00 70,70 82,20 2 1600 - 2000
Salão J 61,37 70,70 74,07 75,12 73,83 70,18 80,28 1 1800
Média 61,29 70,75 73,99 74,78 74,05 69,94 80,30 2,40 1800
Tabela 7: Medição relativa ao ambiente sonoro do salão de cabeleireiro que utilizava um silenciador no secador (confrontar com o salão A da tabela 6 pois são o mesmo salão).
250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz LEx, 8h (dB) Nº secad. Potência secador (W)
Salão A 64,12 69,18 73,56 74,39 70,09 61,29 78,67 1 1600 – 1900
potência média de 1800W. Nesta tabela, nenhum dos secadores utilizados possuía silenciador de ruído.
Apenas um salão possuía um silenciador de ruído. No entanto este só era utilizado num secador e esporadicamente. A Tabela 7 revela os níveis de pressão sonora aquando da utilização do silenciador.
DISCUSSÃO
Considerando que o ruído é o mais comum agente nocivo nos ambientes de trabalho e, tendo ele uma grande importância no meio ambiente das grandes cidades, ainda existe um precário e restrito investimento na sua redução e controlo. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar a audição dos cabeleireiros e perceber se estes, devido à sua profissão, apresentam perda auditiva temporária.
No que diz respeito aos valores de TTS encontrados
verificamos que foi encontrado um valor negativo de TTS, no ouvido direito, na frequência de 1000Hz. No estudo de Basso, et al., (3) houve uma melhoria dos limiares auditivos nas frequências de 250Hz e 500Hz, pós-jornada de trabalho. Isso pode ter ocorrido devido à avaliação no final do dia ter sido realizada em horário no qual o nível de ruído no local da avaliação era inferior ao da avaliação audiológica do início do dia (3).
Não foi encontrada nenhuma frequência sem TTS, ou seja, com um valor de 0.
Neste estudo, os valores da TTS só foram significativos, no ouvido direito para os 6000Hz e 8000Hz, em que o p foi de 0,030 e de 0,016 respetivamente, e no ouvido esquerdo em que o p foi de 0,021 nos 2000Hz e de 0,012 nos 6000Hz. Assim, a frequência comum foi a de 6000Hz. Na investigação de Silva (20), na qual estudou 14 indivíduos que trabalhavam numa indústria calçadista, 3 apresentaram alteração do limiar auditivo, também na frequência de

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 54 - 65.
63
6KHz. Por conseguinte, confirma-se a teoria de Fiorini (22), que diz que a PAIR tem início, predominantemente, na frequência de 6KHz.
Nos estudos de Kwitko et al (22) foram constatados percentuais de TTS em todas as frequências analisadas, mas com predominância nas frequências agudas.
Os valores relativamente baixos de TTS encontrados podem ser atribuídos ao tipo de ruído verificado no ambiente de trabalho (14).
Bernardi, et al., (6), ao estudar as influências de ruídos contínuos e intermitentes na produção de TTS, verifica que os ruídos intermitentes produzem menos TTS que os ruídos contínuos, confirmando a regra “on fraction” postulada por Ward em 1973. Tal regra afirma que se um ruído acontece somente em metade de um período total de exposição, ocasiona a metade da TTS que poderia ter sido produzida se um ruído tivesse sido contínuo. Como os secadores não são utilizados durante toda a jornada de trabalho, sendo que emitem um ruído intermitente, poderá ser assim explicado os valores relativamente baixos da TTS.
Em suma, as diferenças positivas nos limiares auditivos foram consideradas como indicativas do potencial da TTS e as diferenças negativas, como melhora na audição. Diferenças nulas indicaram ausência de TTS (22).
Relacionado agora a potência dos secadores com o nível de ruído que produzem e confrontando-o com as frequências mais afetadas em termos de TTS, teríamos de ter em atenção os 6000Hz por ser a frequência comumente afetada (em ambos os ouvidos). Como esta não foi uma frequência captada pelo sonómetro, devido ao facto da legislação apenas prever medidas em bandas de oitava, analisamos os 2000Hz e os 8000Hz, mais afetados no ouvido esquerdo e no direito, respetivamente.
Por consequência, os 2000Hz foram a frequência em que o ruído era superior, 74,78dB (A), contrastando com os 69,94dB (A) nos 8000Hz. Na pesquisa de Martins (14), em cabeleireiros, os indivíduos com TTS trabalhavam num local onde o nível de ruído encontrado estava entre 76 e 88dB (A).
Segundo o Decreto-Lei 182/2006 (23) de 6 de Setembro, no artigo 3º, ponto 1, os trabalhadores só podem estar expostos a 87dB(A), ao trabalharem 8 horas na presença de um ruído contínuo. No presente estudo o valor máximo de LEX, 8h obtido foi de 83,7dB (A) e o valor médio foi de 80,3dB (A). Desta feita, os valores alcançados não ultrapassam o máximo recomendado. No entanto o valor inferior de exposição que desencadeia a ação foi ultrapassado.
CONCLUSÃO
Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a audição dos cabeleireiros e verificar se estes apresentam perda auditiva temporária. Posto isto, vamos de encontro à questão de investigação número 1: A profissão de cabeleireiro provoca TTS? No presente estudo, apesar dos valores de TTS só terem sido estatisticamente significativos em duas frequências em cada ouvido (no ouvido direito nos 6000Hz e 8000Hz e no ouvido esquerdo nos 2000Hz e 6000Hz) podemos afirmar que esta profissão está sujeita a TTS. No entanto, os valores da perda não são muito acentuados. Relativamente à questão 2, o valor do LEX permanece abaixo do valor recomendado pelo Decreto-Lei 182/2006 de 6 de Setembro, artigo 3º, ponto 1, ou seja, 87dB(A), portanto o número de horas, neste contexto, não influencia a TTS. Ainda assim, o valor inferior de exposição que desencadeia a ação foi ultrapassado em diversos salões e, a ultrapassagem deste valor, 80dB(A), implica a tomada de medidas preventivas adequadas à redução do risco para a segurança e saúde

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
DA SILVA C. ET AL.
64
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
dos trabalhadores.
Quanto à questão 3, os valores da TTS só foram significativos, no ouvido direito nos 6000Hz e 8000Hz, e no ouvido esquerdo nos 2000Hz 6000Hz. Por conseguinte a frequência comumente afetada foi 6000Hz e não 4000Hz, como referencia grande parte da literatura.
Como medida futura, seria benéfico implementar nos salões a utilização de silenciadores nos secadores. Mas, para isto acontecer teria de haver uma sensibilização da classe profissional para adotar medidas preventivas, o que no geral, não acontece. No entanto, esta seria uma medida bastante proveitosa já que, estes conseguem reduzir cerca de 3dB(A) no nível de ruído. Infelizmente, só um salão utilizava silenciadores. Por consequência, um estudo possível no futuro seria confrontar valores da TTS em cabeleireiros de salões que utilizem silenciadores de ruído nos secadores, com valores da TTS resultantes de cabeleireiros de salões que não utilizem silenciadores e, assim, observar quais as frequências afetadas. Desta feita, verificar-se-ia qual é, de facto, o efeito dos silenciadores de ruído nos valores da TTS.
Como estudos futuros sugere-se, também, um trabalho com um período de recolha da amostra mais longo, no sentido de obter um maior número de profissionais disponíveis para participar e, também, introduzir a medição dos 6000Hz.
REFERÊNCIAS1. Brito, Viviane Pacheco Santana de. 1999. Incidência
de Perda Auditiva Induzida por Ruído em trabalhadores de uma fábrica. Audiologia Clínica, Centro De Especialização Em Fonoaudiogia Clínica. Goiânia : s.n., 1999.
2. Gelfand, Stanly A. 2001. Essentials of Audiology. 2º. New York : Thieme Medical Publishers, Inc, 2001.
ISBN 1-58890-017-7.3. Basso, Vânia Berticelli, Campos, Ana Lúcia e Thiesen,
Juliana. 2003. Estudo da alteração temporária do limiar auditivo em trabalhadores expostos ao ruído. Rev CEFAC. 2003, Vol. 5.
4. Subroto, S., Nandi, V. e Sarang, V. 2008. Occupational noise-induced hearing loss in India. Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2008, Vol. 2.
5. Bento, Ricardo Ferreira, Miniti e Marone. 1998. Tratado de Otologia. São Paulo : Editora da Universidade de São Paulo, 1998. Disponível em: http://books.google.com/books?id=vld9oYv_E-4C&printsec=frontcover&hl=pt-PT&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
6. Bernardi, Alice Penna de Azevedo, et al. 2006. Sáude do Trabalhador - Protocolos de Complexidade Diferenciada. 1ª Perda Auditiva Induzida por Ruído (Pair). Brazília : s.n., 2006.
7. MERLUZZI 1981.8. Barros, Samanta Marissane da Silva, et al. 2007.
A eficiência das emissões otoacústicas transientes e audiometria tonal na detecção de mudanças temporárias nos limiares auditivos após exposição a níveis elevados de pressão sonora. Rev. Bras. Otorrinolaringologia. 73, 2007, Vol. 5.
9. Russo, Iêda Chaves Pacheco. 1993. Acústica e Psicoacústica Aplicadas à Fonoaudiologia. São Paulo : Lovise, 1993.
10. Frota, S. e Iório, M. 2002. Emissões Otoacústicas por Produto de Distorção e Audiometria Tonal Limiar. Rev. Bras. de Otorrinolaringologia. 2002, Vol. 68.
11. Fletcher, Neville H. 1992. Acoustic Systems in Biology. New York : Oxford University Press, Inc, 1992. 0-19-506940-4.
12. OSHA, Occupational Safety & Health Administration. 1999. United States Department of Labor. [Online] 1999. [Citação: 18 de Novembro de 2011.] http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 54 - 65.
65
show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9735.13. Palma, Dóris C. 1999. Quando o ruído atinge a
Audição. Audiologia Clínica, Centro De Especialização em Fonoaudiologia Clínica. Porto Alegre : s.n., 1999.
14. Martins, Alessandra. 2001. Monografia de conclusão do curso de Especialização em Audiologia Clínica. Mudança Temporária do Limiar - Um estudo em cabeleireiros. Itajaí : s.n., 2001.
15. Bonaldi, Laís P., et al. 2001. Exposição ao Ruído: Aspectos Funcionais do Sistema Auditivo em Humanos e Morfológicos em Modelo Animal Experimental. Revista Brasileira de Otorrinolaringologia. 1, 2001, Vol. 67.
16. Dias, Fernanda Abalen Martins, et al. 2003. Efeitos do ruído em centros de beleza. Verificação da presença de queixas auditivas e extra-auditivas em profissionais que atuam em centros de beleza: Estudo Preliminar. Belo Horizonte – Minas Gerais : s.n., 2003.
17. Nassiri, P., Golbabai, F. e Mahmoudi, M. 1996. Occupational Health Problems of Hairdressers of Tehran. Acta Medica Iranica. 1996, Vol. 34.
18. Nudelmann, A., et al. 2001. PAIR: perda auditiva induzida pelo ruído. Rio de Janeiro : Editora Revinter LTDA, 2001.
19. BIAP. 1996. AUDIOMETRIC CLASSIFICATION OF
HEARING IMPAIRMENTS. BIAP Internation Bureau For Audiophonology. [Online] 26 de Outubro de 1996. [Citação: 10 de Novembro de 2011.] http://www.biap.org/biapanglais/rec021eng.htm.
20. Silva, Andréa França da. 1999. Monografia de conclusão do curso de Especialização em Audiologia Clínica. Mudança Temporária de Limiar Auditivo - Pesquisa em uma indústria calçadista. Porto Alegre : s.n., 1999.
21. Fiorini, A.C. 1994. Dissertação de Mestrado - PUC. Conservação Auditiva: estudo sobre o monitoramento audiométrico em trabalhadores de uma indústria metalúrgica. São Paulo : s.n., 1994.
22. Kwitko, A., Pezzi, R. G. e Moreira, A. F. S. 1992. Ruído Industrial: Perda Auditiva Temporária e condutas para Conservação da Audição. Revista da Amrigs. 1992.
23. Decreto-Lei nº. 182/2006, 2006. Diário da República. 6 de Setembro de 2006.
Correo Autor: [email protected]
Fecha de Aceptación: 10 de Abril del 2017 Fecha de Publicación: 31 de Mayo del 2017
ACEPTACIÓN Y CORRESPONDENCIA

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
SALGADO K. ET AL.
66
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
ESTUDIO DEL PARTO PREMATURO ASOCIADO A INFECCIONES UROGENITALES EN MADRES CONTROLADAS
EN LOS CENTROS DE SALUD FAMILIAR DE ARICAKATHERINE SALGADO1, ÚRSULA ACEVEDO1, CAMILA FIGUEROA1, JACQUELINE ZAVALA1, PAULINA ZURITA1.
INTRODUCCIÓN
En el mundo, anualmente, ocurren alrededor de 13 millones de partos prematuros, representando cerca del 75% de la mortalidad neonatal y cerca de la mitad de la morbilidad neurológica a largo plazo. La frecuencia de estos partos prematuros alcanza desde 5 a 11% en los países desarrollados, hasta 40% en algunos menos desarrollados, considerándose así un problema de Salud Pública (1, 2).
El parto prematuro, se define como aquel que ocurre
entre las 22 y 37 semanas de gestación con un peso fetal a partir de los 500 gramos (3) ha sido una situación preocupante y alarmante para los especialistas del área de Obstetricia y Neonatología, tanto a nivel mundial como nacional. En Chile las cifras se han mantenido estables durante las últimas décadas, siendo esta aproximadamente de 5% (4).
Esto ha llevado a realizar diversos estudios de investigación para determinar los factores que
Study of premature pregnancy related to urogenital infections in controlled mothers at arica's family health centers
1 Departamento de Obstetricia, Facultad de ciencias de la salud, Universidad de Tarapacá, Arica - Chile.
RESUMEN El parto prematuro es un problema de morbi-mortalidad en Salud Pública, que afecta entre 5 y 40% de los embarazos a nivel mundial, y aunque Chile se encuentra en el porcentaje menor, aun afecta a una elevada cantidad de mujeres. Está condición, con etiología desconocida, y con algunos factores de riesgo identificados, aún requiere conocer los signos o síntomas que puedan indicar la predicción de un parto prematuro. El objetivo de esta investigación fue estudiar a las madres con parto prematuro asociados a infecciones urogenitales controladas en los Centros de Salud de Atención Primaria de Arica en el año 2009. Por medio de un estudio de corte transversal, se recolectados los antecedentes de 43 mujeres que presentaron partos prematuros y que fueron atendidas en el sistema público de salud de la ciudad de Arica, estos fueron analizados estadísticamente de forma univariada y bivariada, según las variables estudiadas. Los resultados que se encontraron fueron que 81,5% de las gestantes acudieron menos de las 7 veces recomendadas por la norma técnica, lo que se suma a 18% que acudió a su primer control después de la semana 20 de gestación, además, 90% de los partos prematuros, se presentó entre las 33 a 36 semana. Se concluye que el parto prematuro guarda relación directa con las infecciones del Tracto Urinario, y en 36% de estas requirió hospitalización, por lo que se debe presentar una mayor observación a las gestantes que presentes estas infecciones.
Palabras clave: Parto prematuro, ITU, centros de salud, salud pública.
ABSTRACTIn Public Health, premature birth is a serious problem of morbidity and mortality, which affects between 5 and 40% of pregnancies, and although Chile is in the lowest percentage, still it affects a large number of women. This is a condition with unknown etiology, and some identified risk factors, is necessary to know the signs or symptoms that may indicate the prediction of premature birth. The objective of this research was to study the mothers with preterm birth associated with controlled urogenital infections in the Primary Health Care Centers of Arica in 2009. Through a cross-sectional study, it were revised medical folders of 43 women who had preterm deliveries and were treated in the public health system from Arica, these were statistically analyzed by univariate and bivariate, according to the variables studied. The results found were that 81.5% of pregnant women attended less than a 7 times recommended by the Technical norm, which adds to 18% who went to his first control after 20 weeks gestation, also 90% of premature births, appeared among 33-36 week. It is concluded that premature birth is directly related to the Urinary Tract Infections, and 36% of these required hospitalization, so it must be presented further observation to pregnant women that present these infections.
Keywords: Premature birth, UTI, Healthy centers, public health.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 66 - 74.
67
producen ésta afección, centrándolos en los síntomas desencadenantes de dicha situación que son producidos por ciertos fenómenos fisiopatológicos diferentes que van a tener como efecto la aparición de síntomas o pródromos indicativos del riesgo de interrupción del embarazo. Estos fenómenos, donde la mayoría son de origen desconocido, pueden deberse a causa de infecciones, factores isquémicos, mecánicos, alérgicos e inmunes (5), cuyo diagnóstico se basa en tres pilares fundamentales que son la edad gestacional, características de las contracciones uterinas y el estado del cuello uterino que permiten distinguir entre un síntoma de parto prematuro. Pese a todos los esfuerzos realizados por el equipo de salud en la atención primaria, donde se realiza la prevención y promoción de ésta patología para pesquisar factores de riesgo tanto en el embarazo actual como en los anteriores. Algunos de estos factores de riesgo son la gestación múltiple, la edad materna menor a 16 años o mayores a 40 años, un polihidroamnios, infecciones urogenitales, anomalía congénita mayor, antecedente de rotura prematura de membranas, entre otros que afectan a un número significativo de gestantes que están manteniendo o incluso aumentando la incidencia de parto prematuro. La infección del tracto urinario tiene una incidencia de 3 a 12% durante el embarazo, teniendo una estrecha relación con el parto prematuro. Según el Ministerio de Salud (MINSAL) define la infección del tracto urinario como el hallazgo de 100.000 o más colonias de gérmenes por ml de orina de segunda micción recolectada con técnica estéril, sin embargo, se debe considerar como infección urinaria los casos en que el recuento de colonias es inferior a 100.000 especialmente cuando la identificación del germen revela presencia de los géneros Pseudomonas, Klebsiella o Proteus, sin olvidar que los órganos genitales externos femeninos son de igual manera áreas portadoras de microorganismos y están sujetos a las mismas enfermedades infecciosas que otras partes de la piel (6, 7).
Con el correr del tiempo y, a medida que los métodos
diagnósticos han sido perfeccionados y que los conocimientos relacionados con los microorganismos se han profundizado, se ha logrado en muchos casos realizar un tratamiento precoz y oportuno previniendo de esta forma complicaciones en el feto y neonato (8), sin embargo, no existen estudios a nivel local sobre el impacto y significancia que tienen las infecciones urogenitales sobre el parto prematuro, es por eso que el objetivo de la presente investigación fue conocer la relación existente entre ambos y de la participación de los Centro de Salud de Atención Primaria de Arica en su prevención.
MATERIAL Y MÉTODO
Tipo de estudio: Se realizó un estudio observacional (9) de corte transversal en un grupo de madres, con el antecedente de parto prematuro asociado a infecciones urogenitales.
Lugar del estudio: Pacientes controladas en los Centros de Salud Familiar de la ciudad de Arica durante el año 2009.
Población o Universo: La población correspondió a un total de 2.197 partos (Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé Crevani) de los cuales 141 eran parto prematuro, estos se produjeron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009 en la ciudad de Arica.
Muestra: La constituyeron 43 partos prematuros controlados en la Atención primaria, de los cuales 30 fueron gestantes que presentaron parto prematuro asociado a infecciones urogenitales en el año 2009.
Instrumentos: Se confeccionó una ficha de recolección de datos, la cual se basó en la ficha perinatal. De ella se obtuvieron los antecedentes generales, mórbidos y obstétricos de las gestantes, además de los antecedentes

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
SALGADO K. ET AL.
68
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
del embarazo, parto y del recién nacido. También se incluyó factores de riesgo para parto prematuro y su eventual manejo o tratamiento previo al parto.
La ficha confeccionada para la recolección de datos, sirvió para reunir, guiar y clasificar las informaciones según determinadas categorías, mediante la anotación y registro de sus frecuencias bajo la forma de dato, además se utilizaron la Ficha de Control Prenatal del Consultorio de origen y Base de datos estadísticos correspondiente al Hospital Dr. Juan Noé Crevani.
Análisis Estadístico. La información recopilada fue digitada en una base Excel de doble captura para evitar errores de mecanografía. Luego esta información se codificó y tabuló para llevarla a un Software computacional STATA 11.0 (10), el cual permitió realizar los análisis Univariados o Bivariados dependiendo de los objetivos planteados.
RESULTADOS
La Figura 1, muestra la distribución de la muestra de pacientes de acuerdo al rango de edades, categorizadas de 15 a 18 años, 19 a 24 años, 25 a 29 años y 30 a 38 años, respectivamente.
Figura 1: Distribución de la población en estudio según Rangos de Edades.
Figura 2: Distribución de la población en estudio según Nivel Educacional.
Figura 3: Edad Gestacional de Ingreso a Control Prenatal del último embarazo de las madres en estudio en Arica el año 2009.
La Figura 2, muestra el nivel educacional de acuerdo a básica completa, media completa y otros niveles. La
Figura 3, muestra las semanas de gestación de ingreso a control prenatal, considerando antes de las 12 semanas, después de las 12 semanas y control tardío después de las 20 semanas.
En la Figura 4 se observa la frecuencia del número de controles prenatales realizados a las usuarias en estudio, comprendidas en mayor a 10 controles, entre 7 y 10 controles, de 4 a 6 y en menos de 3.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 66 - 74.
69
Figura 4: Números de Controles Prenatales del último embarazo de las madres en estudio en Arica el año 2009.
Figura 7: Antecedentes y resultados de exámenes de Urocultivo tomados a las gestantes durante el último embarazo en la ciudad de
Arica en el año 2009.
Figura 8: Antecedente y resultado de exámenes de cultivo Endocervical tomados a las gestantes durante el último embarazo en la ciudad de
Arica en el año 2009.
Figura 5: Antecedentes de Abortos de las madres con Parto Prematuro controladas en los Centro de Salud de Atención Primaria en de Arica
el año 2009.
Figura 6: Distribución de la población según el antecedente y resultado del examen de Orina a las gestantes durante el último embarazo en la
ciudad de Arica en el año 2009.
En la Figura 5 se destaca el antecedente de aborto en las pacientes controladas en los distintos centros de salud.
La Figura 6 muestra los antecedentes y resultados del examen de orina a las gestantes, clasificándolos en normal o alterado.
La Figura 7 muestra los antecedentes y resultados de exámenes de urocultivo tomados en las gestantes del estudio.
La Figura 8 muestra los resultados de cultivo endocervical tomados en las gestantes, clasificándolos en normal o alterado.

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
SALGADO K. ET AL.
70
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Figura 9: Agentes causales de Infecciones urogenitales en las madres controladas en los Centro de Salud de Atención Primaria de Arica el
año 2009.
Figura 10: Manejo farmacológico de las Infecciones urogenitales en las madres controladas en los Centro de Salud de Atención Primaria de
Arica el año 2009.
Figura 11: Causa de Hospitalización previa al Parto Prematuro en las madres controladas en los Centro de Salud de Atención Primaria de
Arica el año 2009.
Figura 12: Edad Gestacional del Parto Prematuro en las madres controladas en los Centro de Salud de Atención Primaria de Arica el
año 2009.
La Figura 9 muestra el agente causal más frecuente en las infecciones urogenitales encontradas en las gestantes
En la Figura 10 se muestra el tratamiento más frecuente utilizado en las pacientes.
La Figura 11 muestra la principal causa de hospitalización de las gestantes, clasificándolas en Síntomas de Parto Prematuro (SPP), Síndrome Hipertensivo del Embarazo (SHE), Rotura Prematura Ovular (RPO) e Infección del Tracto Urinario (ITU).
La Figura 12 muestra las semanas de gestación en que ocurrió el parto prematuro.
DISCUSIÓN
En la Figura 1 se destaca que 34,8% de las madres en estudio se encontraba en el rango de edad entre 25 a 29 años al momento del estudio, y en porcentaje menor se observa en aquellas madres que están entre los 30 a 38 años de edad con 18,6%.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 66 - 74.
71
De acuerdo a la Figura 2 en el antecedente de nivel educacional se destacó que 88,3% correspondió a madres que cursaron enseñanza media completa, 9,3% sólo curso enseñanza básica completa y se destaca que ninguna de las madres en estudio curso algún tipo de estudio superior.La figura 3 ilustra el inicio precoz de los controles en un 53,4 %, se debe destacar que 18,6% de las madres tuvo un ingreso tardío al control de embarazo.
Se puede observar en la figura 4 el número de controles de embarazo que se destacó un 55,8 % que se encuentran en el rango promedio de 4 a 6 controles de embarazo. Es importante mencionar que 25,5% de las gestantes en estudio acudieron entre 1 y 3 controles de embarazos. La norma técnica nos pide evaluar y fomentar a que el número mínimo de controles debe ser 7, pues es la única forma de pesquisar factores de riesgo.
Según la figura 5 se observa que 88,3% de las madres con parto prematuro, no presentaban antecedentes de aborto y 11,6 % de ellas si presentaron antecedente de aborto. De las 5 gestantes con antecedentes de aborto (11,6%), se debe destacar que 80% presento solo un aborto y 20% restante de las madres tenían antecedentes de 2 abortos previos.
Se aprecia en la figura 6 que los exámenes de orina tomados con resultados normales y alterados abarcaron 48,8% cada uno. Se observó que el primer Urocultivo tomado en el control de embarazo, 30,2% dio resultado positivo y, 60,4% arrojó resultado negativo. En el segundo Urocultivo tomado, se observó que 6,9% de los exámenes fueron positivos y 30,2% sus resultados fueron negativos de acuerdo a la figura 7. La figura 8 mostró en el caso de los Cultivos Endocervicales sólo se realizó en 9 gestantes de los cuales 13,9% se encontraron alterados.
Se destaca en la figura 9 que 69,7% de las madres en estudio presentó durante su último embarazo un episodio
de infección urogenital, mientras que 30,2% no refirió antecedentes. De un total de 27 infecciones urogenitales, se observa que el agente causal con mayor frecuencia correspondió a la Escherichia coli con 18,5%. También los Polimicrobianos y la actuación de más de un agente infeccioso correspondieron a 18,5% cada uno (16).
En la Figura 10 se menciona que de las 27 gestantes con infecciones urogenitales que se sometieron a tratamiento, predominó la Nitrofurantoína con 25,9%, seguido por el uso de Metronidazol, Ampicilina y Nistatina, cada una con 7,4 %. Cabe destacar que en 40,7% no se hallaron datos de algún tipo de tratamiento utilizado (10).
Se observa en la figura 11 que de las principales causas de hospitalización durante el embarazo, predominaron las Infecciones del Tracto Urinario con 36,3%, seguido con 27,2% por motivo de Rotura Prematura Ovular (13,14). En menor porcentaje, las gestantes fueron hospitalizadas a causa del Síntoma de Parto Prematuro junto o Síndrome Hipertensión del embarazo con 18,1% cada una (12). En Chile, el nivel de incidencia de parto prematuro para el año 2009 oscila en 7% del total de partos (11). A nivel local este estudio demuestra que de un total de 3485 partos en la ciudad de Arica para dicho año, el parto prematuro tuvo una incidencia de 7,63%.
Se aprecia en la figura 12 que de los 43 partos prematuros, 69,73% se presentó principalmente entre las 33 y 36 semanas de gestación. Entre las 30 y 32 semanas de gestación se presentaron 16,28% (15). De estos partos prematuros, se observó que los ocurridos entre las 24 y 26 semanas y entre las 27 y 29 semanas correspondieron a un porcentaje menor con 7% cada uno.
CONCLUSIÓN
De los 3.485 partos ocurridos en Arica en el año 2009,

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
SALGADO K. ET AL.
72
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
2.197 partos fueron atendidos en el Hospital Dr. Juan Noé Crevani, de los cuales el parto prematuro tuvo una incidencia del 7,63%. y de ellos un 2,33% fueron asociados a infecciones urogenitales. Sin embargo, no existen estudios a nivel local sobre el impacto y significancia que tienen las infecciones urogenitales sobre el parto prematuro, es por eso que el objetivo de la presente investigación fue conocer la relación existente entre ambos y de la participación de los Centro de Salud de Atención Primaria de Arica en su prevención.
El Centro de Salud de Atención Primaria con mayor frecuencia de partos prematuros fue el Amador Neghme, donde también se halló que de un total de 11 pacientes que concurrieron a un número menor de 3 controles de embarazo, 7 de ellas pertenecían a dicho centro de salud.De acuerdo a todos los antecedentes relevantes ya expuestos podemos concluir finalmente que el parto prematuro tiene una estrecha relación con las infecciones urogenitales. Para poder reducir el parto prematuro como consecuencia de una infección urogenital es importante la pesquisa, la prevención, el tratamiento oportuno y eficaz de estas afecciones en los Centros de Salud de Atención Primaria durante los controles prenatales para así disminuir sus consecuencias.
REFERENCIAS
1. Luis Alberto Villanueva Egan, Ada Karina Contreras Gutiérrez, Mauricio Pichardo Cuevas, Jaqueline Rosales Lucio, Perfil epidemiológico del parto prematuro, Volumen 76, núm. 9, septiembre 2008.
2. Guía Perinatal 2015 Subsecretaría de Salud Pública División Prevención y Control de Enfermedades Departamento de Ciclo Vital Programa Nacional Salud de la Mujer Resolución Exenta Nº 271 / 04.06.2015 ISBN: 978-956-348-076-4
3. Luis Alberto Villanueva Egan, Ada Karina Contreras
Gutiérrez, Mauricio Pichardo Cuevas, Jacqueline Rosales Lucio. Perfil epidemiológico del parto prematuro. Volumen 76, núm. 9, Septiembre 2008.
4. Dra. Pilar Matamala. Capítulo 18, parto prematuro. Guía clínica departamento de Obstetricia y ginecología Hospital de la Universidad de Chile. Santiago 2005; 227-241.
5. Ministerio de Salud de Chile, Guía Clínica Prevención del Parto Prematuro. 1° Edición, Santiago 2005.
6. Ministerio de Salud. “Texto guía para la atención del Alto riesgo obstétrico y perinatal”.1987; 85-94.
7. Lennette, Ewin H. “Manual de Microbiología Clínica”. Editorial Panamericana, 4° Edición. Buenos aires, Argentina, 1987.
8. Pérez Sánchez, A. “Obstetricia”. Editorial Mediterráneo, 2° Edición. Santiago Chile, 1992; 247; 406-409; 446-420.
9. www.stata.com10. CALDERON CH, Ulises et al. PIELONEFRITIS
AGUDA EN EL EMBARAZO Y SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE UROPATÓGENOS: COMPARACIÓN DE DOS DÉCADAS. Rev. chil. obstet. ginecol. [online]. 2009, vol.74, n.2 [citado 2010-08-01]. 88-93. Disponible en: VRL:http://www.scielo.cl
11. Joyce A. Martin, M.P.H., epidemiologist, U.S. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics; Un informe de EE. UU. muestra que los índices de nacimientos prematuros se reducen, Artículo por HealthDay, traducido por Hispanicare, 2008. www.medline.com
12. Dra. Pilar Matamala. Capitulo 18, parto prematuro. Guía clínica departamento de Obstetricia y ginecología Hospital de la Universidad de Chile. Santiago 2005; 227-241.
13. FANEITE, Pedro, GOMEZ, Ramón, MARISELA, Guninad et al. Amenaza de parto prematuro e infección urinaria. Rev Obstet Ginecol Venez. [online]. mar. 2006, vol.66, no.1 [citado 01 Agosto 2010], p.1-6. Disponible en. VRL: http://www.scielo.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 66 - 74.
73
org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0048-77322006000100001&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0048-7732.
14. Dr. Misael Amador Moraga. Gineco-Obstetra. Resultados perinatales en partos prematuros que recibieron corticoides antenatales en el Hospital “Dr. Fernando Vélez Paiz”. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. 2009. 3- 96
15. Dr. Roiler Martínez Guevara,Dr. Rabiel Cárdenas Peña, Dr. Julio Pérez Pantoja. HOSPITAL GENERAL DOCENTE, DR. ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA LAS TUNAS, Comportamiento del parto pretermino, Cuba. 2006
16. Dra. Natalia Salas Biol, Juan Felipe Ramírez. Prevalencia de microorganismos asociados a infecciones vaginales en 230 mujeres gestantes y no gestantes sintomáticas del centro de salud la Milagrosa en el municipio de Armenia Colombia, revista colombiana de obstetricia y ginecología volumen 60 n° 2 años 2009. SciELO Chile - Scientific Electronic Library Online. Disponible en VRL: Htpp://www.scielo.cl.
17. Luis Alberto Villanueva Egan, Ada Karina Contreras Gutiérrez, Mauricio Pichardo Cuevas, Jaqueline Rosales Lucio, Perfil epidemiológico del parto prematuro, Volumen 76, núm. 9, septiembre 2008.
18. Luis Alberto Villanueva Egan, Ada Karina Contreras Gutiérrez, Mauricio Pichardo Cuevas, Jacqueline Rosales Lucio. Perfil epidemiológico del parto prematuro. Volumen 76, núm. 9, Septiembre 2008.
19. Guía Perinatal 2015 Subsecretaría de Salud Pública División Prevención y Control de Enfermedades Departamento de Ciclo Vital Programa Nacional Salud de la Mujer Resolución Exenta Nº 271 / 04.06.2015 ISBN: 978-956-348-076-4
20. Dra. Pilar Matamala. Capítulo 18, parto prematuro. Guía clínica departamento de Obstetricia y ginecología
Hospital de la Universidad de Chile. Santiago 2005; 227-241.
21. Ministerio de Salud de Chile, Guía Clínica Prevención del Parto Prematuro. 1° Edición, Santiago 2005.
22. Ministerio de Salud. “Texto guía para la atención del Alto riesgo obstétrico y perinatal”.1987; 85-94.
23. Lennette, Ewin H. “Manual de Microbiología Clínica”. Editorial Panamericana, 4° Edición. Buenos aires, Argentina, 1987.
24. Pérez Sánchez, A. “Obstetricia”. Editorial Mediterráneo, 2° Edición. Santiago Chile, 1992; 247; 406-409; 446-420.
25. MANTEROLA, C. & OTZEN, T. Estudios observacionales. los diseños utilizados con mayor frecuencia en investigación clínica. Int. J. Morphol., 32(2):634-645, 2014.
26. www.stata.com27. CALDERON CH, Ulises et al. PIELONEFRITIS
AGUDA EN EL EMBARAZO Y SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE UROPATÓGENOS: COMPARACIÓN DE DOS DÉCADAS. Rev. chil. obstet. ginecol. [online]. 2009, vol.74, n.2 [citado 2010-08-01]. 88-93. Disponible en: VRL:http://www.scielo.cl
28. Joyce A. Martin, M.P.H., epidemiologist, U.S. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics; Un informe de EE. UU. muestra que los índices de nacimientos prematuros se reducen, Artículo por HealthDay, traducido por Hispanicare, 2008. www.medline.com
29. Dra. Pilar Matamala. Capitulo 18, parto prematuro. Guía clínica departamento de Obstetricia y ginecología Hospital de la Universidad de Chile. Santiago 2005; 227-241.
30. FANEITE, Pedro, GOMEZ, Ramón, MARISELA, Guninad et al. Amenaza de parto prematuro e infección urinaria. Rev Obstet Ginecol Venez. [online]. mar. 2006, vol.66, no.1 [citado 01 Agosto 2010], p.1-6. Disponible en. VRL: http://www.scielo.

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
SALGADO K. ET AL.
74
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0048-77322006000100001&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0048-7732.
31. Dr. Misael Amador Moraga. Gineco-Obstetra. Resultados perinatales en partos prematuros que recibieron corticoides antenatales en el Hospital “Dr. Fernando Vélez Paiz”. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. 2009. 3- 96
32. Dr. Roiler Martínez Guevara,Dr. Rabiel Cárdenas Peña, Dr. Julio Pérez Pantoja. HOSPITAL GENERAL DOCENTE, DR. ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA LAS TUNAS, Comportamiento del parto pretermino, Cuba. 2006
33. Dra. Natalia Salas Biol, Juan Felipe Ramírez.
Prevalencia de microorganismos asociados a infecciones vaginales en 230 mujeres gestantes y no gestantes sintomáticas del centro de salud la Milagrosa en el municipio de Armenia Colombia, revista colombiana de obstetricia y ginecología volumen 60 n° 2 años 2009. SciELO Chile - Scientific Electronic Library Online. Disponible en VRL: Htpp://www.scielo.cl.
Correo Autor: [email protected]
Fecha de Aceptación: 10 de Abril del 2017 Fecha de Publicación: 31 de Mayo del 2017
ACEPTACIÓN Y CORRESPONDENCIA

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 75 - 83.
75
EXPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA PORTUGUESA EM PROCEDIMENTOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS
CÁTIA PINTO1, SÍLVIA VENTURA1, GRACIANO PAULO1, JOANA SANTOS1
INTRODUÇÃO
Durante a prática clínica, os médicos Pediatras deparam-se com uma grande variedade de patologias associadas ao sistema músculo-esquelético (1). Estudos revelam que a ocorrência de lesões em pediatria é muito frequente, tendo estas uma percentagem ao ano de 20,25% (1 - 3). Na idade pediátrica, a patologia músculo-esquelética tem uma grande importância, dado que concluiu-se que 6% das visitas a um serviço de Pediatria são por queixas
músculo-esqueléticas, sendo 30% dos casos resultantes de traumatismos ou lesões de sobreuso (2).
Algumas das patologias mais frequentes descritas para a população pediátrica portuguesa são as lesões osteoarticulares associadas a fraturas, representando 10 a 25% de todas as lesões, pois cerca de um terço das crianças têm, pelo menos, uma antes dos 17 anos (2, 3). A doença displásica da anca afeta 1 em cada 1000 crianças,
Exposure of the Portuguese pediatric population to musculoskeletal procedures
1 Departamento de Imagem Médica e Radioterapia da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra.
RESUMO Introdução: Dado o número de exames efetuados em Ortopedia pediátrica e a grande sensibilidade dos bebés, crianças e adolescentes às radiações ionizantes, é fulcral estabelecer protocolos que minimizem os níveis de dose, de forma a diminuir os riscos inerentes às exposições pediátricas. Objectivo: Analisar a frequência média de exames por criança e a exposição associada. Material e Métodos: Foram analisados os cabeçalhos Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM) armazenados no Picture Archiving and Communication System (PACS). A análise retrospetiva foi efetuada para a especialidade de Ortopedia, para as modalidades de Radiologia Geral (RG), Tomografia Computorizada (TC) e Bloco Operatório (BO). Posteriormente, estabeleceram-se os Níveis de Referência de Diagnóstico (NRD´s) com base nos valores do Percentil 75 (P75) dos valores de dose obtidos. Resultados: Dos 1929 exames analisados o mais frequente foi a RG com 1880. Foi possível determinar os NRD´s para 14 regiões anatómicas para 4 dos 5 grupos etários (1, 5, 10 e 15 anos). Em TC foi apenas possível determinar NRD´s para a TC coluna vertebral de 1 grupo etário. Os procedimentos de fluoroscopia ortopédicos revelaram-se pouco frequentes no período em estudo e na sua maioria não possuíam informação da exposição. Conclusões: A análise de dados, apesar de limitada temporalmente, proporciona uma análise da exposição pediátrica em radiologia geral. A literatura internacional foca apenas uma das catorze regiões anatómicas em estudo dificultando a comparação dos valores de dose e mostrando a necessidade de mais estudos nesta área.
Palavras chaves: Ortopedia pediátrica, radiações ionizantes, radiologia.
ABSTRACTIntroduction: Given the number of exams performed in paediatric orthopaedics and the great sensitivity of newborn, infants and teenagers to ionizing radiation, it is crucial to establish protocols that minimize the dose levels, in order to reduce the risk inherent to paediatric exposures. Prupose: Analyse the average rate for child exams and associated exposure. Materials and methods: The Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM) headers stored in Picture Archiving and Communication (PACS) were analysed. A retrospective analysis was performed for Orthopaedic specialty at the modalities of General Radiology (RG), Computed Tomography (CT) and Operating Room (OR). Later, it was settled the Diagnostic Reference Levels (DRL’s) based on the values of the 75th Percentile (P75) of the dose values. Results: Of the 1929 surveys analysed the most frequent was the RG with 1880. It was possible to determine DRL’s for 14 anatomical regions at 4 of the five age groups (1, 5, 10 and 15 years). TC was only possible to determine NRD for the TC spine in 1 age group. Orthopaedic fluoroscopy procedures have proved to be infrequent in the study period and mostly had no exposure information. Conclusions: Despite temporally limited the data analysis provides an analysis of paediatric exposure in general radiology. The international literature focuses on only one of the fourteen anatomic regions under study hindering the comparison of dose values and showing the need for more studies in this area. Key words: Pediatric orthopedics, ionizing radiations, radiology.

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
PINTO C. ET AL.
76
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Table 1. Classificação etária por peso, faixa etária e idade mais comum pelos Níveis de Referencia de Diagnóstico (NDR´s)(9).
Descrição Grupo por peso
Grupo por faixa etária
Idade mais comum pelos NDR’s
Recém-nascido <5kg < 1 mês 0 anos
Criança (Primeira infância) 5-<15kg 1 mês - < 4
anos 1 anos
Meia Infância 15-<30kg 4 anos - < 10 anos 5 anos
Início da adolescência 30-<50kg 10 anos - <
14 anos 10 anos
Final da adolescência 50-<80kg 14 anos - <
18 anos 15 anos
por isso um diagnóstico o mais precoce possível é muito importante, de modo a que as consequências do não tratamento sejam evitadas (2, 3).
A Escoliose Idiopática do Adolescente (EIA) é também uma patologia muito frequente em idade pediátrica, representando cerca de 80-85% de todas as escolioses, e de todas as variantes esta possui uma prevalência global de 3%. A sua confirmação é efetuada através de uma radiografia de toda a coluna vertebral (extra-longo), pois esta permite avaliar a magnitude, localização e tipo de curvatura (1, 4).
Os desvios axiais dos joelhos são muito frequentes na idade pediátrica nos primeiros anos de vida. A avaliação e diagnóstico da existência de desvios patológicos é muito importante de modo a que se possa intervir na correção dos mesmos (2).
A detecção e o tratamento precoce de algumas delas impedem o agravamento das mesmas. Nestes casos, a realização de exames complementares de diagnóstico e, muitas vezes, a recorrência a intervenções cirúrgicas é fundamental (2, 4). Talvez por alguns dos motivos descritos anteriormente, nas últimas décadas, tem-se observado uma progressiva utilização das radiações ionizantes na população pediátrica, em procedimentos médicos, levando a um aumento da dose efectiva (5). Dada a elevada sensibilidade dos bebés, crianças e adolescentes à radiação verifica-se a constante necessidade e interesse em estabelecer protocolos que adequem os níveis de dose, de forma a diminuir os riscos (5). Para a realização de estudos na população pediátrica é necessário que as crianças sejam organizadas segundo uma categorização, uma vez que, desde o nascimento até à adolescência diversas características das mesmas se
vão modificando. Da revisão da literatura, verifica-se que que há uma grande heterogeneidade na forma de agrupar as crianças. Assim, o relatório da United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) de 2013, que analisa os riscos de exposição à radiação ionizante para idades inferiores a 20 anos, procedeu à divisão por grupos etários (<1 ano, 1-5, 5-10, 10-15, 15-18 anos), porém outros dividem por idades especificas (0,5,10,15 anos) ou então em recém-nascidos e crianças (6 - 8). O Projeto Europeu Paediatric Imaging Diagnostic Reference Level (PiDRL), literatura mais recente, divide as crianças por peso e efetua a sua correspondência para os respetivos grupos etários, como se observa na seguinte Tabela:
Segundo o relatório de 2008 da UNSCEAR, os atos médicos representam a segunda maior fonte de exposição à radiação ionizante (6). De entre os vários procedimentos que envolvem o uso da radiação, vários autores consideram que a Tomografia Computorizada (TC) é o exame que mais contribui para a dose efectiva, comparativamente a uma radiografia. É de referir também que os procedimentos de intervenção em Bloco Operatório (BO), com recurso a fluoroscopia, podem entregar doses elevadas para os vários órgãos da criança, especialmente no cérebro, olho e coração. Atualmente, os valores de dose utilizados em procedimentos fluoroscópicos ortopédicos ainda é uma incógnita, sabendo-se apenas que estes contribuem com

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 75 - 83.
77
2,5% da dose em exames pediátricos (6, 10, 12). A maior radiossensibilidade dos tecidos, os efeitos cumulativos da radiação ao longo da vida e a idade tornam as populações pediátricas mais vulneráveis aos efeitos da radiação, desta forma, é fulcral a criação de meios que orientem a prática clínica diária (13, 14). A nível Europeu, foram criadas diretivas de proteção radiológica baseadas na Diretiva do Conselho Europeu No. 97/43/Euratom de 30-06-1997 e nas Recomendações do International Commission on Radiological Protection (ICRP). Estas diretivas referem a importância de ter sempre em conta o uso de meios de proteção radiológica e praticar baixos níveis de exposição. Associado a estes parâmetros deve-se ainda relacionar a justificação e a otimização segundo o princípio As Low As Reasonably Achievabel (ALARA). Este deve reger a prática clínica de todos os profissionais de saúde que lidam diariamente com radiações ionizantes, de forma a aumentar os benefícios em detrimentos dos riscos (6, 13, 15,16).
Descritores de dose Os riscos induzidos pela radiação estão correlacionados com a dose média absorvida pelos órgãos. Dado que a dose não pode ser medida diretamente, foram propostos descritores de dose específicos. Para a Radiologia Geral (RG) e Fluoroscopia utiliza-se o Entrance Surface Dose (ESD) e Dose Area Product (DAP). Enquanto que, para a TC se convencionou o Computed Tomography Dose Index (CTDIvol) e Dose-Lenght Product (DLP)(17, 18).
O cálculo da dose efetiva é considerado o melhor descritor de dose para indicar a radiossensibilidade do tecido aos efeitos da radiação. Esta é uma quantidade que reflete o risco de uma exposição não uniforme à radiação ionizante em termos de corpo inteiro e permite estimar o risco de desenvolvimento de uma sequela num período mais longínquo. A dose efetiva permite a comparação dos riscos
entre vários procedimentos radiológicos, sendo descrita em microsievert ou milisivert (µSv ou mSv) (12, 13, 18). Os objetivos deste trabalho de investigação são a análise da frequência média de exames por criança e a exposição associada.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo efetuou-se em Portugal, no Serviço de Radiologia do Hospital Pediátrico do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.
A recolha de dados foi efetuada no Picture Archiving and Communication System (PACS) tendo por base a avaliação dos cabeçalhos Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM) da especialidade de Ortopedia, no intervalo de tempo de 21 de Fevereiro a 22 de Março de 2016. O método de recolha de dados foi retrospetivo, visto que foram consultados os ficheiros anteriores ao momento de recolha dos mesmos. A análise dos ficheiros de dose contemplou exames de RG, TC e BO realizados em crianças no respetivo hospital, foram analisados os cabeçalhos DICOM e registados os valores de dose nuns documentos de Microsoft Office Excel (v 2010). A amostra foi compreendida pelo número de crianças que efetuou um exame no período de tempo indicado anteriormente, e as informações registadas de todos os doentes foram: o número de identificação do exame, género, data de nascimento, região anatómica, incidência, valores de DAP e DLP. O estudo não teve em conta a avaliação de uma doença ou intervenção específica. Sendo assim, como critérios de inclusão temos crianças da faixa etária dos 0-18 anos, que tenham realizado exames na unidade hospitalar referida anteriormente durante o período indicado.

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
PINTO C. ET AL.
78
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Table 2. NDR´s obtidos em cada grupo etário para a modalidade de RG.
Exame imagiológico Valor de DAP (dGy.cm2) por grupo etário
0 anos 1 ano 5 anos 10 anos 15 anos
Extra-longo (n=286)
𝑋̅(±σ) - 1,03(±0,23)
9,75(±4,88)
16,37*(±10,48)
25,31*(±11,41)
P75 - - 16,37 20,99 30,08
Mão(n=217)
𝑋̅(±σ) - 0,10(±0,16)
0,08(±0,05)
0,10(±0,09)
0,16(±0,18)
P75 - 0,09 0,11 0,14 0,21
Cotovelo(n=217)
𝑋̅(±σ) - 0,13(±0,06)
0,19*(±0,12)
0,25(±0,19)
0,26(±0,11)
P75 - 0,15 0,22 0,28 0,11
Punho(n=173)
𝑋̅(±σ) - 0,10(±0,02)
0,09(±0,09)
0,08(±0,06)
0,15(±0,19)
P75 - 0,12 0,09 0,08 0,14
Para uma correta comparação foi calculado o P75 para cada grupo etário que, posteriormente, foi comparado com os NRD’s para um grupo com as mesmas caraterísticas. Para a análise estatística foi utilizado o programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS versão 21.0) onde se obtiveram tabelas de frequência por grupo etário e região anatómica. Para os valores de DAP e DLP foi realizada uma análise estatística descritiva, de forma a determinar a média e o P75. O cálculo do valor do P75, para cada grupo etário, permitiu estabelecer NRD’s e a comparação entre a dose recebida por cada grupo etário consoante a região anatómica. Posteriormente, foi aplicado o teste paramétrico ANOVA e seguidamente o teste Student-Newman-Keuls, para se determinar entre que grupos etários existiam diferenças significativas.
RESULTADOS
No presente estudo foram avaliados um total de 1929 cabeçalhos DICOM, dos quais 1880 corresponderam à modalidade de RG (Tabela 2), 32 à de TC e 17 ao BO,
sendo a amostra constituída por 916 (47%) doentes do género masculino e 1013 (53%) do género feminino, onde se concluiu que a amostra se distribuiu uniformemente por ambos os géneros.
Apenas foram consideradas as regiões anatómicas que possuíam no mínimo de 10 doentes por grupo etário (número mínimo necessário para calcular um NRD).
Procedeu-se à análise dos dados segundo categorização etária e daí pode aferir-se que o exame imagiológico extra-longo da coluna é o mais efetuado para o estudo músculo- esquelético (n=286) na unidade hospitalar em estudo, porém existem outras regiões com um reduzido número de exames realizados no período de tempo estabelecido. Após determinação do P75 do valor de dose verificou-se que existe um progressivo aumento da dose, para as várias regiões anatómicas, excepto para a perna, coluna vertebral, cotovelo, pé, crânio e punho. Considerando o aumento da espessura do absorvente das regiões anatómicas em estudo, decorrente da idade, o aumento da exposição deveria ser verificado em todos os grupos.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 75 - 83.
79
Antebraço(n=125)
𝑋̅(±σ) - 0,16(±0,07)
0,27*(±0,15)
0,29(±0,13)
0,37(±0,19)
P75 - 0,21 0,33 0,35 0,42
Tibiotársica(n=125)
𝑋̅(±σ) - - 0,11(±0,04)
0,21*(±0,18)
0,25(±0,14)
P75 - - 0,12 0,24 0,38
Pé(n=125)
𝑋̅(±σ) - 0,22(±0,28)
0,12(±0,04)
0,20(±0,18)
0,23(±0,12)
P75 - 0,50 0,16 0,21 0,29
Joelho(n=120)
𝑋̅(±σ) - 0,15(±0,05)
0,29(±0,12)
0,58(±0,56)
1,97(±4,40)
P75 - - 0,42 0,59 1,87
Bacia(n=102)
𝑋̅(±σ) 0,15(±0,13)
0,25(±0,29)
0,81(±0,59)
4,74(±3,96)
16,74*(±15,97)
P75 - 0,26 0,93 7,13 21,85
Coluna Vertebral(n=82)
𝑋̅(±σ) - 4,41(±5,53)
1,13(±0,87)
5,52(±11,79)
10,42(±13,47)
P75 - 7,37 1,90 6,09 16,14
Perna(n=76)
𝑋̅(±σ) - 0,22(±0,08)
0,24(±0,11)
6,86(±12,63)
1,67(±4,06)
P75 - 0,30 0,31 1,65 0,58
Panganograma (n=63)
𝑋̅(±σ) - 0,75(±0,57) - 7,89
(±4,49) -
P75 - 1,26 - 9,17 -
Fémur(n=57)
𝑋̅(±σ) --
0,13(±0,05)
1,50(±1,81)
1,69(±1,39)
31,16*(±19,50)
P75 - 0,17 1,93 3,07 46,30
Crânio(n=34)
𝑋̅(±σ) --
3,27(±4,67)
4,07(±0,24)
3,93(±2,27)
4,54(±1,86)
P75 - 2,23 - 6,42 4,76
Da análise da Tabela 2, afere-se que existem diferenças estatisticamente significativas nos valores de dose, sendo estes mais notórias nos exames de extra-longo para os grupos etários 10 anos e 15 anos, fémur e bacia para o grupo 15 anos, tibiotársica no grupo 10 anos, cotovelo e antebraço no grupo 5 anos. Porém, para os exames de extra-longo e bacia todos os grupos deveriam apresentar diferenças estatisticamente significativas entre os vários grupos etários, considerando a variação das dimensões antropométricas das estruturas com a idade. Os valores
mais elevados para a média e P75 fixaram-se nos 31,26 e 46,30, respetivamente, para a região anatómica do fémur. Observou-se que para o grupo 0 anos, apenas foi possível analisar valores de dose na região anatómica bacia.
Nos estudos de TC verificou-se que para os grupos etários 0, 1 e 5 anos não existiram registos de dose na avaliação dos cabeçalhos DICOM, contrariamente ao que se sucede para os grupos etários 10 e 15 anos, que apresentam para a TC da coluna vertebral, um valor de

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
PINTO C. ET AL.
80
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
frequências absolutas de 6 e 10 doentes, respectivamente. A coluna vertebral foi a região anatómica mais estudada por TC, com uma frequência absoluta de 16 doentes. As regiões anatómicas tibiotársica e bacia foram as que, seguidamente, apresentaram maior frequência absoluta (2 doentes) e as restantes estruturas tiveram apenas 1 doente registado.
Da análise da Tabela 3, pode verificar-se que apenas se conseguiu calcular a média para os grupos etários 10 e 15 anos, sendo possível a obtenção do NDR para o grupo 15 anos.
Table 3. NRD´s obtidos para a TC da coluna vertebral.
Exame imagiológicoValor de DLP (mGy.cm) por grupo etário
10 anos 15 anos
TC da Coluna Vertebral(n=16)
𝑋̅(±σ) 361,00(±113,14)
214,50(±108,05)
P75 - 326,75
Table 4. Percentagem de exames de RG por região anatómica em pediatria.
Região anatómica Neste estudo WHO, 2016 (18) Iacob, et al.,
2000 (23)
Extra-longo 15,21% - -
Crânio 1,81% 19% 6%
Extremidades(Mãos, Pés,
Joelhos)24,57% 15% -
Coluna(Cervical, Dorsal e Lombar)
4,36% 7-12% 2,8%
Bacia 5,43% 9% 5,9%
Apesar de existirem diversos procedimentos de fluoroscopia relativos a cirurgia ortopédica no PACS verificou-se um reduzido número de cabeçalhos e ficheiros de dose não sendo possível determinar os NRD´s para esta modalidade. Apesar do número reduzido de procedimentos, analisou-se que os exames realizados com maior frequência são correspondentes as regiões anatómicas da coluna vertebral, fémur e bacia.
DISCUSSÃO
Os atos médicos representam a segunda maior fonte de exposição à radiação ionizante, por conseguinte, para uma otimização da exposição é fundamental ter em conta os NRD´s(6,18). Dado que não foi possível obter o valor dos mesmos para as modalidades de TC e BO será apenas possível comparar os resultados obtidos para os exames de RG.
A avaliação da frequência de exames anual permite-nos perceber o panorama nacional quanto aos exames efetuados, a sua pertinência e a dose administrada ao doente. Verifica-se um número relativamente elevado de exames efetuados na área da Ortopedia para a RG, realizando uma estimativa de 11004 exames/ano, face aos valores de frequência obtidos. A incidência de patologia e respectivas referências de prescrição justificam estes valores(19-21). Constatou-se que um dos exames mais realizado na unidade hospitalar em estudo foi o extra-longo da coluna (15,21%), estando diretamente este número relacionado com a elevada percentagem de patologia Escoliótica que se descreve na literatura e com o facto de se tratar de um hospital de referência na área a nível nacional(4, 22). Na Tabela 4 são comparados os valores de frequência obtidos neste estudo com outros estudos, onde se pode verificar que os valores obtidos para o estudo extra-longo da coluna vertebral e os restantes valores obtidos estão na média ou superiores, como é o caso do estudo das extremidades.
A falta de harmonização quando à divisão das crianças em grupos etários e a escassez de estudos realizados, expressos em DAP, trouxeram algumas dificuldades na comparação com os dados já publicados. Apesar disto,

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 75 - 83.
81
Table 5. Comparação dos valores de P75 do DAP (dGy.cm2) com a literatura, para a radiografia da bacia.
Dose Grupo etário Neste Estudo Paulo, et al, 2015(8) PiDRL, 2016(9)
IAEA, 2013(24) Roch, et al, 2013(25)França Alemanha
TC da Coluna Vertebral(n=16)
0 anos - 0,23 0,6 - - -
1 ano 0,26 0,67 1,8 0,3 - 0,4*
5 anos 0,93 1,09 3,1 2,0 1,5 2*
10 anos 7,13 5,39 4,0 4,0 2,5 4*
15 anos 21,85 8,16 - - - -
através da observação da tabela 5, para a região da bacia, pode-se concluir que os NRD’s para os grupos etários 0, 1, 5 e 10 anos são semelhantes. No entanto, é de referir que o PiDRL apesar de ser o estudo mais recente foi o que revelou valores mais elevados para os grupos etários 0, 1 e 5 anos.
Comparando os diferentes dados da literatura, pode concluir-se que para a radiografia da bacia, nos grupos etários de 1 e 5 anos, os valores de dose obtidos neste estudo foram os mais baixos e que para os grupos etários de 10 e 15 anos foram os mais altos, deixando assim espaço para a optimização nestas categorias etárias. No entanto, não é possível verificar se a proteção das gónadas foi utilizada em todos os estudos e este é um fator determinante para os valores de DAP, uma vez que se incluída no campo o valor de DAP aumenta.
Das limitações menciona-se o facto de nos exames de extra-longo e panganograma não ser possível, muitas das vezes, obter-se a dose total de todo procedimento, visto que as imagens adquiridas são efetuadas para segmentos anatómicos específicos, obtendo-se no final um conjunto de imagens na qual o software as conjuga para formar uma única imagem. Em relação aos procedimentos de fluoroscopia ortopédica no BO, as limitações prenderam-se com facto de os ficheiros de dose total não serem enviados para o PACS, conjuntamente com as respetivas imagens, quando no procedimento cirúrgico é utilizado o modo CINE, não podendo ser considerados para a determinação
dos valores de dose pretendidos para o estudo. Ao longo deste projeto constatou-se que nunca foi realizado um estudo nesta área, sendo o mesmo pioneiro, tendo-se verificado, por este motivo, uma dificuldade em encontrar valores de dose para as regiões anatómicas estudadas. Desta forma, percebeu-se que é fulcral investir na realização de novos estudos, porque o estabelecimento de NRD’s e a sua comparação com os valores nacionais e internacionais facilita a avaliação dos valores de dose que estão a ser praticados, promovendo a diminuição dos níveis de dose sem comprometer a qualidade de imagem ou os cuidados com o doente.
CONCLUSÃO
Neste estudo, averiguou-se que na especialidade de Ortopedia, a frequência de exames realizados é elevada. Foi possível determinar NRD´s para 15 procedimentos imagiológicos músculos-esqueléticos, sendo 14 destes de Radiologia Geral. Os procedimentos de fluoroscopia ortopédicos revelaram-se pouco frequentes no período em estudo e na sua maioria não possuíam informação da exposição.
A radiografia da bacia é procedimento que permite essa comparação, sendo que para os grupos etários 0, 1, 5 e 10 anos, os valores de DAP não divergiram muito em relação aos diversos estudos analisados, concluindo-se que os

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
PINTO C. ET AL.
82
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
níveis de dose praticados na Europa são similares. No entanto, para o grupo 15 anos o presente estudo apresenta valores de dose maiores, comparativamente com o estudo nacional realizada nesta área. Observou-se que em Portugal e internacionalmente existe um reduzido número de informação em relação aos valores de dose praticados, sendo necessário a realização de novos estudos de forma a alertar os profissionais para a otimização dos procedimentos, de modo a que os riscos associados às exposições pediátricas sejam atenuados.
REFERÊNCIAS1. Costa A, Sousa SG De, Oliveira A. A Escoliose em Pe-
diatria. Saúde Infant. 2002; 2. Prata L. Patologia ortopédica infantil em Medicina Fa-
miliar. Doss Ortop Infant [Internet]. 2009;442–4. Avail-able from: http://www.rpmgf.pt/ojs/index.php/rpmgf/ar-ticle/view/10648/10384
3. Gil P, Ribeiro A. O Tratamento Conservador das Fratu-ras na Criança O Tratamento Conservador das Fratu-ras na Criança. 2015;
4. Oliveira G, Dias JA, Pereira-Silva L, Brito MJ, Vaz P, Procianoy R, et al. Acta pediátrica portuguesa. 2012;43(5):1–160. Available from: http://actapediatri-ca.spp.pt/article/viewFile/2757/2303
5. States M. Supplement to DDM2 Project Report: Diag-nostic Reference Levels (DRLs) In Europe. 2010;1–31. Available from: http://ddmed.eu/_media/news:ddm2_project_report_supplement_drls_final_draft_on_web_page_28_jan_2013.pdf
6. ANNEx BScienti. UNSCEAR 2013 Report [Internet]. Andystaging.Rwdev.Org. 2013. Available from: http://andystaging.rwdev.org/sites/reliefweb.int/files/resourc-es/UNSCEAR_2013_Report_Annex_B_Children.pdf
7. Alto Comissariado da Saúde. Comissão Nacional de Saúde da Criança e do Adolescente 2004-2008. 2009.
8. 8. Paulo G, Vaño E, Rodrigues A. Diagnostic ref-
erence levels in plain radiography for paediatric im-aging: A Portuguese study. Radiography [Internet]. 2016;22(1):e34–9. Available from: http://www.radiogra-phyonline.com/article/S1078-8174(15)00086-3/pdf
9. European Society of Radiology. European guidelines on DRLs for paediatric imaging. 2015;(September):1–105. Available from: http://www.eurosafeimaging.org/pidrl
10. Stein-Wexler R, Wootton-Gorges SL, Ozo-noff MB. Pediatric Orthopedic Imaging [Inter-net]. Springer; 2015. Available from: https://books .goog le .p t /books? id=12DEBQAAQBA-J&pg=PA16&lpg=PA16&dq=orthopedic pediatric dose&source=bl&ots=O__tHu3yqy&sig=tMDImx-f tQ0i2 tHUWR0_3GPUOFJg&hl=pt -PT&sa=X-&ved=0ahUKEwjR-4Kb9tXOAhVHORoKHbo_BLQQ6AEIMjAF#v=onepage&q=orthopedic pediatric dose&f=false
11. Tian X, Li X, Segars WP, Frush DP. Dose coeffi-cients in pediatric and adult abdominopelvic CT based on 100 patient models. 8755.
12. Aalst J Van, Jeukens CRLPN, Vles JSH, Maren EA Van, Kessels AGH, Soudant DLHM, et al. Diagnostic radiation exposure in children with spinal dysraphism : an estimation of the cumulative effective dose in a co-hort of 135 children from The Netherlands. 2013;1–6.
13. Amaral D, Matela N, Pereira P, Palha RF. Evalu-ation of paediatric exposure parameters and doses in 5-10 years old children. Comparison between Dig-ital and non-digital acquisitions in frontal Thorax pro-jection. Rev Lusófona Ciências e Tecnol da Saúde. 2008;(5):152–64.
14. Khong P-L, Ringertz H, Donoghue V, Frush D, Rehani M, Appelgate K, et al. ICRP publication 121: radiological protection in paediatric diagnos-tic and interventional radiology. Ann ICRP [Internet]. 2013;42(2):1–63. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23218172
15. 15. Protection R. Radiation Protection in Pae-diatric radiology. Saf REPORTS Ser No 71 [Internet].

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 75 - 83.
83
2012;128. Available from: http://www-ns.iaea.org/stan-dards/
16. Image Gently. Radiation Protection of Patients (RPOP). IAEA. Available from: https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/SpecialGroups/2_Children/in-dex.htm
17. Silva R. Tomografia Computorizada: Análise e op-timização das práticas na realização de exames em adultos e pediátricos. Análise do nível de adequação às recomendações internacionais. 2014;
18. 18. World Health Organization. Communicat-ing Radiation Risks In Paediatric Imaging. World Heal Organ [Internet]. 2016; Available from: http://www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/summary-por.pd-f?ua=1
19. Royal College of Radiologists. iRefer : making the best use of clinical radiology [Internet]. 2012. p. 6870. Available from: http://www.eurosafeimaging.org/wp/wp-content/uploads/2014/02/RCR_EuroSafe-Imag-ing-Poster.pdf
20. European Commission. Radiation protection 118 Referral guidelines for imaging [Internet]. Referral guidelines for imaging. 2001. 1-129 p. Available from: https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Tervis/Ravimid/118_en.pdf
21. Evidence NHS, Scheme A. Imaging guidance for GP commissioning. 2011;1–9. Available from: http://www.irefer.org.uk/images/pdfs/irefer_indicated.pdf
22. Coimbra HP de. Referenciação Consulta Exter-na Ortopedia Infantil [Internet]. Available from: http://www.arscentro.min-saude.pt/Institucional/projectos/crsmca/ucf/Documents/inter-hospitalar/pediatrica/ar-eas/ortopedia infantil/ortopedia - normas de referen-cia%C3%A7%C3%A3o.pdf
23. Diaconescu C, Iacob O, Isac R. Patient Exposure in Paediatric Radiology. 2000;1–7. Available from: http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollection-Store/_Public/37/115/37115675.pdf
24. Iaea. Human Health Series 24: Dosimetry In Daignostic Radiology for Paediatric Patients. Hum Heal Ser [Internet]. 2013;(24):176. Available from: http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1609_web.pdf\nhttp://www.vomfi.univ.kiev.ua/assets/files/IAEA/Pub1462_web.pdf
25. Roch P, Aubert B. French Diagnostic Reference Levels in Diagnostic Radiology , Computed Tomogra-phy and Nuclear Medicine : 2004 – 2008 Review. Radi-at Prot Dosim [Internet]. 2013;154(1):52–75. Available from: http://rpd.oxfordjournals.org/content/154/1/52.full.pdf+html.
Correo Autor: [email protected]
Fecha de Aceptación: 23 de Enero del 2017 Fecha de Publicación: 31 de Mayo del 2017
ACEPTACIÓN Y CORRESPONDENCIA

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
SANTOS C. ET AL.
84
ARTÍCULO DE REVISIÓN
WHICH IS THE MOST EFFECTIVE MODE, INTENSITY, FREQUENCY AND TIME OF EXERCISE IN IMPROVING
GLUCOSE AND INSULIN LEVELS ON NON-DIABETIC ADULTS AT RISK OF TYPE 2 DIABETES?
CLAUDIA SANTOS1, BRUNA COSTA1, JOÃO CASTRO1, JOEL MAROUVO1, ANABELA CORREIA1
INTRODUCTION
Diabetes is considered a worldwide epidemic with high human, social and economic costs. According to the World Health Organization (WHO), it is expected that between
2000 and 2030 the number of people with type 2 diabetes will increase from 170 million to 500 million people (1). European data for 2011 pointed to 52 million people with
¿Cuál es el modo, intensidad, frecuencia y tiempo de ejercicio más eficaces para mejorar los niveles de glucosa e insulina en adultos no diabéticos con riesgo de diabetes tipo 2?
1 ESTESC Coimbra Health School, Physiotherapy Department, Coimbra, Portugal.
RESUMEN Introducción: La diabetes tipo 2 y pre-diabetes son condiciones que han incrementado su prevalencia en los últimos años. Individuos con uno o más factores de riesgo modificables (pre-diabetes, sobrepeso, falta de actividad física) son más propensos a desarrollar diabetes tipo 2. El ejercicio juega un papel crucial en la reducción de estos factores de riesgo, si bien la manera más efectiva, la intensidad, la frecuencia y el tiempo de ejercicio siguen sin estar claros. Objetivo: Esta revisión sistemática pretende determinar la frecuencia más efectiva, la intensidad y el tipo de ejercicio adecuados para incrementar los niveles de glucosa e insulina en adultos no diabéticos con riesgo de diabetes tipo 2. Método: Búsqueda doctrinal de estudios aleatorios realizada en Pubmed, PEDro, Science Direct, OT Seeker y Hooked on Evidence (hasta mayo de 2015) con diferentes palabras claves aisladas o combinadas (“tolerancia alterada a la glucosa”, “prediabetes”, “prevención de diabetes tipo 2”, “actividad física”, “ejercicio aeróbico” y “ejercicio de resistencia”). La calidad metodológica de esos estudios se evaluó mediante el uso de la escala de PEDro. También se utilizó la guía de The Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses. Resultados: La búsqueda culminó en seis artículos. Su calidad varió en una puntuación de entre 5/10 y 6/10 conforme a la escala PEDro. Cuatro de ellos incluyen un grupo de control sin intervención de ejercicio, el resto solo compararon grupos de ejercicio. Salvo un artículo que comparaba ejercicios de aguante y resistencia y otro que comparaba ejercicio aeróbico con ejercicio aeróbico más ejercicio de resistencia, el resto de artículos comparaban programas de ejercicio aeróbico con diferentes intensidades y volúmenes. Conclusiones: Debido a las diferencias metodológicas entre los distintos estudios, no resulta posible responder con precisión a la pregunta principal. Sin embargo, resulta evidente que el ejercicio aeróbico y de resistencia son beneficiosos para el incremento de resistencia y sensibilidad a la insulina.
Palabras claves: Tipo de diabetes, tiempo de ejercicio, intensidad.
ABSTRACTIntroduction: Type 2 diabetes and pre-diabetes are conditions that have increased their prevalence in recent years. Individuals with one or more modifiable risk factors (pre-diabetic, overweight, physical inactivity) are more likely to develop type 2 diabetes. Exercise plays a crucial role in reducing these risk factors although the most effective mode, intensity, frequency and time of exercise remains unclear. Objective: This systematic review seeks to know the most effective frequency, intensity, time and type of exercise to improve glucose and insulin levels in non-diabetic adults at risk of type 2 diabetes. Methods: Literature search of randomised controlled trials was conducted in Pubmed, PEDro, Science Direct, OT Seeker and Hooked on Evidence (until May 2015) with different keywords alone and in combination (“impaired glucose tolerance”, “prediabetes”, “type 2 diabetes prevention”, “physical activity”, “aerobic exercise” and “resistance exercise”). The methodological quality of the studies was assessed using PEDro scale. The Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses guidelines was used. Results: The screening culminated in six articles. The quality ranged from 5/10 and 6/10 in the PEDro scale. Four of them include a control group with no exercise intervention, others only compared exercise groups. Except one article comparing endurance and resistance exercises, and one that compared aerobic exercise with aerobic plus resistance exercise, the remaining articles compared aerobic exercise programs with different intensities and volumes. Conclusions: Due to methodological differences between the studies it’s not possible to answer accurately to the guiding question. However, it is evident that aerobic and resistance exercise are beneficial in improving insulin resistance and sensitivity.
Key words: Type diabetes, time of exercise, intensity.

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 84 - 100.
85
diabetes aged 20-79 years, with an increased forecast for 64 million in 2030 and the consequent increase in the cost of health care (2).
The prevalence of this condition assumes particular importance in worldwide healthcare but it is not inevitable. There are several risk factors that can be divided into two categories: non-modifiable and modifiable risk factors. Among the major modifiable risk factors are considered overweight/obesity, sedentary lifestyle/physical inactivity, metabolic syndrome, disturbances in the intra-uterine development, impaired fasting glucose (IFG) and/or impaired glucose tolerance (IGT) and diet (3 - 4). Several systematic reviews and meta-analysis centered on lifestyle interventions (concerning physical activity) in patients with type 2 diabetes have been carried out (5 - 11). Despite the diversity of this interventions, all the authors agree in the importance of exercise for the improvement of glycemic control and insulin resistance.
Lifestyle interventions are crucial for the management of type 2 diabetes even if this condition can only be controlled, it has no cure. For this reason primary prevention is becoming particularly important in populations at risk, such as pre-diabetics. There is no consensus in the definition of pre-diabetes, but IFG and/or IGT are the two risk factors commonly used to identify people with pre-diabetes (12). However the values considered for the definition of IFG and IGT are not consensual between countries. Usually IFG is defined as fasting glucose between 100-125mg/dl (5,6-6,9mmol/L). IGT is present when blood glucose values are between 140-199mg/dL (7,8-11,0mmol/L) two hours after ingestion of 75g of glucose diluted in 300cc of water (oral glucose tolerance test - OGTT). According to the American Diabetes Association values between 5.7% and 6.4% of glycated haemoglobin (HbA1c) may also be used to identify pre-diabetes. Note that subjects with IFG are 4.6 more likely to develop type 2 diabetes and IGT subjects are 6.3 more likely. If both conditions are present (IFG and IGT)
this probability increases to 12.1 (12 - 13).
The prevalence of type 2 diabetes is particularly high in overweight individuals. According to recent studies, obese individuals are 42.1 more likely to develop type 2 diabetes (follow-up of 5 years) compared to subjects with normal weight (12). Especially in pre-diabetic condition, physical inactivity is considered a main risk factor (14).
Therefore, an individual with one or more of these modifiable risk factors can be considered as someone with greater likelihood of developing type 2 diabetes (9, 15).
In general, the most relevant studies focused on lifestyle changes in individuals at risk of developing type 2 diabetes are consensual regarding the benefits of physical exercise (16 - 20). However, since that physical activity is not usually considered independently of other variables, such as weight loss, diet or pharmacological therapy, it becomes difficult to quantify the contribution of exercise alone in improving the diabetes risk factors (primarily glucose and insulin regulation)(14, 18, 21, 22). Concerning this purpose, recent study designs investigated the effects of exercise as an independent variable in individuals diagnosed with type 2 diabetes (7, 23) and non-diabetics (24, 25). Mainly the definition of the most effective frequency, intensity, time and type of exercise (FITT) in improving diabetes risk factors or complications still remains questionable, despite the latest recommendations (13). Randomized controlled trials (RCT), primarily investigating aerobic and resistance training in diabetic patients, are not conclusive in response to FITT, although underline the benefit of exercise compared to physical inactivity (26 - 29).
The aim of this systematic review is to assess the most effective frequency, intensity, time and type of exercise to improve glucose and insulin levels in non-diabetic adults at risk of developing type 2 diabetes.

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
SANTOS C. ET AL.
86
ARTÍCULO DE REVISIÓN
METHODS
Study designThis systematic review was developed using the guidelines of the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) for randomised trials[30].
Search Strategy Identification of studiesThe literature search was performed by four reviewers between 27 April and 11 May 2015 and included the following databases: PubMed, PEDro, Science Direct, OT Seeker and Hooked on Evidence. The following keywords alone and in combination were used: ‘impaired glucose tolerance’, ‘prediabetes’, ‘type 2 diabetes prevention’, ‘physical activity’, ‘aerobic exercise’ and ‘resistance exercise’. Additionally secondary research was conducted within the reference lists of all articles considered of interest (including systematic reviews on the topic) to retrieve relevant publications that were not identified in the computerised database search.
Eligibility criteria included full-text RCT published in English until May 2015 found in peer-reviewed journals. Population needed to involve non-diabetic human adults (≥18 years) at risk of developing type 2 diabetes (mainly pre-diabetics). The intervention should include an exercise program (aerobic or resistance exercise) that had to be compared with a control group – other exercise program (aerobic, resistance or combined exercise) or no exercise. The following outcome measures had to be used for inclusion: fasting glucose and insulin blood levels, insulin sensitivity and insulin resistance. Pre- and post-intervention means and standard deviations for experimental and control groups had to be present. There was no restriction in the follow-up period for the outcome measurement.
Study selectionThe studies selection was conducted in two phases. The
first consisted in the evaluation of the article titles found (independently by the four reviewers). Each article was considered to the next stage if the title identified terms of the PICO (participants, intervention, comparison, and outcome). The second phase consisted in reviewing abstracts of the articles considered with potential interest. In case there was insufficient information from the abstract to allow the eligibility, articles were divided into two groups of reviewers (two elements in each group) for full-text reading independently. Any disagreement was resolved by consensus.
Quality assessment of studiesThe methodological quality of individual studies was assessed using the PEDro scale. This scale uses 11 criteria to evaluate the risk of bias of RCT. Three reviewers independently assessed the quality of the selected studies. Each reviewer assigned one point to the criterion satisfied. Potential maximum value is 10 points because the first criterion doesn’t account for the score. In case of disagreement, the issue was resolved by consensus discussion with a 4th reviewer.
Summary measures The interventions were evaluated by calculating mean differences, effect size (Cohen’s d value) and 95% confidence interval. The flow of participants through the study was also recorded (withdrawal rate).
It has not been possible to conduct a full meta-analyses because of the varying methods with which each outcome had been measured.
RESULTS
Selection of studiesOne hundred and sixteen titles were identified through database and reference list searches. After the removal of

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 84 - 100.
87
Figure 1. Flow diagram for study inclusion.
two duplicate articles and abstract screening the search was reduced to seventeen articles of potential interest. Further review of full-text led to the exclusion of other eleven studies, related to inappropriate study design and other methodological features. Six articles (31 - 36) were included in this systematic review (332 participants). Figure 1 shows the process of study selection with reasons for exclusion. Table 1 describes the population, intervention, comparison, outcome measures and length of follow-up of the six reviewed articles. One study included only male participants (32) and another only female (33). The number of participants ranged from 10 (34) to 154 (31). Four studies included a control group with no exercise intervention (31,
32, 35, 36), however in the study conducted by Hansen et al (35) the control group was subsequently performed with an exercise program. Two other studies only compared groups with exercise, where each group served as their own control (33 - 34). The majority compared aerobic exercise programs with different intensities and volumes (31 - 34). The exceptions were the studies of Liu et al (36) and Hansen
et al (35). The first compared aerobic exercise with aerobic combined with resistance exercise, and the second compared maximal and endurance resistance training.
Table 1. Description of studies included in the review.
Study Participants Intervention Comparison Length of follow-up Outcome measures
Houmard et al (31) Sedentary and overweight subjects
Control group:N=40 (M=23; F=17)Age: 51,4 ± 1,2 years
Group 1:N=41 (M=24; F=17)Age: 53,1 ± 0,9 years
Group 2:N=30 (M=15; F=15)Age: 52,6 ± 1,3 years
Group 3:N=43 (M=23; F=20)Age: 51,4 ± 0,9 years
Group 1 – low volume/moderate intensity 1200 Kcal/week; 40-55% VO2max; Frequency: 3,3 ± 0,1 sessions/week; Duration: 51,5 ± 1,1 min/session; Week duration: 171 ± 5,9 min/week
Group 2 – low volume/high intensity1200 Kcal/semana; 65-80% VO2max;Frequency: 2,9 ± 0,1 sessions/week;Duration: 39,1 ± 1,1 min/session;Week duration: 114,4 ± 5 min/week
Group 3 – high volume/high intensity2000 Kcal/semana; 65-80% VO2max;Frequency: 3,6 ± 0,1 sessions/week;Duration: 47,9 ± 1,6 min/session;Week duration: 167 ± 6,9 min/week
Exercise mode: walking or jogging in cycle ergometer, treadmill and elliptical
Control groupWithout exercise
6 Months SI (Insulin sensitivity);Fasting insulin;Fasting glucose;

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
SANTOS C. ET AL.
88
ARTÍCULO DE REVISIÓN
O’Donovan et al (32)
Sedentary men;Age: 30-45 years
Control group: N=13Group 1: N=10Group 2: N=13
Group 1 – Moderate intensity exercise400Kcal/session; 60% VO2max; 3 sessions/week
Group 2 – High intensity exercise400Kcal/session; 80% VO2max;3 sessions/week
Control Group Without exercise
6 Months Fasting insulin;Fasting glucose;Insulin sensitivity;Insulin resistance (HOMA-IR)
DiPietro et al (33) Elderly female; Sedentary/inactive;52% classified as IGTMean age: 73±10 years
Control group: N=7Group 1: N=9Group 2: N=9
Group 1 – High intensity exercise80% VO2max; Mean heart rate: 123 beats/min
Group 2 – Moderate intensity exercise65% VO2max;Mean heart rate: 104 beats/min
Protocol for both groups: 300Kcal/session; 4 sessions/week;Training mode: 15-20 min of treadmill plus 5 min of mini-trampolines, rowing ergometers or step aerobics (maintaining target heart rate)
Control groupPlacebo low intensity exercise50% VO2max;Mean heart rate: 81 beats/min
Protocol: stretching and strengthening exercises using Thera-bands, Thera-balls and balance boards;4 sessions/week; 45 min/session
9 Months Fasting glucose;Fasting insulin;M value 10 mU;M value a 40 mU;M40/I, μU/ml
Hansen et al (35) Overweight;Sedentary/inactive;Classified as IGT;N=18 (M=4; F=14);Age: 33-69 years
Group 1: N=9Group 2: N=7
Group 1 – Maximal resistance training (MRT)8 exercises involving the whole body;60-85% of 1RM (3-4 repetitions);5 bouts (≈ 20 repetitions) in the set;Without breaks between bouts;3 days/week
Group 2 – Endurance resistance training (ERT)8 exercises involving the whole body;45-65% of 1RM;3 bouts at 12-13 repetitions for ≈ 45 repetitions); break between bouts 30-60 seconds
Group 2 (control)
Note: Initially group 2 was the control for group 1. After 4 months, group 2 subsequently performed 4 months of ERT, acting as their own control (pre-training baseline values).
4 months (intervention in group 1) + 4 months (intervention in group 2)
Fasting glucose;OGTT2h;Insulin blood levels;Insulin resistance and sensitivity estimation
Liu et al (36) Pre-diabetic adults (classified as IGT)Mean age: 49,8±4,8 years
Control group: N=17Group 1: N=17Group 2: N=16
Group 1 – Walking exerciseIntensity: 60-70% HRmax (maximum heart rate);4 sessions/week;60 min/session (including 5 min warming-up, 50 min walking exercise and 5 min relaxation).
Group 2 – Walking + resistance exercise (20 min + 30 min)Resistance training included upper arm, chest, waist, abdominal and leg exercises;2-3 bouts of 15-20 repetitions.
Control group Without exercise
6 Months Fasting glucose;OGTT2h;Fasting insulin;Insulin resistance (HOMA-IR)

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 84 - 100.
89
DiPietro et al (34). Older subjects;BMI < 35kg/m2;Sedentary/inactive;Impaired fasting glucose;N=10Mean age: 69 ± 6 years
Group 1 – Three 15-min bouts of moderate postmeal walking
Group 2 – 45 min sustained morning walking (10h30 AM)
Group 3 – 45 min sustained afternoon walking (4h30 PM)
Each of the 3 study protocols were spaced 4 weeks apart and comprised a 48h stay in a whole-room calorimeter, with the first day serving as the control and the second as the exercise day.Exercise was performed in a treadmill walking at an intensity of 3 METs.
Pre-intervention baseline values (first day of the study)
48 hours(2 days)
AUC24 24h 103AUCdinner 3h 103AUClunch 3h 103
(continuous glucose monitoring)
Quality of studies
The quality assessment for each study with PEDro scale is presented in Table 2. When assessing the quality of the studies, items 3, 5 and 6 were those that sustained more disagreement between the reviewers, although it was resolved by consensus. Three articles attained a score of 5 of 10 total points (31,
32, 36) and the three others achieved a score of 6 (33 - 35). Low/moderate quality of the articles is related to the item 8 (withdrawals during follow-up) and the criteria 3, 5, 6 and 7 (allocation concealment and blind assessment). These criteria were not clearly exposed by the authors.
Table 2. PEDro quality assessment of individual trials.
ArticlePEDro scale classification
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Score
Houmard et al (31). + + - + - - - - + + + 5/10
O’Donovan et al (32). + + - + - - - - + + + 5/10
DiPietro et al (33). + + - + - - - + + + + 6/10
DiPietro et al (34). + + - + - - - + + + + 6/10
Hansen et al (35). + + - + - - - + + + + 6/10
Liu et al (36). + + - + - - - - + + + 5/10
+, met criteria; -, criteria not met; 1, eligibility criteria were specified; 2, participants were randomly allocated to groups; 3, allocation was concealed; 4, groups were similar at baseline regarding most important prognostic indicators; 5, blinding of all participants; 6, blinding of therapists who administered the therapy; 7, blinding of all assessors who measured at least one key outcome; 8, measures of at least one key outcome were obtained from more than 85% of the participants; 9, all participants for whom outcome measures were available received the treatment or control condition as allocated; 10, results of between-group statistical comparisons are reported for at least one key outcome; 11, study provides both point measures and measures of variability for at least one key outcome.PEDro, Physiotherapy Evidence Database
Nevertheless, the nature of the studies made it difficult for the blinded exercise intervention. All the studies had similar groups at baseline for the primary outcome, although the small sample sizes in general.
Concerning length of follow-up, in five studies it ranged from 4 to 9 months. Only one study (34) had a shorter follow-up of 2 days, which creates a risk of bias in data comparison. With the exception of DiPietro et al (34), all the authors reported dropouts during the follow-up period.
O’Donovan et al (32), Houmard et al (31) and Liu et al (36) had the highest withdrawal rate in their trials: 44%, 32% and 18%, respectively (Table 3).

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
SANTOS C. ET AL.
90
ARTÍCULO DE REVISIÓN
Table 3. Number of dropouts by group (n) and withdrawal rate (%) in each study.
StudySample size (n) Number of dropouts Withdrawal rate
(%)Initial Final Control group (N) Experimental group (N) Total (N)
Houmard et al[31] 228 154 8Group 1=26Group 2=11Group 3=29
74 32%
O’Donovan et al[32] 64 36 7 Group 1=12Group 2=9 28 44%
DiPietro et al[33] 27* 25 - - 2* 7,4%
Hansen et al[35] 18 16 - 2 2 11%
Liu et al[36] 61 50 4 Group 1=3Group 2=4 11 18%
DiPietro et al[34] 10 10 - - - -
RESULTS
Aerobic exerciseTo test the effect of exercise on insulin action, Houmard et al (31) compared three exercise programs of different intensities and volumes with a control group (without exercise). The fasting insulin increased significantly in the control group and decreased in the exercise groups low-volume/moderate-intensity and high-volume/high-intensity. There were no significant changes in fasting plasma glucose over time. The insulin sensitivity index (SI) decreased over time in the control group, while in the three exercise groups increased significantly. According to the authors, the magnitude of the changes in insulin sensitivity (before and after exercise) was -4 ± 7% decline in the control group, 37,6 ± 8.9% increase in the low-volume/high-intensity group, 82,7 ± 15.3% increase in the high-volume/high-intensity group and 88 ± 18.7% increase in the low-volume/moderate-intensity group. Adherence to the prescribed exercise was significantly lower in the high-volume/high-intensity group (80% ± 2.5). O'Donovan et al (32) investigated the effect of exercise intensity on insulin resistance, comparing a moderate-intensity and a high-intensity exercise groups with a control group (without exercise), for the same volume (400Kcal/
session). A statistically significant reduction of insulin concentration, an increase in insulin sensitivity and a decrease in insulin resistance were found in both exercise groups. No differences were detected between the two exercise groups.
DiPietro et al (33) compared two aerobic exercise groups of different intensities (moderate and high), for the same volume (300Kcal/session), with a low-intensity (stretching exercises) control group. With regard to fasting glucose and insulin, no significant differences before and after any exercise training condition was found. However, the M value 40 (glucose utilization rate (M) at the higher insulin dose (40mU) – indicator of insulin sensitivity in the muscle) increased in all groups and were observed without changes in body composition and VO2peak. Nevertheless, this improvement was statistically significant only in the high-intensity exercise group (21%), compared with moderate-intensity (16%) and control (8%) groups.
A different study conducted by DiPietro et al (34) aimed to investigate the effectiveness of 15 minutes postmeal walking (3 times daily), compared to a 45 minutes continuous daily walking (executed in the morning or afternoon), in elderly 24-h glycemic control. Each of the three exercise protocols lasted 2 days (first day served as control) and was

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 84 - 100.
91
performed on a treadmill at a moderate intensity (3 MET). Both sustained morning walking and 15 minutes postmeal walking significantly improved 24-h glycemic control compared with the control day. Furthermore, 15 minutes postmeal walking were significantly more effective than the continuous daily walking in reducing glucose levels 3 hours after dinner, as expressed by the area under the glucose response curve (AUC) according to exercise condition.
Resistance exerciseHansen et al (35) meant to compare the effects of a maximal resistance training (MRT) and an endurance resistance training (ERT) on the improvement of insulin sensitivity and glucose tolerance in overweight individuals at risk of type 2 diabetes. The MRT led to a significant reduction of 2h-glucose blood levels (oral glucose tolerance test – OGTT2h), whereas the ERT led to a significant reduction in insulin levels. After estimation of insulin sensitivity and insulin resistance (IR), by the Homeostatic Model Assessment method (HOMA-IR), it was found that MRT conducted to a significant reduction of insulin resistance
and ERT resulted on a significant increase in insulin sensitivity and decrease in insulin resistance. These data suggest that the two types of exercise decrease insulin resistance, with additional positive effects prompted by ERT.
In the last study reviewed, conducted by Liu et al[36], the authors compared a walking exercise group (moderate intensity) and a walking plus resistance exercise group with no exercise (control group) in pre-diabetic subjects. For both exercise groups there were significant differences (before and after exercise) in OGTT2h, fasting insulin and insulin resistance (HOMA-IR) when compared with the control group. Nevertheless, no significant differences in fasting glucose were found. The exercise protocols significantly decreased OGTT2h, fasting insulin and insulin resistance, but not the fasting glucose. No significant differences were found between the two exercise groups. In tables 4 to 9 are presented the mean differences, 95% confidence intervals and the effect sizes between groups for each study outcome measured.
Table 4. Mean differences, 95% confidence interval and effect size in the outcomes of Houmard et al (31).
Study groups Outcome Mean Differences 95% Confidence Interval Effect Size P value
Low-volume/moderate-intensity vs Control group
(no exercise)
SI (mU/l/min) -1,4 [-1,5;-1,3] -4,66667 <0,05
Fasting insulin (μU/ml) 0,6 [0,3;0,9] 0,85714 -
Fasting glucose (mg/dl) 0,6 [-0,2;1,4] 0,375 -
Low-volume/high-intensity vs Control group
SI (mU/l/min) -1,5 [-1,7;-1,3] -5 <0,05
Fasting insulin (μU/ml) 1,3 [0,9;1,7] 1,85714 -
Fasting glucose (mg/dl) 0,2 [-0,6;1] 0,125 -
High-volume/high-intensity vs Control group
SI (mU/l/min) -1,8 [-1,9;-1,7] -6 <0,05
Fasting insulin (μU/ml) 0,7 [0,4;1] 1 -
Fasting glucose (mg/dl) -0,7 [-1,4;0] -0,4375 -
Low-volume/moderate-intensity vs Low-volume/
high-intensity
SI (mU/l/min) 0,10 [-0,1;0,3] 0,25 <0,05
Fasting insulin (μU/ml) -0,7 [-1;-0,4] -1,16667 -
Fasting glucose (mg/dl) 0,4 [-0,5;1,3] 0,22222 -
Low-volume/moderate-intensity vs High-volume/
high-intensity
SI (mU/l/min) 0,4 [0,2;0,6] 0,8 >0,05
Fasting insulin (μU/ml) -0,1 [-0,4;0,2] -0,14286 -
Fasting glucose (mg/dl) 1,3 [0,5;2,1] 0,76471 -

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
SANTOS C. ET AL.
92
ARTÍCULO DE REVISIÓN
Table 5. Mean differences, 95% confidence interval and effect size in the outcomes of O’Donovan et a (32).
Study Groups Outcome Mean Differences 95% Confidence Interval Effect Size P value
Moderate-intensity vs Control group
Fasting insulin (mU/l) 2,67 [-2,0;7,3] 0,50473 0,048
Fasting glucose (mmol/l) 0,21 [-0,3;0,8] 0,33871 0,11
Insulin sensitivity -1,03 [-2,0;0,0] -0,9115 0,02
Insulin resistance 0,80 [-0,5;2,1] 0,53333 0,03
High-intensity vs Control group
Fasting insulin (mU/l) 2,50 [-1,9;6,9] 0,47259 0,048
Fasting glucose (mmol/l) 0,19 [-0,3;0,7] 0,30645 0,11
Insulin sensitivity -0,91 [-1,9;0,0] -0,80531 0,02
Insulin resistance 0,70 [-0,5;1,9] 0,46667 0,03
Moderate-intensity vs High-intensity
Fasting insulin (mU/l) 0,17 [-2,8;3,1] 0,05075 0,46
Fasting glucose (mmol/l) 0,02 [-0,3;0,3] 0,0625 0,46
Insulin sensitivity -0,12 [-1,3;1,1] -0,08759 0,42
Insulin resistance 0,10 [-0,6;0,8] 0,125 0,49
Table 6. Mean differences, 95% confidence interval and effect size in the outcomes of DiPietro et al (33).
Study Groups Outcome Mean Differences 95% Confidence Interval Effect Size P value
Moderate-intensity vs Control group
Fasting glucose (mg/dL) -4,10 [-7,5;-0,7] -1,28125 >0,05
Fasting insulin (μU/ml) -3,7 [-7,9;0,5] -0,925 >0,05
M value 10 mU 0,8 [-1,4;3] 0,38462 >0,05
M value a 40 mU 1 [-2,6;4,6] 0,29586 >0,05
M40/I, μU/ml 0,01 0 0,33333 >0,05
High-intensity vs Control group
Fasting glucose (mg/dL) -3,3 [-6,7;0,1] -1,03125 >0,05
Fasting insulin (μU/ml) -2,9 [-7,1;1,3] -0,725 >0,05
M value 10 mU 0,3 [-1,9;2,5] 0,14423 >0,05
M value a 40 mU -0,9 [-4,5;2,7] -0,26627 <0,02
M40/I, μU/ml -0,02 [-0,1;0] -0,66667 <0,05
High-intensity vs Moderate-intensity
Fasting glucose (mg/dL) 0,8 [-6;7,6] 0,11765 >0,05
Fasting insulin (μU/ml) 0,8 [-6,3;7,9] 0,11268 >0,05
M value 10 mU -0,5 [-2;1] -0,3268 >0,05
M value a 40 mU -1,9 [-4,6;0,8] -0,69597 >0,05
M40/I, μU/ml -0,03 [-0,1;0] -1 <0,05
M value - glucose metabolism rate, with low or high dose of insulin; M40 / I – M value to a plasma insulin concentration of 40 mU in the last 30 minutes of the test (insulin sensitivity).
Low-volume/high-intensity vs High-volume/high-
intensity
SI (mU/l/min) 0,3 [0,1;0,5] 0,6 <0,05
Fasting insulin (μU/ml) 0,6 [0,3;0,9] 0,85714 -
Fasting glucose (mg/dl) 0,9 [0,1;1,7] 0,52941 -

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 84 - 100.
93
Table 7. Mean differences, 95% confidence interval and effect size in the outcomes of DiPietro et al (34).
Study Groups Outcome Mean Differences 95% Confidence Interval Effect Size P value
15 minutes postmeal walking vs Sustained
morning walking (10:30 AM)
AUC24 (mg/dL) 24h 103 -1 [-21,9;19,9] -0,04545 -
AUCdinner (mg/dL) 3h 103 1 [-3,7;5,7] 0,2 <0,05
AUClunch (mg/dL) 3h 103 1 [-2,8;4,8] 0,25 >0,05
15 minutes postmeal walking vs Sustained
afternoon walking (4:30 PM)
AUC24 (mg/dL) 24h 103 11 [-11,8;33,8] 0,45833 -
AUCdinner (mg/dL) 3h 103 2 [-2,7;6,7] 0,4 <0,05
AUClunch (mg/dL) 3h 103 2 [-1,8;5,8] 0,5 >0,05
Sustained morning walking (10:30 AM) vs Sustained afternoon walking (4:30 PM)
AUC24 (mg/dL) 24h 103 12 [-10,8;34,8] 0,5 -
AUCdinner (mg/dL) 3h 103 1 [-3,7;5,7] 0,2 -
AUClunch (mg/dL) 3h 103 1 [-2,8;4,8] 0,25 -
Table 8. Mean differences, 95% confidence interval and effect size in the outcomes of Hansen et al (35).
Study Groups Outcome Mean Differences 95% Confidence Interval Effect Size P value
Group 1 (MRT) vs Group 2 (control)
Fasting glucose 0,00 [-0,6;0,6] 0 >0,05
OGTT2h -0,93 [-2,1;0,3] -0,7686 0,044
Insulin blood level -3 [-35;29] -0,09375 >0,05
Group 2 (ERT) vs Group 2 (control)
Fasting glucose 0,06 [-0,5;0,7] 0,10714 >0,05
OGTT2h -0,19 [-1,5;1,1] -0,15702 >0,05
Insulin blood level 17 [-16,9;50,9] 0,53125 0,023
Group 1 (MRT) vs Group 2 (ERT)
Fasting glucose -0,06 [-0,6;0,4] -0,125 -
OGTT2h -0,74 [-2,4;1,0] -0,45963 -
Insulin blood level -20 [-40,2;0,2] -1,05263 -
Table 9. Mean differences, 95% confidence interval and effect size in the outcomes of Hansen et al (35).
Study Groups Outcome Mean Differences 95% Confidence Interval Effect Size P value
Walking exercise vs Control group
Fasting glucose (mmol/l) 0,09 [-0,1;0,3] 0,35135 >0,05
OGTT2h (mmol/l) 0,55 [0,1;1] 0,95122 <0,05
Fasting insulin (mIU/l) 1,98 [-3,8;7,7] 0,25013 <0,05
Insulin resistance 0,79 [-0,9;2,4] 0,34949 <0,05
Walking plus resistance exercise vs Control group
Fasting glucose (mmol/l) 0,08 [-0,1;0,3] 0,29344 >0,05
OGTT2h (mmol/l) 0,7 [0,3;1,1] 1,21254 <0,05
Fasting insulin (mIU/l) 2,03 [-3,8;7,9] 0,25709 <0,05
Insulin resistance 0,8 [-0,9;2,5] 0,35616 <0,05
Walking exercise vs Walking plus resistance
exercise
Fasting glucose (mmol/l) 0,01 [-0,4;0,4] 0,02913 >0,05
OGTT2h (mmol/l) -0,15 [-0,5;0,2] -0,32397 >0,05
Fasting insulin (mIU/l) -0,05 [-5,2;5,1] -0,00795 >0,05
Insulin resistance -0,02 [-1,5;1,5] -0,00737 >0,05

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
SANTOS C. ET AL.
94
ARTÍCULO DE REVISIÓN
DISCUSSION
Despite the methodological differences found in all studies reviewed, the effects of exercise were determinant on glycemic control, especially in insulin resistance and sensitivity where the beneficial results of aerobic exercise were more consistent.
Concerning prevention among adults at risk of type 2 diabetes, previous systematic reviews and meta-analyses were focused on combined exercise and diet interventions (37 - 39) and few have addressed exercise interventions alone on adults at high risk for type 2 diabetes (40). Based on only two primary studies, Orozco et al (40) found that exercise did not significantly reduce diabetes incidence. On the other hand, two of the most recent systematic reviews, not including the same studies, showed the beneficial effects of exercise on insulin sensitivity improvement (10, 25). One was centred on primary studies with different designs in healthy subjects (25). The other, based on RCT, assessed the changes in insulin sensitivity in response to different exercise modalities (aerobic exercise, resistance training and combined) both in non-diabetic and diabetic subjects (10). Mann et al (10) adds that there may be a dose-response relationship between the intensity and duration of exercise and the improvement in insulin sensitivity, where the progression towards higher intensity levels may enhance more benefits. Aerobic exercise is effective when performed either at a moderate or high intensity, prescribed according to the participant’s ability and preferences for exercise. This authors also suggest that resistance training may be effective when performed at an intensity below 50% of 1RM, targeting glucose regulation in muscle. The combined training (aerobic and resistance exercise) might be the most effective strategy, although further research is needed in population subgroups (10, 25). To maintain insulin sensitivity in healthy subjects it is recommended the inclusion of high intensity aerobic exercise (>75%VO2) three times a week, combined with resistance exercise
(comprising all major muscles groups) at 70% of 1RM two times a week. For those with type 2 diabetes and limited mobility (such as elderly populations), aerobic and resistance exercise of low and moderate-intensity (40-80% heart rate reserve; 50-55% of 1RM), three times a week, are recommended (10).
Our review includes one of the same study from Mann et al (10), three from Conn et al (25) and two additional studies (34, 36). The analysis of the results suggest that frequency and duration of aerobic exercise can be more important than intensity and that moderate intensity is as effective as high intensity performance in glycemic control (especially regarding the elderly). When integrating resistance exercise, additional effects can be achieved. These findings are in agreement with the latest recommendations for healthy and diabetic individuals (10, 13, 25, 41), despite the heterogeneity of samples, differences in exercise programs and outcome measures, in addition to the relatively low quality of studies according to PEDro scale. The longest follow-up ranged from 4 to 9 months and the shortest was 2 days, however in all of them metabolic benefits were found. Thus, according to the Cochrane Back Review Group our systematic review may show a moderate degree of evidence recommendation. The following RCT on pre-diabetic subjects were not included for analysis in this review because they only compared one exercise group with other kinds of intervention, independently or in combination (diet, pharmacological or no intervention). However they are mentioned here because, despite the differences in exercise protocols, they also favour the incomes of physical activity alone on metabolic control, regardless the mode, intensity, volume and duration.
Pan et al (16) developed one of the first trials concerning lifestyle modification as a primary prevention for type 2 diabetes in pre-diabetic adults. With an initial sample of

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 84 - 100.
95
577 individuals of both sexes and a six years follow-up, the withdrawal rate was low (530 individuals completed the study). Subjects were randomly assigned into a control group or one of three intervention groups: diet, exercise and diet plus exercise. In the exercise group the goal of the intervention was to increase recreational physical activity (adjusted for type, intensity and time), where individual recommendations were given. At the end of follow-up it was found that diabetes incidence was lower in the exercise group (41.1%, 95% CI [33.4-49.4]) compared with the control group (67.7%, 95% CI [59.8-75.2]), diet group (43.8%, 95% CI [35.5-52.3]) and diet plus exercise group (46%, 95% CI [37.3-54.7]). Regarding the risk of developing the disease, the largest reduction was observed in the exercise group (46%) compared with diet plus exercise group (42%) and diet group (31%). The authors concluded that diet effectiveness was similar to that from exercise and there was no additional benefits from both interventions combination.
The double-blinded RCT conducted by Malin et al (21)
aimed to determine the effects of metformin and physical exercise, independently or combined, on insulin sensitivity in a sample of 32 pre-diabetic subjects. Subjects were randomly allocated into three intervention groups: metformin, exercise (with placebo) and exercise plus metformin. The exercise program consisted of combined aerobic plus resistance exercise. At the end of follow-up (12 weeks) all three interventions increased insulin sensitivity. This increase was 25-30% higher in the exercise group compared to the others, although the difference was not statistically significant. It was concluded that exercise increased insulin sensitivity and the addition of metformin to physical training did not emphasized that improvement. On the contrary, it may have affected the full effect of exercise.
Aerobic exerciseIn the study of Houmard et al (31) the results of insulin sensitivity are clinically relevant, considering that significant
mean differences, low range 95% confidence intervals and large effect sizes favours the experimental groups compared with the control group. Although the effect size is greater in high-volume/high-intensity group than in the low-volume/moderate-intensity group this difference was not significant. Fasting glucose levels were not clinically relevant (wide confidence intervals) with no significant differences. The decline in insulin action in the control group emphasizes that the lack of regular physical exercise, at least for 6 months, may result in a significant increase of insulin resistance. The study confirms that physical activity of at least moderate intensity increases insulin sensitivity, which is relevant for type 2 diabetes prevention. An aerobic exercise program with a duration of 170 minutes/week (frequency of 3-4 times per week), regardless of variations in intensity and volume, improved insulin sensitivity (low volume/moderate intensity and high volume/high intensity groups). These results were more substantial than the 115 minutes/week program (3 times a week), regardless of the volume and intensity (low volume/high intensity group).
The O'Donovan et al (32) research also exposes the positive effects of the two exercise intensities (moderate and high) in insulin action. Concerning fasting insulin and insulin resistance, although the mean differences were statistically significant with a moderate effect size, 95% confidence intervals were wide. For insulin sensitivity the results are considered clinically relevant for both exercise intensities since, in addition to the average difference being statistically significant, 95% confidence interval only includes negative values and the effect size is large. The small average difference between the two exercise groups is not significant. These results suggest that a training performed at 60% of maximum oxygen consumption (VO2max) (moderate intensity) is as effective as a training performed at 80% of VO2max (high intensity), when 400kcal are spent per session.
Contrary to the studies of Houmard et al (31) and O'Donovan

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
SANTOS C. ET AL.
96
ARTÍCULO DE REVISIÓN
et al (32), in the study of DiPietro et al (33) the benefits of aerobic exercise with different intensities on glycemic control were less robust. Even so, a greater improvement was observed on insulin sensitivity of women who performed high-intensity exercise compared to moderate or low-intensity exercise. Between moderate intensity and control groups the mean difference was almost zero and the effect size was small. Among the high-intensity and control groups the mean difference favoured the experimental group (significant difference), with a small 95% confidence interval and a moderate effect size. When comparing the two experimental groups, the mean difference favours high-intensity exercise (significant difference) with a small 95% confidence interval and a large effect size, which makes it clinically relevant. The other outcomes were not clinically relevant. The results suggest that long-term high-intensity exercise provides more lasting benefits in insulin action compared to low or moderate-intensity exercise.
In the DiPietro et al (34) investigation, with only 2 days of follow-up, the results indicate that a 15 minutes short daily walking after meals seems as effective as continuous morning walking in postprandial hyperglycaemia control, compared with continuous afternoon walking. Although the mean difference favours the postmeal walking, the effect size is small to moderate and the 95% confidence intervals suggest a wide dispersion of the data. Still, performing moderate aerobic exercise with shorter duration and higher daily frequency can be seen as a strategy to increase adherence to exercise programs in the elderly.
Resistance exerciseWith regard to resistance exercise, Hansen et al (35) found a significant mean difference in OGTT2h, with a moderate effect size, when comparing MRT with no exercise. Although it favours MRT, the 95% confidence interval was wide. Comparing ERT with the baseline values of the group (control) the mean difference was significant for insulin levels with a moderate effect size, but also with a
wide 95% confidence interval. Both exercises had almost no effect on fasting glucose. Clinically these results are of little relevance given the wide variation of the confidence intervals, even if MRT and ERT leads to a decrease in insulin resistance in subjects at risk of type 2 diabetes. According to the authors MRT increased glucose uptake capacity in muscle, while ERT increased insulin sensitivity, which supports their effectiveness for primary prevention.
The study conducted by Liu et al (36) reveal that significant mean differences favours both exercise groups against control group for OGTT2h, fasting insulin and insulin resistance. However, the results are considered clinically more relevant for OGTT2h, because the effect size is large with a limited 95% confidence interval. The other outcomes reveal smaller effect sizes and wider 95% confidence intervals. The mean differences between the exercise groups are not significant. Thus, it is not clear which one is more effective, although both have improved insulin sensitivity.
Withdrawal rateIn our review we recorded dropouts in almost all studies. Houmard et al (31) had the greater withdrawal rate. According to the authors it may be related to the long intervention follow-up.
The importance of adherence and maintenance in exercise programs has been recognized in various study designs (42,
43). However, although it is considered as a limitation, not always is properly described and analysed, including the strategies to minimize this risk of bias. Some of the reasons pointed as determinant factors to increase adherence to exercise are their adaptation, appropriateness or preference for individual and/or community. Thus, consistent with some authors and the diversity of exercise programs analysed (28, 44), more important than define the best FITT is to understand what are the features that each program should devise to ensure the better benefits to health and, at

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 84 - 100.
97
the same time, are more suitable for different populations, specific condition and individual preferences.
In the study conducted by Mendham et al (43) (not included in this review) in inactive overweight indigenous australian men, the exercise experimental program consisted on a combination of aerobic and resistance exercise, also interspersed with a boxing workout circuit (intensity 70-85% of maximum heart rate, 2-3 times a week, 45-60 minutes for session). Moreover, a sport modality (football or basketball) was performed once a week. At the end of follow-up, besides the benefits on metabolic profile the authors emphasize the importance of including sports and group activities, according to individual/community preferences, as a way to increase adherence.
According to Sanz et al (9) lifestyle programs involving a variety of physical activities are as effective as those based on a single exercise mode. For this reason, using different exercise modalities may be a key to make their practice more feasible, thereby increasing adherence and sustainability for long term regular physical exercise.
LIMITATIONS
The main limitations of this review include few studies for eligibility, reduced sample sizes, demographic heterogeneity (mainly gender distribution), exercise programs with different characteristics within the same modality of exercise, differences in follow-up, use of different methodologies and measurement units for the same outcome and relatively low quality of the articles selected for analysis.
CONCLUSIONS
The evidence found in this systematic review does not
allow to answer specifically to our initial guiding question, mainly due to methodological differences between them. However, it was evident from the studies with the longest follow-up that aerobic and resistance exercises performed at a moderate to high intensity at least 3 times a week, with a duration of 40-60 minutes for session, are long-term beneficial for insulin resistance decline or insulin sensitivity increase. In the short term, by reducing the duration of the aerobic exercise for session, but increasing the daily frequency (3 times daily at least) may also be beneficial in glycemic control. Therefore, by controlling the metabolic variables one can prevent the development of type 2 diabetes through risk reduction.
Future research should aim the investigation of those exercises that better ensemble specific subpopulations and that promote adherence to physical activity programs. Those that are more adequate to physical characteristics and personal expectations are more likely for successful results.
REFERENCES
1. Merlotti C, Morabito A, Ceriani V, et al. Prevention of type 2 diabetes in obese at-risk subjects: a systematic review and meta-analysis. Acta Diabetol 2014;51:853-63.
2. Rydén L, Grant PJ, Anker SD, et al. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD – Summary. Diab Vasc Dis Res 2014;11:133-73.
3. Paulweber B, Valensi P, Lindström J, et al. A european evidence-based guideline for the prevention of type 2 diabetes. Horm Metab Res 2010;42(Suppl 1):S3-S36.
4. Palermo A, Maggi D, Maurizi AR, et al. Prevention of type 2 diabetes mellitus: is it feasible? Diabetes Metab Res Rev 2014;30(Suppl 1):4-12.
5. Eves ND, Plotnikoff RC. Resistance training and type

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
SANTOS C. ET AL.
98
ARTÍCULO DE REVISIÓN
2 diabetes. Considerations for implementation at the population level. Diabetes Care 2006;29:1933-41.
6. Jeon CY, Lokken RP, Hu FB, et al. Physical activity of moderate intensity and risk of type 2 diabetes: a systematic review. Diabetes Care 2007;30:744-52.
7. Gordon BA, Benson AC, Bird SR, et al. Resistance training improves metabolic health in type 2 diabetes: a systematic review. Diabetes Res Clin Pract 2009;83:157-75.
8. Irvine C, Taylor NF. Progressive resistance exercise improves glycaemic control in people with type 2 diabetes mellitus: a systematic review. Aust J Physiother 2009;55:237-46.
9. Sanz C, Gautier JF, Hanaire H. Physical exercise for the prevention and treatment of type 2 diabetes. Diabetes Metab 2010;36:346-51.
10. Mann S, Beedie C, Balducci S, et al. Changes in insulin sensitivity in response to different modalities of exercise: a review of the evidence. Diabetes Metab Res Rev 2014;30:257-68.
11. Yang Z, Scott CA, Mao C, et al. Resistance exercise versus aerobic exercise for type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Sports Med 2014;44:487-99.
12. Sénéchal M, Slaght J, Bharti N, et al. Independent and combined effect of diet and exercise in adults with prediabetes. Diabetes Metab Syndr Obes 2014;7:521-29.
13. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes – 2015. Diabetes Care 2015;38(Suppl 1):S1-S94.
14. Yates T, Khunti K, Bull F, et al. The role of physical activity in the management of impaired glucose tolerance: a systematic review. Diabetologia 2007;50: 1116-26.
15. Hordern MD, Dunstan DW, Prins JB, et al. Exercise prescription for patients with type 2 diabetes and pre-diabetes: A position statement from Exercise and Sport Science Australia. J Sci Med Sport 2012;15:25-31.
16. Pan XR, Li GW, Hu YH, et al. Effects of diet and exercise in preventing NIDDM in people with impaired glucose tolerance. The Da Qing IGT and Diabetes Study. Diabetes Care 1997;20:537-44.
17. Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson JG, et al. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001;344:1343-50.
18. Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, et al. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 2002;346:393-403.
19. Kosaka K, Noda M, Kuzuya T. Prevention of type 2 diabetes by lifestyle intervention: a Japanese trial in IGT males. Diabetes Res Clin Pract 2005;67:152-62.
20. Ramachandran A, Snehalatha C, Mary S, et al. The indian diabetes prevention programme shows that lifestyle modification and metformin prevent type 2 diabetes in asian indian subjects with impaired glucose tolerance (IDPP-1). Diabetologia 2006;49:289-97.
21. Malin SK, Gerber R, Chipkin SR, et al. Independent and combined effects of exercise training and metformin on insulin sensitivity in individuals with prediabetes. Diabetes Care 2012;35:131-36.
22. Stevens JW, Khunti K, Harvey R, et al. Preventing the progression to type 2 diabetes mellitus in adults at high risk: a systematic review and network meta-analysis of lifestyle, pharmacological and surgical interventions. Diabetes Res Clin Pract 2015;107:320-31.
23. Egger A, Niederseer D, Diem G, et al. Different types of resistance training in type 2 diabetes mellitus: effects on glycaemic control, muscle mass and strength. Eur J Prev Cardiol 2013;20:1051-60.
24. Lee S, Kim Y. Effects of exercise alone on insulin sensitivity and glucose tolerance in obese youth. Diabetes Metab J 2013;37:225-32.
25. Conn VS, Koopman RJ, Ruppar TM, et al. Insulin sensitivity following exercise interventions: systematic

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 84 - 100.
99
review and meta-analysis of outcomes among healthy adults. J Prim Care Community Health 2014;5:211-22.
26. LW Ng C, Goh S, Malhotra R, et al. Minimal difference between aerobic and progressive resistance exercise on metabolic profile and fitness in older adults with diabetes mellitus: a randomised trial. J Physiother 2010;56:163-70.
27. Jorge ML, Oliveira VN, Resende NM, et al. The effects of aerobic, resistance, and combined exercise on metabolic control, inflammatory markers, adipocytokines, and muscle insulin signaling in patients with type 2 diabetes mellitus. Metabolism 2011;60:1244-52.
28. O’Hagan C, De Vito G, Boreham CA. Exercise prescription in the treatment of type 2 diabetes mellitus: current practices, existing guidelines and future directions. Sports Med 2013;43:39-49.
29. Taylor JD, Fletcher JP, Mathis RA, et al. Effects of moderate- versus high-intensity exercise training on physical fitness and physical function in people with type 2 diabetes: a randomized clinical trial. Phys Ther 2014;94:1720-30.
30. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, et al. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. Int J Surg 2010;8:336-41.
31. Houmard JA, Tanner CJ, Slentz CA, et al. Effect of the volume and intensity of exercise training on insulin sensitivity. J Appl Physiol (1985) 2004;96:101-6.
32. O’Donovan G, Kearney EM, Nevill AM, et al. The effects of 24 weeks of moderate- or high-intensity exercise on insulin resistance. Eur J Appl Physiol 2005;95:522-28.
33. DiPietro L, Dziura J, Yeckel CW, et al. Exercise and improved insulin sensitivity in older women: evidence of the enduring benefits of higher intensity training. J Appl Physiol (1985) 2006;100:142-49.
34. DiPietro L, Gribok A, Stevens MS, et al. Three 15-min bouts of moderate postmeal walking significantly
improves 24-h glycemic control in older people at risk for impaired glucose tolerance. Diabetes Care 2013;36:3262-68.
35. Hansen E, Landstad BJ, Gundersen KT, et al. Insulin sensitivity after maximal and endurance resistance training. J Strength Cond Res 2012;26:327-34.
36. Liu Y, Li J, Zhang Z, et al. Effects of exercise intervention on vascular endothelium functions of patients with impaired glucose tolerance during prediabetes mellitus. Exp Ther Med 2013;5:1559-65.
37. Yamaoka K, Tango T. Efficacy of lifestyle education to prevent type 2 diabetes: a meta-analysis of randomized controlled trials. Diabetes Care 2005;28:2780-86.
38. Cardona-Morrell M, Rychetnik L, Morrell SL, et al. Reduction of diabetes risk in routine clinical practice: are physical activity and nutrition interventions feasible and are the outcomes from reference trials replicable? A systematic review and meta-analysis. BMC Public Health 2010;10:653.
39. Hopper I, Billah B, Skiba M, et al. Prevention of diabetes and reduction in major cardiovascular events in studies of subjects with prediabetes: meta-analysis of randomised controlled clinical trials. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2011;18:813-23.
40. Orozco LJ, Buchleitner AM, Gimenez-Perez G, et al. Exercise or exercise and diet for preventing type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2008;3:CD003054.
41. Harmer AR, Elkins MR. Amount and frequency of exercise affect glycaemic control more than exercise mode or intensity. Br J Sports Med 2014. doi: 10.1136/bjsports-2013-093225
42. Ferrara CM, Goldberg AP, Ortmeyer HK, et al. Effects of aerobic and resistive exercise training on glucose disposal and skeletal muscle metabolism in older men. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2006;61:480-87.

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
SANTOS C. ET AL.
100
ARTÍCULO DE REVISIÓN
43. Mendham AE, Duffield R, Marino F, et al. A 12-week sports-based exercise programme for inactive Indigenous Australian men improved clinical risk factors associated with type 2 diabetes mellitus. J Sci Med Sport. 2015;18:438-43.
44. Dubé JJ, Allison KF, Rousson V, et al. Exercise dose and insulin sensitivity: relevance for diabetes
prevention. Med Sci Sports Exerc 2012;44:793-99.
Correo Autor: [email protected]
Fecha de Aceptación: 23 de Marzo del 2017 Fecha de Publicación: 31 de Mayo del 2017
ACEPTACIÓN Y CORRESPONDENCIA

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 101 - 111.
101
PERTURBAÇÕES DO PROCESSAMENTO AUDITIVO EM CRIANÇAS COM DISLEXIA
ANA LÚCIA PEREIRA1, CRISTINA NAZARÉ1.
INTRODUÇÃO
A dislexia é uma dificuldade específica de aprendizagem de origem neurológica. Caracteriza-se pela dificuldade no reconhecimento preciso e/ou fluente de palavras e pela má ortografia. Em geral, estas dificuldades resultam de um
défice na componente fonológica da língua que é, muitas vezes, independente de outras habilidades cognitivas e de um ensino escolar adequado e eficaz (1). Além disso, ela é caracterizada pela dificuldade na fluência correta da
Auditory Processing Disorders in Children with Dyslexia
1 Instituto Politécnico de Coimbra, ESTESC-Coimbra Health School, Audiologia, Portugal.
RESUMO Introdução: A dislexia é uma dificuldade específica de aprendizagem caracterizada pela dificuldade na fluência correta da leitura e pela dificuldade na capacidade de decodificação e soletração. No geral, estas dificuldades resultam de uma perturbação na componente fonológica da língua. Tem sido frequentemente referido em várias teorias que as perturbações específicas da linguagem e a dislexia podem estar relacionadas com as perturbações de processamento auditivo (PPA). Objetivo: Analisar, por meio da revisão sistemática da literatura, quais são as perturbações ao nível do processamento auditivo encontradas em crianças com dislexia, através dos resultados dos testes comportamentais que avaliam o processamento auditivo. Metodologia: Para a pesquisa bibliográfica foram utilizados os motores de busca B-on, SciELO, PubMed, ScienceDirect e a rede Researchgate. Foram encontrados 32 artigos científicos, dos quais 5 foram incluídos nesta revisão sistemática, por preencherem os seguintes critérios de inclusão: serem artigos originais; estudarem as PPA através de testes comportamentais que avaliam o processamento auditivo; incluírem uma amostra com crianças com dislexia; e a sua data de publicação ser a partir de 2006. Resultados: Nesta revisão foi possível verificar que vários estudos encontram alterações em diferentes aptidões do processamento auditivo em crianças com dislexia. Apesar de não se verificar um consenso em relação às aptidões afetadas, foi possível observar que o Frequency Pattern Test (FPT) encontra-se alterado em todos os estudos que aplicaram este teste. Verificou-se também que o teste fala com ruído e o teste dicótico de dígitos podem apresentar-se alterados nestas crianças. Conclusão: Conclusão: Os resultados sugerem o FPT como um bom indicador para a deteção de PPA em crianças com dislexia. Considera-se assim, que será importante a realização de mais estudos de processamento auditivo em crianças com dislexia com o intuito de contribuir para a prevenção, diagnóstico e reabilitação das PPA com treino auditivo.
Palavras-chave: Perturbações do processamento auditivo, dislexia, testes comportamentais do processamento auditivo, crianças.
RESUMENIntroducción: La dislexia es una dificultad específica de aprendizaje caracterizada por la dificultad en la fluencia correcta de la lectura y por la dificultad de la capacidad de decodificación y deletrear. En general, estas dificultades resultan de una perturbación en el componente fonológica de la lengua. Ha sido frecuentemente reportado en varias teorías que las perturbaciones específicas de la lenguaje y la dislexia pueden estar relacionadas con las perturbaciones del procesamiento auditivo (PPA). Objetivo: Realizar un análisis, por medio de la revisión sistemática de la literatura, cuáles son las perturbaciones al nivel del procesamiento auditivo encontradas em niños con dislexia, a través de los resultados de las pruebas comportamentales que evalúan el procesamiento auditivo. Metodología: Para la investigación bibliográfica fueron utilizados los motores de busqueda B-on, SciELO, PubMed, ScienceDirect y la red Researchgate. Fueron encontrados 32 artículos científicos, de los cuales 5 fueron incluidos en esta revisión sistemática, por ocupar los siguientes criterios de inclusión: ser artículos originales; estudiar las PPA a través de las pruebas comportamentales que evalúan el procesamiento auditivo; se incluyó una muestra de niños con dislexia; y la fecha de publicación a partir del año 2006. Resultados: En esta revisión fue posible comprobar que varios estudios encontraron alteraciones en diferentes aptitudes del procesamiento auditivo en niños con dislexia. A pesar de no verificarse un consenso en relación a las aptitudes afectadas, fue posible observar que el Frequency Pattern Test (FPT) se encuentra alterado en todos los estudios que aplicaron esta prueba. Se verificó también que la prueba habla con ruido y la prueba dicótica de dígitos pueden presentarse alteradas en estos niños. Conclusión: Los resultados sugieren el FPT como un buen indicador para la detección de PPA en niños con dislexia. Se considera así, que será importante la realización de más estudios de procesamiento auditivo en niños con dislexia con el intuito de contribuir para la prevención, diagnóstico y rehabilitación de las PPA con entrenamiento auditivo.
Palabras-llaves: Perturbaciones del procesamiento auditivo, dislexia, pruebas comportamentales del procesamiento auditivo, niños.

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
PAEREIRA A. ET AL.
102
ARTÍCULO DE REVISIÓN
leitura e pela dificuldade na habilidade de descodificação e soletração, resultantes de um défice na componente fonológica da linguagem (2).
As crianças com dislexia, mesmo na ausência de uma disfunção cognitiva, não adquirem fluentemente conhecimentos precisos da leitura de palavras, apesar de um ensino adequado (3). Esta dificuldade é manifestada primeiramente na descodificação fonográfica quando a criança precisa de entender e utilizar sinais gráficos com as sequências fonológicas das palavras no início da alfabetização (4).
A dislexia acompanha o indivíduo durante toda a sua vida e interfere no sucesso escolar ou nas atividades da vida diária que requerem capacidades de leitura. É uma das perturbações mais comuns no desenvolvimento afetando cerca de 5% das crianças em idade escolar3. Ocorre em todos os idiomas conhecidos (5). As condições socioeconómicas e os fatores familiares influenciam o desenvolvimento das habilidades de leitura, mas não são causalmente relacionados com a dislexia6. Desde a primeira descrição de casos com dislexia, foram realizados estudos familiares que indicaram claramente para a existência de uma base genética desta perturbação (7). Indivíduos disléxicos ao lerem recorrem a circuitos cerebrais diferentes comparando com os que são usados pelos bons leitores. Quando indivíduos com leitura fluente leem, ativam a região posterior do córtex e, até certo ponto, a região anterior (menor ativação), isto é, ao lerem ativam a área responsável pela forma da palavra havendo um reconhecimento instantâneo da sequência de palavras, verificando-se uma forte ligação entre competências de leitura e a área do cérebro responsável à forma da palavra. Os indivíduos com dislexia, quando leem, apresentam uma falha neste sistema. Ou seja, ocorre, não só, uma fraca ativação dos percursos neurais da região posterior do cérebro impedindo o reconhecimento automático e
rápido da palavra, como também dificuldades em analisar palavras e transformar grafemas em fonemas. Assim, tentam recorrer a sistemas da zona anterior do cérebro, ou seja, sistemas de leitura alternativos e indiretos de modo a compensar os défices existentes na zona posterior. Na tentativa de um disléxico ler palavras em voz alta o hemisfério esquerdo não é ativado, tornando a leitura mais dependente da área de Broca e do lado direito da zona anterior do cérebro. Este tipo de ativação cerebral permite uma leitura correta das palavras, contudo é lenta (3).
Sauer (8), com base na literatura, evidenciou que em indivíduos disléxicos existe uma alteração cortical do lobo temporal do hemisfério esquerdo, onde se situa o córtex auditivo. Nos indivíduos disléxicos, o lobo temporal do hemisfério esquerdo é menor ou igual ao lobo temporal direito e o mesmo não se observa na população de indivíduos sem dificuldades na leitura e/ou escrita.
O processamento fonológico é um dos fatores mais relevantes para aprender a ler e escrever e está alterado em crianças e adultos disléxicos. Tallal (9) levantou a hipótese de que a dificuldade do processamento fonológico é provocada por uma perturbação do processamento auditivo temporal, podendo esta afetar a perceção dos sons da fala e consequentemente a consciência fonológica, originando posteriores problemas na leitura.
Tem sido frequentemente referido em várias teorias que as perturbações específicas da linguagem e dislexia podem estar relacionadas com as perturbações de processamento auditivo (PPA). As crianças com PPA demonstram dificuldades numa ou mais áreas do processamento e perceção da informação auditiva, como na localização e lateralização do som, discriminação auditiva, reconhecimento de padrões auditivos, aspetos temporais, incluindo a integração e a resolução temporal (por exemplo, deteção temporal de gap), ordenação e mascaramento temporal, desempenho auditivo em sinais

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 101 - 111.
103
acústicos concorrentes (incluindo a escuta dicótica) e desempenho auditivo com sinais acústicos degradados (4).
Estima-se que 30 a 35% de crianças com PPA apresentam dificuldades de aprendizagem. Sendo a dislexia resultado de um défice específico de aprendizagem, torna-se importante saber quais as aptidões auditivas afetadas, ao nível do processamento. A deteção precoce destas dificuldades contribui para a prevenção ou diminuição do insucesso na aprendizagem escolar (10). Um plano de treino auditivo focado nas aptidões alteradas do processamento auditivo poderá ajudar o aluno em ambiente escolar, visto que o mesmo terá a oportunidade de desenvolver aptidões fundamentais para a aprendizagem da leitura e escrita (11). Para avaliar o processamento auditivo é importante utilizar uma diversidade de testes, como por exemplo, o teste dicótico de dígitos (teste de escuta dicótica), o teste padrão de duração e teste padrão de frequência (testes de ordenação temporal), o teste gap-in-noise (teste de resolução temporal) e o teste fala no ruído (teste monoaural de baixa redundância).
O objetivo do presente estudo é analisar por meio da revisão sistemática da literatura, quais são as perturbações ao nível do processamento auditivo, encontradas em crianças com dislexia, através de testes comportamentais que avaliam o processamento auditivo.
MATERIAL E MÉTODOBases de dados e palavras-chave
Realizou-se uma revisão bibliográfica da literatura científica sobre estudos que exploraram as perturbações do processamento auditivo em crianças com dislexia recorrendo a artigos científicos disponíveis na B-on, SciELO, PubMed, ScienceDirect e à rede Researchgate.
Utilizou-se como estratégia de pesquisa nas bases de dados, a combinação das palavras-chave: perturbações do processamento auditivo, dislexia, dificuldades de aprendizagem, testes de processamento auditivo, criança, teste padrão de duração, teste padrão de frequência, teste dicótico de dígitos, teste de fusão binaural, teste de fala filtrada, teste fala no ruído e os seus correspondentes para a língua inglesa (auditory processing disorders, dyslexia, child, learning difficulties, auditory processing tests, gap-in noise, frequency or pitch pattern sequencing test, duration pattern sequencing test, dichotic digits test, speech in noise test, binaural fusion test, filtered speech test).
Critérios de inclusão e exclusão
Nesta pesquisa da literatura foram encontrados 32 artigos, dos quais 5 foram incluídos. De forma a selecionar adequadamente os artigos recorreu-se à análise dos seus resumos, tendo-se em consideração os critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos. Como critérios de inclusão: os artigos tinham que estudar as PPA através de testes comportamentais que avaliam o processamento auditivo; a amostra tinha que incluir crianças com dislexia; tinham que ser publicados a partir de 2006; e constituir artigos originais. Os 27 artigos que não foram incluídos iam de encontro aos critérios de exclusão: não constituir artigo original, artigos publicados com data posterior, estudavam outra população que não as crianças, e não utilizavam a metodologia pretendida. Assim, foram excluídos: 3 por serem artigos de revisão da literatura, 10 artigos porque possuíam metodologias diferentes da pretendida, ou avaliavam o processamento auditivo e visual em simultâneo, 9 artigos por não cumprirem o critério da data, 3 artigos por terem objetivos de estudo diferentes e visavam apurar os benefícios do treino auditivo e, por fim, 2 artigos porque a amostra era constituída por adultos.
Artigos selecionados

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
PAEREIRA A. ET AL.
104
ARTÍCULO DE REVISIÓN
Para estudar as pertubações do processamento auditivo em crianças com dislexia foram selecionados 5 artigos. Estes estudam populações com características muito similares, e quanto à metodologia utilizada, repetiram testes comportamentais entre si, o que permitiu que fosse possível confrontar os vários resultados obtidos respetivamente em cada teste. Assim, para avaliar o processamento auditivo o teste fala no ruído (speech in noise - SpeechN) foi aplicado em 4 artigos, o teste dicótico de dígitos (dichotic digits - DD) foi aplicado em 2, o teste padrão de duração (frequency pattern test - FPT) em 2, o teste padrão de duração (duration pattern test - DPT) em 2 e, por fim, o gap-in-noise test (GIN) em 4 artigos.
RESULTADOS
Tabela 1. Artigos científicos incluídos nesta revisão de literatura.
ARTIGO
Habilidades auditivas em crianças com dislexia e transtorno do défice
de atenção e hiperatividade de Abdo et al. (12).
Auditory Processing Disorders in children suspected of Learning
Disabilities—A need for screening de Iliadou et al. (10).
Processamento auditivo (central) em crianças com dislexia: avaliação
comportamental e eletrofisiológica de Oliveira et al. (13).
Gaps-in-noise (GIN©) test results in children with and without reading
disabilities and phonological processing deficits de Zaidan & Baran
(14).
Speech perception in preschoolers at family risk for dyslexia:
Relations with low-level auditory processing and phonological ability
de Boets et al. (15).
Habilidades auditivas em crianças com dislexia e crianças e transtorno do défice de atenção e hiperatividade de Abdo et al. (12). Abdo et al. (12), tiveram como objetivo investigar o desempenho de crianças com dislexia e crianças com transtorno do défice de atenção e hiperatividade denominado em Portugal por perturbação da hiperatividade com défice de atenção (PHDA) em testes comportamentais
de processamento auditivo, comparando os resultados com um grupo de controlo.
Avaliaram 30 crianças, 10 de cada grupo, com idades compreendidas entre os 7 e os 12 anos. O grupo com Dislexia era constituído por 6 crianças do sexo feminino e 4 do sexo masculino, o com PHDA por 2 do sexo feminino e 8 do sexo masculino e o grupo de controlo por 7 do sexo feminino e 3 do sexo masculino (12). Como critérios de inclusão do grupo de controlo consideraram as crianças sem queixas de PPA ou atraso no desenvolvimento da linguagem oral e escrita. As crianças pertencentes ao grupo de estudo com dislexia e ao grupo de crianças com PHDA foram encaminhadas e diagnosticadas, respetivamente, pela Associação Brasileira de Dislexia (ABD) e pelo Departamento de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ambos os grupos que eram falantes nativos do Português do Brasil, e na avaliação audiológica (audiograma tonal e vocal e impedanciometria) apresentavam resultados dentro dos padrões da normalidade e apresentavam também ausência de outras alterações cognitivas (12).
Para a realização desta investigação (12), aplicaram os testes padrão de frequência versão de Musiek (16), teste fala no ruído SpeechB e o teste dicótico de dígitos con a versão de Pereira et al. (7). O grupo com PHDA apresentou pior desempenho em todos os testes aplicados em comparação com os outros 2 grupos. No grupo de crianças com dislexia verificaram piores resultados no teste padrão de frequência, em contrapartida com os outros 2 testes de processamento auditivo onde não se verificou qualquer alteração.Transtornos do processamento auditivo em crianças suspeitas de deficiência de aprendizado - necessidade

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 101 - 111.
105
de rastreamento de Iliadou et al. (10).
Neste estudo tiveram como objetivo avaliar a prevalência de PPA em crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem, assim como estudar a correlação: entre o diagnóstico de PPA e a idade; entre PPA e o coeficiente de inteligência (QI); entre PPA e a presença de uma perturbação específica de aprendizagem (dislexia) (10). E ainda, avaliar a fiabilidade de cada teste do processamento auditivo utilizado neste estudo para identificar PPA.
Na amostra foram incluídos indivíduos com dificuldades de aprendizagem referidas pela Clínica do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Aristóteles de Thessaloniki, baseando-se nos critérios do DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV). Foram selecionados 127 indivíduos, onde 26 foram excluídos pelo centro de avaliação auditiva devido a apresentarem défices de ordem superior tais como autismo ou QI inferior a três desvios-padrão da média e, as restantes 101 crianças e adolescentes, com idades entre os 8 e os 15 anos de idade, foram encaminhadas para a clínica Learning Disabilities onde foram submetidas a testes para avaliação do processamento auditivo. Destas 101 crianças e adolescentes, 28 foram diagnosticadas com dislexia (10). Todos estes indivíduos apresentavam baixo desempenho escolar e valores dentro dos parâmetros da normalidade no audiograma tonal e vocal. Para avaliação do QI utilizaram os dados normativos da WISC-III (Wechsler Intelligence Scale for Childrens-III), no diagnóstico de PHDA basearam-se num questionário detalhado e em testes de atenção e, por fim, o diagnóstico de dislexia foi feito através de testes de leitura e escrita e avaliação fonológica, baseados segundo os critérios DSM-IV (10).
Para avaliar o processamento auditivo recorreram ao teste dicótico de dígitos (sem referência à versão), teste padrão de duração, teste padrão de frequência e gap-in-noise test (estes 3 testes, versões da Auditec St. Louis) e o teste de
fala no ruído (speech in babble, desenvolvido no próprio laboratório).
O QI não foi significativamente diferente entre os dois grupos da amostra, não sendo verificada uma relação entre PPA e o QI. No grupo com PPA, 14 indivíduos (de 55) foram diagnosticados com dislexia, enquanto que no grupo sem PPA, 14 (de 46) casos foram também diagnosticados com dislexia. Assim, foi observado que a percentagem de casos com dislexia dentro do grupo com PPA foi de 25% e do grupo sem PPA foi de 30%. Na amostra deste estudo a elevada prevalência de PPA em indivíduos com dificuldades de aprendizagem parece ser independente do diagnóstico de dislexia. Em suma, verificou-se uma elevada prevalência de PPA nesta amostra com suspeitas de dificuldades de aprendizagem, mas o diagnóstico de PPA não se correlacionou com o diagnóstico de dislexia (10).
Processamento auditivo (central) em crianças com Dislexia: avaliação comportamental e eletrofisiológica Oliveira et al. (13).Oliveira et al. (13), tiveram como objetivo avaliar e comparar o desempenho de crianças com dislexia com um grupo de controlo através de testes auditivos comportamentais e eletrofisiológicos que avaliam o processamento auditivo.A amostra do estudo no total foi constituída por 38 crianças e as suas idades variavam entre os 9 e 12 anos. No grupo com dislexia participaram 6 do sexo feminino e 16 do sexo masculino (grupo de estudo) e no grupo de controlo, 9 do sexo feminino e 7 do sexo masculino (13).
No grupo de estudo foram incluídos os indivíduos que apresentavam diagnóstico de dislexia severa determinado pela Associação Brasileira de Dislexia, ausência de pertubações cognitivas, psicológicas ou neurológicas comprovadas pelas avaliações realizadas na ABD, audiograma tonal e vocal, impedanciometria e potenciais evocados auditivos do tronco cerebral dentro

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
PAEREIRA A. ET AL.
106
ARTÍCULO DE REVISIÓN
dos parâmetros da normalidade. Os constituintes do grupo de controlo tinham que apresentar audição dentro dos parâmetros da normalidade, ausência de queixas relacionadas à leitura, desempenho escolar normal e, ainda, ausência de antecedentes com comprometimento psicológico ou neurológico evidente. Para avaliação do processamento auditivo foram aplicados os testes: FPT (versão para adultos da Auditec), o DD e o SpeechN (sem referência à versão).
Constataram que o grupo de estudo apresentou pior resultado que o grupo de controlo no teste padrão de frequência. No teste fala no ruído não verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. Contudo, no teste dicótico de dígitos, verificou-se pior desempenho no grupo de estudo em comparação com o grupo de controlo, e verificando-se pior resultado no ouvido esquerdo. Assim, os resultados indicaram que crianças com dislexia apresentaram perturbações nas capacidades temporais e de escuta dicótica do processamento auditivo (13).
Gaps-in-noise (GIN©) test results in children with and without reading disabilities and phonological processing deficits de Zaidan & Baran (14).Os autores (14) através de um teste de processamento fonológico (Perfil de Habilidades Fonológicas (17) e do gap-in-noise (GIN) test versão de Musiek et al. (16), tinham como objetivo determinar se existiam diferenças significativas entre um grupo de crianças com dislexia e um grupo de controlo, e analisar possíveis relações. Ou seja, determinar se o teste GIN poderia diferenciar crianças com dislexia e com défice significativo de consciência fonológica de um grupo de crianças com capacidades de leitura normais.
Participaram 61 crianças com idades entre os 8 e os 9 anos distribuídas por dois grupos: crianças com dislexia e défice fonológico significativo (Grupo I) e crianças com capacidades fonológicas apropriadas à idade (Grupo II). O
Grupo I foi composto por 31 crianças e o Grupo II por 30 crianças.
A amostra foi selecionada segundo os seguintes critérios: ter a língua portuguesa como língua materna, pertencer a uma família de classe média ou superior, não apresentar história ou evidência de problemas comportamentais, emocionais ou neurológicos, com exceção de dislexia (exceção aplicada apenas para os participantes Grupo I), sem história ou evidência de défice de atenção, hiperatividade e/ou problemas de impulsividade, destros, níveis de inteligência normal, visão normal ou corrigida, níveis de audição dentro dos limites da normalidade, timpanograma e reflexos acústicos normais. O grupo I foi recrutado da Associação Brasileira de Dislexia.
O Grupo II apresentou maior percentagem de identificação correta do gap do que o Grupo I em ambos os ouvidos. De acordo com os resultados uma PPA temporal é um fator a ser considerado em crianças com dislexia e perturbação do processamento fonológico.
Speech perception in preschoolers at family risk for dyslexia: Relations with low-level auditory processing and phonological ability de Boets et al. (15).Nesta investigação (15) tiveram como objetivo testar a perceção categórica e a perceção da fala no ruído num grupo composto por crianças em idade pré-escolar consideradas geneticamente em risco de dislexia e, posteriormente comparar com um grupo de controlo constituído por crianças e outro grupo por adultos.
A amostra era composta por 62 crianças com 5 anos de idade que frequentavam o ensino pré-escolar, sendo 36 do sexo masculino e 26 do sexo feminino. Metades dos participantes eram descendentes de famílias com casos de dislexia constituindo o grupo de alto risco (grupo de estudo). A outra metade formava o grupo de controlo, visto que, as suas famílias não apresentavam dificuldades de

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 101 - 111.
107
leitura (grupo de baixo risco). As idades dos membros do grupo composto por adultos variavam entre os 24 e 43 anos (15).
Todas as crianças eram falantes nativos do holandês, não apresentavam história de lesões cerebrais nem problemas auditivos e visuais. As crianças do grupo de controlo, bem como os seus familiares, não apresentavam historial de problemas de linguagem.
Os testes utilizados para a avaliação comportamental do processamento auditivo foram os testes fala no ruído (speech in noise) e o GIN.
Concluíram que, na comparação entre os grupos de crianças, o grupo de risco apresentou uma diminuição no desempenho no teste fala no ruído. Também verificaram que existe uma relação entre o teste fala no ruído e o teste GIN com o processamento auditivo. Isto é, alterações nestes testes indicam uma PPA. O teste GIN não se relacionou com a consciência fonológica, ou seja, maus resultados no teste GIN não indicam dificuldades na consciência fonológica, sugerindo que não é o aspeto temporal que determina a relação entre uma PPA, a perceção da fala e a consciência fonológica. No entanto, os resultados do teste da fala no com ruído estão relacionados com a
consciência fonológica, o que significa que uma melhor perceção da fala no ruído corresponde a uma melhor perceção categórica (15).
DISCUSSÃO
Esta revisão foi baseada em estudos que investigaram quais são as capacidades do processamento auditivo que estão afetadas em crianças com dislexia. Foram incluídos 5 artigos científicos que contêm perspetivas importantes sobre quais são as PPA verificadas em indivíduos com diagnóstico de dislexia. Como foi possível observar, com a análise detalhada de cada artigo, as conclusões obtidas diferem muito entre eles.
Inúmeras teorias sugerem que a perturbação do processamento fonológico, característica da dislexia, tem origem numa perturbação do processamento auditivo temporal (13). Os testes referidos que estudam a capacidade do processamento auditivo temporal foram o teste padrão de frequência, o teste padrão de duração e o gap-in-noise test. Todos os artigos selecionados utilizaram um ou mais destes testes mencionados para avaliar se estas hipóteses se comprovavam. No entanto obtiveram resultados distintos.
Tabela 2. Resultados dos testes de cada artigo: frequency pattern test (FPT), duration pattern test (DPT), gap-in-noise test (GIN), speech in noise (SpeechN), dichotic digits test (DD). Ouvido esquerdo (OE).
ARTIGO/ TESTE FPT DPT GIN SPEECHN DD
Abdo et al. (2009) Com alteração --------- -------- Sem alteração Sem alteração
Iliadou et al. (2009) Com alteração Com alteração Sem alteração Com alteração (OE pior)
Com alteração (OE pior)
Oliveira et al. (2012) Com alteração --------- -------- Sem alteração Com alteração(OE pior)
Zaidan & Baran (2013) --------- --------- Com alteração -------- --------
Boets et al. (2007) --------- --------- Sem alteração Com alteração --------

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
PAEREIRA A. ET AL.
108
ARTÍCULO DE REVISIÓN
Testes: padrão de frequência, padrão de duração e GIN
Quanto aos resultados obtidos nos testes que avaliam o processamento auditivo temporal, através do teste padrão de frequência (FPT), Abdo et al. (12) e Oliveira et al. (13)
nos seus estudos chegaram à conclusão que as crianças com dislexia apresentam pior desempenho neste teste específico. Oliveira et al. (13) ao verificarem um pior resultado, no grupo de estudo, no teste padrão de frequência, foi de encontro a outras investigações mencionadas, que concluíram que uma perturbação do processamento auditivo temporal pode afetar a perceção de sons verbais e originar uma perturbação na consciência fonológica que, por sua vez, vai manifestar-se em problemas de leitura. Neste estudo observaram também uma forte relação entre alterações na resolução da frequência dos sons e as dificuldades na leitura. Os resultados de Abdo et al. (12)
no teste FPT foram de encontro a pesquisas anteriores que defendem uma relação entre uma perturbação na linguagem e uma perturbação no processamento auditivo temporal. Esta hipótese sugere que indivíduos com dislexia apresentam alterações sensoriais que envolvem o processamento da mudança da informação acústica rápida, e esta perturbação vai afetar a aquisição normal das representações fonológicas, cruciais para que haja uma boa associação entre fonema-grafema. Perante isto, Abdo et al. (12) e Oliveira et al. (13) já esperavam piores resultados no teste FPT evidenciando esta hipótese. Iliadou et al. (10)
verificaram uma alteração nos resultados do teste padrão de frequência e no teste padrão de duração em crianças com suspeita de dificuldade de aprendizagem.
O gap-in-noise test foi testado em 3 destes 5 artigos mas, apenas Zaidan & Baran (14) encontraram alterações nos resultados do grupo de estudo em comparação com o grupo de controlo. Atendendo a estes resultados, na sua grande maioria, verificaram que perante casos de dislexia, é esperada uma alteração nos resultados dos testes que avaliam o processamento auditivo temporal.). Aplicaram
um teste de processamento fonológico e verificaram que indivíduos com défices fonológicos explícitos demonstram mau desempenho nos testes de processamento fonológico e no teste GIN, em comparação com crianças com desenvolvimento considerado normal. Assim, os resultados dos seus estudos vão de encontro às hipóteses que defendem que, nos disléxicos, uma perturbação no processamento auditivo temporal tem relação com uma perturbação na consciência fonológica (14).
Boets et al. (15) investigaram um grupo de crianças consideradas como alto risco para o diagnóstico de dislexia, com 5 anos de idade. Implícita à dislexia estava uma perturbação na consciência fonológica e, neste estudo, não se verificou nenhuma relação entre o teste GIN e a consciência fonológica, sugerindo que não é o aspeto temporal que poderá determinar a relação que existe entre a PPA, perceção da fala e consciência fonológica. Ou seja, não se verificou que a existência de uma PPA leva a uma diminuição da compreensão da fala, e que por sua vez, estas originam dificuldades na consciência fonológica.
Teste fala no ruído e teste dicótico de dígitos
Outras investigações defendem que crianças com dislexia apresentam PPA em todas as capacidades e não apenas no processamento auditivo temporal (13). Assim, vários autores, também utilizaram o teste fala no ruído e o teste dicótico de dígitos, de forma a avaliarem diferentes capacidades do processamento auditivo. Para avaliar o processamento auditivo num grupo considerado geneticamente com alto risco para a dislexia, Boets et al. (15) aplicaram o teste fala no ruído e verificaram pior desempenho neste grupo de crianças em comparação com o grupo de controlo. Este resultado foi significativo e relacionado com a consciência fonológica, o que indica que melhor perceção da fala no ruído corresponde a melhor consciência fonológica.

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 101 - 111.
109
Abdo et al. (12) recorreram ao teste fala no ruído e teste dicótico de dígitos e observaram que, em ambos os testes, não se verificaram alterações significativas entre os grupos, sugerindo que não existam perturbações nestas aptidões em crianças diagnosticadas com dislexia.
Também Oliveira et al. (13) aplicaram o teste fala no ruído e não obtiveram nenhuma alteração nos resultados. Em contrapartida, verificaram que no teste dicótico de dígitos, o grupo com dislexia teve pior desempenho em comparação com o grupo de controlo, e verificaram pior resultado no ouvido esquerdo. Assim, os resultados indicaram que crianças com dislexia apresentam perturbações de escuta dicótica do processamento auditivo e com piores resultados no ouvido esquerdo e indicaram também, que não se pode afirmar que a dificuldade é específica do processamento auditivo temporal visto que houve comprometimento de outras aptidões, como na escuta dicótica, evidenciada pelo teste de dicótico de dígitos.
Iliadou et al. (10) também aplicaram o teste fala no ruído e teste dicótico de dígitos num grupo com suspeita de dificuldades de aprendizagem, no entanto, em ambos os testes verificaram piores resultados em comparação com o grupo de controlo, e uma diferença entre os ouvidos do grupo de estudo. Em ambos os testes, o ouvido esquerdo apresentou pior desempenho em comparação com o ouvido direito. Estes resultados vão de encontro a outras investigações que defendem que há pior desempenho no ouvido esquerdo nas crianças com dificuldades de aprendizagem, em particular com dislexia, que poderá ser explicada pela falta de assimetria hemisférica, sendo o hemisfério esquerdo o responsável pela linguagem.
Iliadou et al. (10) ao estudar um grupo com suspeita de défice de aprendizagem verificou que os resultados do teste padrão de duração, teste padrão de frequência e o teste fala no ruído são os mais eficazes para a distinção entre processamento auditivo normal e PPA. Há a suspeita
de que a dislexia está associada a uma PPA. No entanto, a relação entre o número de casos de dislexia no grupo com PPA (25%) e no grupo sem PPA (30%) não foi significativa, ou seja, a prevalência de PPA no grupo com suspeita de défice de aprendizagem parece ser independente do diagnóstico de dislexia. Assim, disléxicos podem ter, ou não, PPA.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sendo a dislexia resultado de um défice específico de aprendizagem, torna-se importante saber quais as aptidões auditivas afetadas ao nível do processamento. Com a análise dos estudos de cada artigo foi possível verificar que não existe consenso em relação à questão se é uma PPA temporal que está na base da perturbação de processamento fonológico observada na dislexia. Nos testes comportamentais FPT, DPT e GIN que avaliam o processamento auditivo temporal verificou-se que o teste FPT e o teste DPT se encontram alterados nas amostras com crianças com dislexia. Já no teste GIN, apenas um de três artigos demonstrou alteração nos seus resultados. Assim, ainda que a probabilidade da existência de uma perturbação no processamento auditivo temporal nestas crianças seja grande, não se pode concluir, com certeza, que há uma relação entre dislexia e uma alteração nesta capacidade do processamento auditivo, e que esta vai afetar a perceção de sons da fala e originar uma perturbação na consciência fonológica manifestando-se em dificuldades de leitura.
Como limites de estudo encontramos pouca informação recente sobre este tema utilizando a metodologia pretendida, dentro dos critérios estabelecidos para a obtenção dos artigos a incluir nesta revisão da literatura. A presente revisão permitiu observar que ainda há poucos estudos que utilizam os testes comportamentais

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
PAEREIRA A. ET AL.
110
ARTÍCULO DE REVISIÓN
do processamento auditivo para identificar quais as capacidades do Processamento Auditivo alteradas nas crianças com dislexia.
Consideramos importante realizar investigação neste âmbito em Portugal e a nível internacional, e com uma amostra mais alargada (que as analisadas) de crianças com dislexia (com diferentes grupos de tipos de dislexia) em comparação com um grupo de crianças com desenvolvimento típico, aplicando 5 testes de processamento auditivo (Teste Padrão de Duração, Teste Padrão de Frequência, Gap-in-noise, Teste Dicótico de Dígitos e Teste de Fala no Ruído) que avaliam várias aptidões do processamento auditivo. Desta forma, poder-se-á estudar a existência, ou ausência, de perturbações no processamento auditivo, identificando quais as capacidades do processamento auditivo que se encontram afetadas nestas crianças. Assim, tornar-se-á possível identificar quais são os resultados dos testes comportamentais do processamento auditivo que estão alterados em crianças com dislexia, permitindo posteriormente a possibilidade de atuar com um plano de treino do processamento auditivo adequado, de modo a diminuir o impacto que a dislexia provoca na aprendizagem.
REFERÊNCIAS
1. The International Dyslexia Association. What is Dyslexia. 2002. Obtido: www.interdys.org
2. Lyon, G. R., Shaywitz, S. E., & Shaywitz, B. A. A definition of dyslexia. Annals of Dyslexia, 2003;53, 1-14.
3. Shaywitz, S. Cérebro em funcionamento lê. In Shaywitz, S. Vencer a Dislexia - Como dar respostas às perturbações da leitura em qualquer fase da vida 2008; 83-101. Porto: Porto Editora.
4. American Speech-Language-Hearing Association. The role of the audiologist. (Central) auditory processing
disorders. 2005.5. McBride-Chang C., Lam F., Lam C., Doo S., Wong
S.W., Chow Y.Y., Word recognition and cognitive profiles of Chinese pre-school children at risk for dyslexia through language delay or familial history of dyslexia. The Journal of Child Psychol Psychiatry, 2008;49(2), 211–8.
6. Vellutino F.R., Fletcher J.M., Snowling M.J., Scanlon D.M. Specific reading disability (dyslexia): what have we learned in the past four decades?. The Journal of Child Psychol Psychiatry, 2004;45(1), 2-40.
7. Pereira, L.D, Schochat, E. Processamento auditivo central: manual de avaliação. São Paulo: Lovise. 1997.
8. Sauer, L. Processamento Auditivo e SPECT em Crianças com Dislexia. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campina, Brasil. 2005.
9. Tallal P. Improving language and literacy is a matter of time. Nature Reviews Neuroscience 2004; 5, 721-8.
10. Iliadou, V., Bamiou, D.-E., Kaprinis, S., & Kandylis, D. Auditory Processing Disorders in children suspected of Learning Disabilities – A need for screening? International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2009;73, 1029-1034.
11. Pinheiro, F. H., & Capellini, S. A.. Desenvolvimento das habilidades auditivas de escolares com distúrbio de aprendizagem, antes e após treinamento auditivo, e suas implicações educacionais. Revista Psicopedagogia, 2009; 26(80), 231-241.
12. Abdo Anila Gabriela Rotger, Murphy Cristina Ferraz Borges, Schochat Eliane. Hearing abilities in children with dyslexia and attention deficit hyperactivity disorder. Pró-Fono R. Atual. Cient. [Internet]. 2010 Mar [cited 2017 May 17] ; 22( 1 ): 25-30. Available from:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-56872010000100006&lng=en. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-56872010000100006
13. Oliveira, U. C., Murphy, C. F., & Schochat, E.Processamento auditivo (central) em crianças com

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 101 - 111.
111
dislexia: avaliação comportamental e eletrofisiológica, 2012;25(1), 39-45.
14. Zaidan, E., & Baran, J. A. Gaps-in-noise (GIN©) test results in children with and without reading disabilities and phonological processing deficits. International Journal of Audiology, 2013;52, 113-123.
15. Boets, B., Ghesquière, P., Wieringen, A. v., & Wouters, J. Speech perception in preschoolers at family risk for dyslexia: Relations with low-level auditory processing and phonological ability. Brain and Language, 2006;101, 19-30.
16. Musiek, Frank E. The frequency pattern test: A guide. The Hearing Journal, 2002;55(6), 58
17. Carvalho, I.A.M., Alvarez, A.M.M.A. & Caetano, A.L. Perfil de Habilidades Fonológicas. São Paulo: Via Lettera. 1998.
Correo Autor: [email protected]
Fecha de Aceptación: 20 de Diciembre del 2016 Fecha de Publicación: 31 de Mayo del 2017
ACEPTACIÓN Y CORRESPONDENCIA

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
BALTAZAR A.
112
ARTÍCULO DE REVISIÓN
PHENYLKETONURIA - THE NUTRITIONAL INTERVENTION IN PORTUGAL
ANA BALTAZAR1
INTRODUCTION
Phenylketonuria, also known as PKU is classified as an inborn error of metabolism or a metabolic disease (1). It was first identified by neonatal screening (2). It is an inherited disease, autosomal recessive, occurring by mutations in the gene that encodes the activity of the enzyme phenylalanine hydroxylase (PAH) (3).
PAH is the enzyme responsible for converting phenylalanine (Phe) tyrosine (TYR) by (6R)-L-erythro-5, 6, 7, 8-tetrahydrobiopterin (BH4) (4). In this pathology, Phe, essential amino acid (aa), that is found in protein foods, is not metabolized in TYR, due to deficiency or inactivity of PAH or diidropteridina redutase
Fenilcetonuria - La nutrición Intervención en Portugal
1 Department of Dietetic and Nutrition, Coimbra Health School, Coimbra, Portugal .
RESUMEN Introducción: Fenilcetonuria, también conocida como PKU está clasificada como un defecto congénito del metabolismo o enfermedad metabólica. Es un trastorno hereditario, autosómico recesivo, que se produce por mutaciones en el gen que codifica la actividad de la enzima fenilalanina hidroxilasa (PAH). Objetivo: recopilar recomendaciones para terapia nutricional de PKU, tomando en consideración las pruebas y el consenso científico publicados. Metodología: La estrategia de búsqueda utilizada para esta revisión sistemática basada en prueba científica se basó en la búsqueda de palabras clave en las siguientes bases de datos electrónicas: Academic Search Complete (EBSCO); RCAAP; Annual Reviews; Biomed Central; Current Contents (ISI); Elsevier - Science Direct; Highwire Press; Wiley; Pubmed; Scopus, Science, LILACS and Springer. La búsqueda en estas bases de datos se llevó a cabo entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015. Resultados: A lo largo del estudio fue posible identificar importantes desafíos nutricionales, en particular: Mantener los niveles de Phe en los límites requeridos para cada individuo; Conseguir los niveles de energía y nutricionales de esos pacientes; Educación nutricional permanente; Prevención del sobrepeso / obesidad; Prevención de retrasos en el crecimiento; Monitorización de los niveles de Phe / TYR en sangre para una adecuación constante de la dieta; la composición de las tablas de alimentos en Portugal no incluyen los valores de proteínas necesarios, faltando la cuantificación por año. Conclusión: Este estudio muestra la importancia del tratamiento de la PKU y su diagnóstico temprano como factores claves para que pacientes con esta enfermedad puedan obtener una calidad de vida similar a la de individuos sanos. La terapia nutricional es muy rígida y debería mantenerse de por vida. Por ello es importante proporcionar a estos individuos y sus familias educación nutricional.
Palabras claves: Fenilcetonuria, terapia nutricional, fenilalanina hidroxilasa.
ABSTRACTIntroduction: Phenylketonuria, also known as PKU is classified as an inborn error of metabolism or a metabolic disease.It is an inherited disease, autosomal recessive, occurring by mutations in the gene that encodes the activity of the enzyme phenylalanine hydroxylase (PAH). Objetive : compile the recommendations for nutritional therapy in PKU, taking into account the evidence and published scientific consensus. Methodology: The search strategy used for this systematic review based as scientific evidence was based on the search for keywords in the following electronic databases: Academic Search Complete (EBSCO); RCAAP; Annual Reviews; Biomed Central; Current Contents (ISI); Elsevier - Science Direct; Highwire Press; Wiley; Pubmed; Scopus, Science, LILACS and Springer. The research in this databases was held up between December 2014 and September 2015. Results: Throughout this state of the art was possible to identify the major nutritional challenges, in particular: Keeping the Phe levels within the limits required for each individual; Achieving the energy and nutritional needs of these patients; Lifelong nutrition education; Preventing overweight / obesity; Prevent delays in growth; Monitoring Phe / TYR blood levels to constant adequacy of the diet; The food composition tables in Portugal do not include the necessary protein values, lack of quantification per year. Conclusion: This state of art shows the importance of PKU treatment and early diagnosis as key factors for patients with this disease, in order to obtain quality of life, similar to healthy individuals. The nutritional therapy is very rigid and should be maintained throughout lifetime. So is very importance to provide to this individuals and their families food education.
Key word: Phenylketonuria, nutritional therapy, phenylalanine hydroxylase.

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 112 - 120.
113
(DHPR) (5). PKU results from the accumulation of Phe in the blood, hyperphenylalaninemia (HFA), on various classifications, according to the degree of inactivity of PAH, and was first described in 1934 by Asbörn Folling (6).
Untreated PKU individuals have severe mental retardation, with episodes of seizures and behavioral disorders (7).
A deficiency in PAH is common in Caucasians with incidence rates in Europe 1/10000 births, existing countries where this is greater, namely Ireland and Turkey (2).
The treatment of PKU goes through nutritional therapy with protein restriction in Phe. However, the diet must be delineated in order to provide the individual with a sufficient amount of this essential aa for their development, growth and state of health are not compromised.
The therapies developed to date, either combined or isolated, undergo nutritional treatment, use of Phe food products, cofactors pharmacological administration, BH4, and genetic mediation. International guidelines for the treatment of PKU still have some gaps, because the results obtained by the various therapies are inconclusive, since its longitudinal follow-up is not yet complete. However, this state of the art has been prepared in order to compile the recommendations for nutritional therapy in PKU, taking into account the evidence and published scientific consensus. The areas of research in the treatment of PKU include the choice of modified food products, integration of adjuvant therapies, treatment during pregnancy, nutritional monitoring and biomarkers, preventing nutritional deficiencies, access to health care and build therapeutic strategies (8).
METHODOLOGY
The search strategy used for this systematic review based as scientific evidence was based on the search for keywords in the following electronic databases: Academic Search Complete (EBSCO); RCAAP; Annual Reviews; Biomed Central; Current Contents (ISI); Elsevier - Science Direct; Highwire Press; Wiley; Pubmed; Scopus, Science, LILACS and Springer.
The research in this databases was held up between December 2014 and September 2015.
The identification and selection of the studies to be included in this review where based in the guidance issues, including participants; the phenomenon of interest to create a connection to define a set of synonyms and related terms for intersection that would lead to the search string (keyword).
In addition, a manual search in the literature from clinical trials was conducted, systematic reviews and meta-analyzes were included to search unidentified items in the database.
PhysiopathologyThe PKU is a metabolic disease, an autosomal recessive genetic linked to chromosome 12q23.1, the gene called PAH11. Currently, they have been identified over 800 mutations in the PAH gene (3).
PAH is a liver enzyme that catalyzes the hydroxylation of Phe in TYR. When this reaction is deficient, TYR assumes, by its absence, that the same character Phe, becoming a critical aa for these individuals (1).
The PKU patients exhibiting deficiency in PAH or in the enzyme DHPR. Therefore, Phe is not metabolised to TYR, leading inevitably to the increased of Phe concentration

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
BALTAZAR A.
114
ARTÍCULO DE REVISIÓN
Table 1. Dietary recommendations of Phe, Tyr and protein for patients with PKU2.
Age Phe (mg/day) TYR (mg/day) Protein (g/kg)
0 to 3 months 130-430 1100-1300 3-3.5
3 to 6 months 135-400 1400-2100 3-3.5
6 to 9 months 145-370 2500-3000 2.5-3
9 to 12 months 135-330 2500-3000 2.5-3
1 to 4 years 200-320 2800-3500 ≥30
Table 2. Energy Recommendations for individuals with PKU (Adapted: Macleod & Ney, 2010).
AgeEnergy
Kcal/kg/dia Kcal/day
0 to 6 months 95-145 ----
7 to 12 months 80-135 ----
1 to 3 years ---- 900-1800
4 to 6 years ---- 1300-2300
7 to 10 years ---- 1650-3300
in the blood. It is necessary the recruitment of secondary pathways that are able to metabolize a small fraction of the accumulated substrate, yielding phenylpyruvic acid, phenyllactic acid, phenylacetic acid, among others, which are excreted in large quantities in urine (7).
The PKU untreated individuals have disturbances in brain development, with neurological symptoms such as microcephaly, epilepsy and mental retardation (9).
The various classifications and types of PKU are discussed by several authors. However in Camp et al., 2014, to standardize the terminology used, was created a qualification to the PKU´s subtype.
The PKU subtypes are: classical PKU the more severe, characterized by blood levels of Phe> 20mg / dL or> 1200μmol / l; moderate PKU Phe blood values between 15-20mg / or 900-1200μmol gl / l; mild PKU Phe concentrations of between 6-15mg / dl or 360-900μmol / l and HFA Phe values between 2-6mg / dl or 120-360μmol / l (10).
DIAGNOSISThe use of neonatal screening allows almost all cases in PAH deficiency were diagnosed and subsequently quantitatively measured for the degree of HFA (2).
The purpose of diagnosing PKU early is to prevent mental deterioration and other manifestations of the pathology. Diagnostic tests for PKU are based on detection of blood levels of Phe and / or its metabolites in urine. Sorting through the urine metabolites is inadequate for early diagnosis, as changes in urine only emerge after the changes identified in the blood (12).
The most widely used neonatal test in Portugal, to qualitatively diagnose PKU, is the blood test Guthrie or
also called the Foot Test (13). It is a simple laboratory test whose card in blood collection is performed in maternities, and later sent to the screening lab.
TREATMENTThe treatment for PKU should be initiated as soon as possible, preferably within the first week of life. The goal of treatment is to keep the Phe blood levels in the normal range for newborns. The measured Phe blood concentration in the first instance will direct the therapy, especially if the values are equal or greater than 360μmol / l2. The treatment for PKU has several guidelines, such as nutritional, pharmacologic and adjuvant.
NUTRITIONAL TREATMENTThe nutritional therapy relays in Phe food restriction. Is the mainstay in the treatment of deficiency in PAH, and it seeks to prevent the clinical consequences of this disorder, but providing an adequate nutritional support for the development of the individual (15).

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 112 - 120.
115
Men Kcal/day
11 to 14 years 2000-3700
15 to 18 years 2100-3900
≥ 19 years 2000-3300
Women Kcal/day
11 to 14 years 1500-3000
15 to 18 years 1200- 3000
≥ 19 years 1400- 2500
The overall goals of nutrition therapy are: to allow growth and cognitive development; maintenance of the individual's health status and allow gestational process without complications (8).
The diet therapy is directed towards limiting the Phe intake quantities that allow normal growth and development (16). This therapeutic reiterates decreased of food intake in natural protein with partial replacement by artificial protein (aa’s mixture) without Phe. Since the Phe is not naturally synthesized by the body and the excessive removal of this aa in the diet can lead to consequences, namely bone disorders, anorexia, anemia, diarrhea, severe eczema, malnutrition, and mental deficiency and seizures, the diet must be individualized and the treatment of PKU is no exception (17).
The amount of Phe present in each diet should vary according to the age, height, weight, growth rate and extent of the individual enzymatic deficiency and requires frequent adjustments, especially early in life.
The total nutrient intake should be known and monitored to ensure that the individual is not below a nutritionally adequate diet (5). The diet for the treatment of PKU should reduce and control all kinds of foods rich in proteins, because all these foods contain Phe. This diet also eliminates sources "special" Phe, sweeteners such as aspartame containing aspartic acid and Phe. As a general rule, individuals with PKU for proper control of the disease must follow a vegetarian diet primarily or similar
type (except grains such as beans), limited to fruits and vegetables, carbohydrate based foods or dietary foods especially designed for this type of pathologies, low protein food (5).
Development and evaluation of Phe’s low dietary prescription Nutritional therapy in PKU should be carried out, monitored and developed by a multidisciplinary team, with health professionals in the field of medicine, psychology, dietetics and geneticists.
Dietary prescription has to be individualized, built taking into account the nutritional requirements of protein and energy, according to the guidelines set out in Tables 1 and 2.
Phe and TYRThe Phe is an essential aa for protein synthesis and should be supplied in sufficient quantities to permit tissue repair, growth during childhood and protein turnover. Therefore, it is very important to maintain blood levels of Phe in accordance with Table 1. The Phe recommendations are identical for healthy individuals and for those suffering from PKU. The isolated Phe needs are difficult to interpret because this aa is also dependent of the TYR. So it is important to measure values are not only for Phe but also for TYR, and Phe / TYR ratio. TYR is an essential aa for PKU, given that the incapacity of Phe hydroxylation.
The supplementation in TYR is an adjunct nutritional therapy, but alone does not correct the phenotype of PKU. Therefore, aa mixtures also have in their constitution TYR. TYR is an insoluble aa, so if the individuals do not agitate the aa formula before consuming, they will not be able to eat it in sufficient amounts. The Phe minimum recommended and the tolerated in the diet should be quantified individually, taking into account

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
BALTAZAR A.
116
ARTÍCULO DE REVISIÓN
the gene mutations for PAH and the ability for the synthesis and replacement of BH4 (14).
Phe dietary prescription for individuals with overweight or obesity should be estimated according to the reference weight for their height and age, because the needs in Phe are proportional to protein synthesis, which is reflected in the percentage of lean mass / muscle (22).
FOOD SCHEME
BreastfeedingThe PKU children can and should be breastfed by their mother, because breast milk contains the least amount of Phe that other sources of milk, powdered milk (14).
In infants with PKU their food should be done together with breast milk and a therapeutic milk product adapted for PKU patients (17).
Children suffering from PKU must be subject to a special food scheme, as follows:
• 1º Remove the child from the breastmilk for two or three days, and fed her with a bottle of milk replacers without Phe, adding maltodextrin, oil or olive oil and / or an hypoproteic milk formula, rich in carbohydrates, lipids, vitamins and minerals.
• 2º. After this period, evaluate the concentration of Phe in the blood and begin the breastfeeding again. The next food scheme should be five bottles / day of the milk replacer with maltodextrins, oil or olive oil or hypoproteic milk formula, and each bottle of milk should be followed by breast milk.
• Following this food scheme the child can be put to mother's breast whenever she wants (18).
Artificial breastfeedingWhen the child is fed with milk powder for infants the food
scheme should be the following:• 1º. The milk powder is replaced by a milk replacer
without Phe (PKU1 / or Lofenalac or Phenyl-Free) to which is added maltodextrins, or olive oil for three days. Then evaluate the value the blood levels.of Phe.
• 2º. Establish the formula of the bottle with the respective proportions of the milk substitutes, milk powder for infants, maltodextrins, or olive oil according Phe values in the blood.
Food diversificationChildren with 4-6 months start another type of food, different for milk.
The diversification of food should start in children with 4-5 months if their are being fed with artificial breastfeeding, and in child fed by breastmilk should star at their 6th month.
In diversified diet begins with a gradual insertion of new foods in children's meals.
First begins with a starch pope or with a hypoproteic pope. Subsequently, should be introduced the soup, only with monitored weight vegetables and the fruit puree.
At 7-8 months the child can begin to eat cooked vegetables or stewed with cassava flour, corn porridge or mashed potatoes. By 8 months of age, can join orange juice to the pope, and so the infant could get ousted to the texture of the food, the soup should be less mashed, and introduce you to a grated carrot teaspoon or cooked carrots or cooked rice or boiled broccoli tips or mass.
At one year of age, the child can now dine with the family, with the necessary restrictions, and start trying to feed themselves alone. Instead of soup, the child must already consume whole vegetables boiled or stewed. As mentioned earlier, all protein-rich foods are prohibited,

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 112 - 120.
117
from either animal or vegetable origin (18). Concept of “Part”With the introduction of new food is also necessary to introduce the concept of "Part" to whom will prepare meals the child’s meal.
"A Part of Phe corresponds to the weight of food in the grass that provides 20mg of Phe".
The creation of an equivalent table or "Parts" will help to make the concept of "part" easy to use.
The "Part System" (equivalent table) is used primarily with the establishment of the first soup. Thus, within the number of “Parts” advised and established by Nutritionist / Dietitian, for soup should use the food present in the equivalent table list respecting the corresponding weights to each of them. Proceeding to the same method for fruit and other allowed food.
It is desirable that foods containing Phe, as the protein substitutes, are ingested several times a day in order to minimize Phe fluctuations in plasma and ensuring optimal use of the remaining aa key.
The Portuguese Medical Genetics Institute (IGM) and other brands such as Loprofin, Milupa, Apofen, among others, offers the purchase of a range of products (flour, pasta, bread, etc.) with low Phe content and that children can use quite freely.
The IGM also create cookbooks, "Eat well ... no harm" Volume 1 and 2, as an auxiliary material for mothers in the use of dietary products3.
Duration and monitoring of dietary treatment
The duration of dietary treatment must be continued for
life in order to maintain Phe blood levels within appropriate limits (15).
Previously, people with PKU interrupted the diet therapy even when they were children, leading to increased Phe blood levels. These patients began to show concentration and memory problems (19). When these same individuals returned to the nutritional therapy, then they felt better and with less difficulty. So it's never too late to return to the diet, but the best option is never to leave her.
Nutritional treatment compliance
The purpose of the nutritional therapy is not only the patient fulfilment it, but also maintain it throughout the life cycle, because when abandoned is very difficult to re-enter.
Dietary compliance in PKU and their metabolic control is easily achieved in early childhood, in turn, at school age becomes increasingly difficult as the children begin to make their own food choices and develop their preferences and tastes. The dietary changes at this age, are associated with decreased aa mixtures consumption without Phe, although the enormous effort by the food industry to improve the organoleptic characteristics and design of packaging for these products.
Most children and adolescents refuses to consume aa formulas at school, leading to 8 hours/day without them. In the absence of consumption protein sources for 8 hours, the feeling of hunger settles, which also leads to deviant behavior, consume of products rich in Phe.
In adulthood, the diet that was abandoned during adolescence tends to be reintroduced in this age group. However, as previously mentioned, after the abandonment of dietary therapy is very difficult the recovery of restrictive eating behaviours. The absence of symptoms leads to motivational issues to maintain the food restriction.

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
BALTAZAR A.
118
ARTÍCULO DE REVISIÓN
It’s important to create and design strategies to improve compliance or adherence to the nutritional therapeutic process. Such as:
• Health education sessions;• Promote the creation of help groups where PKU
patients can communicated with other PKU patients; • Raise the investigation, evolution and adjustment
of dietary prescription in accordance with the habits, tastes and preferences of the individual;
• Promote family involvement;• Increase accessibility to health care and multidisciplinary
team to the PKU patients (23).
NUTRITIONAL ADJUVANT TREATMENTS
Glycomacropeptide (GMP)GMP is an intact whey protein, low in Phe, Tyr, histidine, leucine, tryptophan, and arginine, this protein represents a new option in detriment of the aa formulas. This protein has 64 aa’s, whose chemical structure is specific due to the absence aa aromatic (Phe, Tryptophan, TYR) and high concentrations of isoleucine and threonine (3). Several studies suggest that the use of GMP as a protein source allows a better use of the same, with decrease in concentration of ghrelin, which allows a greater satiety upon consumption of GMP products (8). However, being a product without aa aromatics can take any need for supplementation thereof (24).
Large Neutral AA (LNAA’s)LNAA’s have been proposed as a therapeutic adjuvant in PKU, based on its ability to block the use of the Phe in the intestine and the blood-brain barrier (2). The use of LNAA's is not recommended for children or pregnant women, but may be considered for adults with PKU that do not have good metabolic control and who fail to adhere to other treatment options. When using this adjuvant therapy, 25-
30% of protein needs are deleted with the LNAA's, the remaining 70-75% being acquired through dietary protein sources (8).
The protein intake and aa plasma should be monitored to prevent any deficiency framework of essential aa. However, the monitoring is difficult to treat with LNAA's, since Phe blood levels remained high and the quantitative evaluation of Phe in the brain is impractical. The melatonin in the blood and urine acts as biomarker for serotonin and can be useful in monitoring the treatment LNAA's, as PAH-deficient individuals have deficient amounts of serotonin (8).
PHARMACOTHERAPY
SapropterinThe sapropterin (sapropterin dihydrochloride) is a pharmaceutical form of BH4, the cofactor required for the activity of PAH. This compound given in therapeutic doses seems to stimulate the activity of this PAH enzyme.
The advantages of this drug therapy fall into two types of patients, including: individuals who do not adhere or are unable to maintain dietary restrictions in protein and / or do not consume products with aa mixtures, wherein the sapropterin can decrease the concentration of Phe blood values without major dietary changes; and individuals who can control blood levels of Phe through diet therapy and wherein the sapropterin permits nutritional liberalization, either by reducing the consumption of aa mixtures, for enabling increased consumption of natural protein (8).
In Portugal, through the legislation order I n January of 2014, sapropterin, trade name KUVAN®, is provide without costs for patients with HFA / PKU. This treatment must be prescribed by Reference Hospitals for Hereditary Diseases Metabolism.

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 112 - 120.
119
CONCLUSION
This state of art shows the importance of PKU treatment and early diagnosis as key factors for patients with this disease, in order to obtain quality of life, similar to healthy individuals.
Mental retardation stands out of all PKU manifestations, giving a prominent place to the early diagnosis of the disease, which must be made in the first days of life, in order to avoid possible damage.
PKU is a genetic disease due to an enzyme deficiency which has as a dietary, pharmacologic and adjuvant treatments. The nutritional therapy is characterized by reduction of any foods rich in protein. This patients use hypoproteic foods, together with some controlled essential proteins for a normal life cycle. The nutritional therapy is very rigid and should be maintained throughout lifetime. So is very importance to provide to this individuals and their families food education. The manifestations of PKU may be preventable through awareness of the importance of both early diagnosis and dietary treatment. Throughout this state of the art was possible to identify the major nutritional challenges, in particular:
• Keeping the Phe levels within the limits required for each individual;
• Achieving the energy and nutritional needs of these patients1;
• Lifelong nutrition education (20, 25);• Preventing overweight / obesity (2);• Prevent delays in growth (21).• Monitoring Phe / TYR blood levels to constant
adequacy of the diet (22).• The food composition tables in Portugal do not include
the necessary protein values, lack of quantification per year (6).
REFERENCES
1. Thiele et al. Nutritional Changes and micronutrient supply in patients with phenylketonuria under therapy with tetrahydrobiopterin (BH4). 2012. JIMD Reports.
2. Vockley et al. Phenylalanine hydroxylase deficiency: diagnostis and management guideline. Genetics in Medicine2013. pp. 1-13
3. Ney, Blanck & Hansen.() Advances in the nutritional and pharmacological management of phenylketonuria. Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care 2014. 17(1): pp. 61-68.
4. Aldámiz-Echevarría et al. Anthropometric characteristics and nutrition in a cohort of PAH-deficient patients. Clinical Nutrition 2014 33; pp. 702-717.
5. Mahan, L. Kathleen; Escott-Stump, Sylvia; Raymond, Janice L. “Krausse – Alimentos, Nutrição & Dietoterapia”, 13ª edição, Elsevier Editora; São Paulo, Brasil, 2011.
6. Pimentel et al. Phenylketonuria: Protein content and amino acids profile of dishes for phenylketonuria patients. The relevance of phenylalanine. Food Chemistry 2014. 149; pp. 144-150.
7. Van Cacar & Ney. Food products made with glycomacropeptide, a low-phenylalanine whey protein, provide a new alternative to amino Acid-based medical foods for nutrition management of phenylketonuria. J Acad Nutr Diet. 2012; 112 (8): pp. 1201-10.
8. Singh et al. Recommendations for the nutrition management of phenylalanine hydroxylase deficiency. Genetics in Medicine. 2013; 16 (2) pp. 121-131.
9. Soltanizadeh & Mirmoghtadaie. Strategies used in production of phenylalanine free foods for PKU management. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. Vol 13. 2014
10. Camp et al. Phenylketonuria Scientific Review Conference: State of the science and future research

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
BALTAZAR A.
120
ARTÍCULO DE REVISIÓN
needs. Molecular Genetics and Metabolism 2014; 112. pp. 87-122.
11. Williams, Mamotte & Burnett. Phenylketonuria: An Inborn Error of Phenylalanine Metabolism. Clin Biochem Rev. 2008; 29 (1): pp. 31–41.
12. Haack, A. Fenilcetonúria: diagnóstico e tratamento, 2013; 23(4), pp. 263–270.
13. Comissão Nacional para o Diagnóstico Precoce; Porto, 2015.
14. MacLeod, E. & Ney, D. Nutritional Management of phenylketonuria. Ann Nestlé; 2010; pp. 68:58-69.
15. Giovannini, et al. Phenylketonuria: nutritional advances and challenges. Nutrition & Metabolism, 2012; 9(1), 7. doi:10.1186/1743-7075-9-7.
16. Brosco, J. P., & Paul, D. B. The political history of PKU: reflections on 50 years of newborn screening. Pediatrics, 2013; pp. 132. 987–9.
17. Sociedade Portuguesa de Pediatria. Consensos e recomendações; Consenso para o tratamento nutricional de fenilcetonúria Sociedade Portuguesa de Doenças Metabólicas. 2007. Acta Pediátrica Portuguesa.
18. Van Rijn M, et al. A different approach to breast-feeding of the infant with phenylketonuria. Eur J Pediatr 2003; 162: pp. 323-326.
19. Almeida, M. “Tratamento Dietético da fenilcetonúria”. Nutrícias; 2003; 30-1.
20. Merrick, Aspler and Schwarz. Phenylalanine-restricted diet should be lifelong. A case report on long-term follow-up of an adolescent with untreated phenylketonuria. Int. J. Adolesc. Med. Health 2003; 15: pp. 165-168.
21. Verduci et al. Nutrition and inborn errors of metabolism: challenges in Phenylketonuria. Italian Journal of Pedriatrics 2014, 40 (suppl 1): A41.
22. Robertson et al. Body mass index in adult patients with diet-treated phenylketonuria. Journal of Human Nutrition and Dietetics. 2013; 26 (Suppl.1), pp. 1-6.
23. Stockler-Ipsiroglu et al. Individualized long-term outcomes in blood phenylalanine concentrations and dietary phenylalanine tolerance in 11 patients with primary phenylalanine hydroxylase (PAH) deficiency treated with sapropterin-dihydrochloride. Molecular Genetics and Metabolismo. Elsevier. 2015; 114. pp. 409-414.
Correo Autor: [email protected]
Fecha de Aceptación: 20 de Diciembre del 2016 Fecha de Publicación: 31 de Mayo del 2017
ACEPTACIÓN Y CORRESPONDENCIA

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 121 - 127.
121
ESTUDO DAS ALTERAÇÕES DO HIPOCAMPO NA DOENÇA DE ALZHEIMER POR ESPECTROSCOPIA DE PRÓTONS
ANDERSON DE QUEIROZ¹, MARCUS LINHARES1.
INTRODUÇÃO
A demência se caracteriza pela diminuição das funções intelectuais, seguida da dependência social. Ocorre a diminuição da memória e disfunção de pelo menos uma função cortical como: linguagem, capacidade de cálculos, orientação no espaço, entre outros, sendo a Doença de Alzheimer (DA) a responsável por mais de 50 % dos casos de demência (¹).
O grande fator de risco para o desenvolvimento da DA é a idade avançada (²), e segundo os dados, de 2012, da Organização Mundial da Saúde (OMS) a população que
possui 60 anos, tem uma expectativa de viver mais 20 anos, consequentemente aumenta-se a probabilidade do desenvolvimento da DA.
O caminho para o melhor tratamento desta doença é o diagnóstico precoce e a utilização da terapia adequada, para que ocorra o estadiamento, fornecendo ao idoso uma melhor qualidade de vida (³).
O diagnóstico clínico da DA ainda é presuntivo, apenas o exame histopatológico pode oferecer um diagnóstico
Study of hypocampus disorders in alzheimer's disease by spectroscopy of protons
1 Instituto Federal da Bahia, Departamento De Tecnologia em Saúde e Biologia, Salvador, Bahia, Brasil.
RESUMEN Actualmente el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se basa en un examen clínico y puede tener las técnicas de neuroimagen como un aliado, pero éstas sólo muestran la enfermedad en sus etapas posteriores, cuando hay una pérdida de la arquitectura del cerebro. La espectroscopia de protones ha demostrado ser un aliado importante para el estudio de la enfermedad, por lo tanto, proporciona la cuantificación de los metabolitos, de forma no invasiva. Este estudio tiene como objetivo llevar a cabo una revisión de la literatura de la aplicación de la espectroscopia de protones en el estudio de la enfermedad de Alzheimer, en el hipocampo. Con esta se observó que la aplicación de la espectroscopia en la región de hipocampo es complejo debido a las estructuras que no rodea y que ofrecen un campo no homogéneo. Es necesario el uso de campos magnéticos de más de o igual a 3 Tesla, que proporciona un campo más homogéneo. Otro punto relevante es que la relación (NAA / ml) N-acetil aspartato / Myo-inositol és la más aceptada en los estudios analizados. Por lo tanto, se considera espectroscopia de protones un gran aliado en el análisis hipocampo para el estudio de la enfermedad de Alzheimer, puede evaluarse por relación entre la diminuición de los niveles de NAA y aumentó mI.
Palabras claves: Espectroscopía por resonancia magnética, enfermedad de Alzheimer, el hipocampo, la demencia.
ABSTRACTCurrently the diagnosis of Alzheimer's disease is based on a clinical examination and may have neuroimaging techniques as an ally, however these only show the disease in later phase when there is a loss of brain architecture. Proton spectroscopy has been shown to be an important ally for the study of that disease. Therefore, it provides quantification of the metabolites in a non-invasive way. The aim of this study was to undertake a literature review of the application of proton spectroscopy in Alzheimer's disease of the hippocampus. It was observed that the application of spectroscopy in the hippocampus region is complex due to the structures surround it and non homogeneous magnetic field. It is necessary to use magnetic fields more than or equal to 3 Tesla, which provides homogenous field. Another point is regarding to the ratio (NAA / ml) N-acetyl aspartate / Myo-inositol that is the most accepted in the analyzed studies. Therefore, proton spectroscopy is considered a great ally in the hippocampus analysis for study of Alzheimer's disease, it can be assessed by relation between the decrease in NAA levels and increased mI.
Key words: Magnetic resonance imaging (MRI), alzheimer's disease, hippocampus, dementia.

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
DE QUEIROZ A. ET AL.
122
ARTÍCULO DE REVISIÓN
preciso (4). Exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada oferecem informações sobre a arquitetura cerebral, mas não conseguem realizar um diagnóstico nas fases iniciais da doença (5).
Na atualidade uma nova técnica tem sido empregada, a Espectroscopia por prótons (H-ERM),que representa um grande avanço, pois realiza a quantificação dos metabólitos da estrutura de forma não invasiva, oferecendo informações de grande valia no auxilio ao diagnóstico da DA (6).
As primeiras estruturas atingidas pelo DA fazem parte do sistema límbico, sendo que é o hipocampo é a primeira estrutura a ser atingida, e desta forma se justifica o aparecimento da perda de memória recente como um dos primeiros sinais da DA. Sendo de grande importância o estudo desta estrutura para que se possa chegar a um diagnóstico nas fases iniciais da Alzheimer (7). Portanto, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma revisão bibliográfica acerca da contribuição da Espectroscopia de Prótons no estudo da Doença de Alzheimer, na região do hipocampo.
METODOLOGIA
Para a realização desta pesquisa, em formato de revisão de literatura, foram utilizados materiais publicados no indexador nacional, BIREME. As palavras-chave utilizadas foram: Alzheimer Disease; Magnetic Resonance Spectroscopy; Hippocampus selecionadas com base no DeCS(Descritores em Ciências da Saúde). A região do hipocampo foi escolhida para ser explorada, visto à dificuldade em sua localização, devido a irregularidade da sua forma, e por ser uma das primeiras estruturas atingidas pela Doença de Alzheimer.
Os critérios de inclusão dos artigos pesquisados foram: (1)
publicações a partir de 2005; (2) idioma inglês e português; (3) que abordassem os aspectos de diagnóstico e o prognóstico; (4) estudos em humanos; e (5) estudos com o uso da Espectroscopia de Prótons e Doença de Alzheimer como assunto principal.
Os critérios de exclusão foram: (1) publicações anteriores a 2005; (2) idiomas que não fossem o inglês e o português; (3)estudos em animais; (4) comparação entre a Doença de Alzheimer e outra patologia; (5) estudos in vitro; (6) estudos realizados com Espectroscopia de Fósforo; e (6)estudos em que a Doença de Alzheimer e a Espectroscopia de Prótons não fossem o assunto principal.
Adotou-se, também, como fonte de pesquisa, livros que tratassem dos assuntos: Espectroscopia de Prótons,Doença de Alzheimer e Sistema Límbico, sendo estes utilizados como base para informações complementares as que não foram encontradas nos artigos.
RESULTADOS
Os metabólitos utilizados para estudo da DA são: N-acetilaspartato(NAA) – marcador de integridade neuronal,Mio-inositol (mI)- marcador de célula glial, Creatina (Cr) – metabolismo energético celular e Colina (Cho)- marcador de síntese da membrana cerebral (8, 9).
Para o estudo da DA nos estágios iniciais duas estruturas são grandes promissoras para cumprir esse papel, a região do hipocampo e do cíngulo posterior, pois estas são acometidas precocemente (8).
A localização do VOI na região do cíngulo posterior é de fácil e rápida localização, porém é acometido de maneira mais tardia em comparação com o hipocampo (4). Já a localização do VOI no hipocampo representa um desafio, pois este local é o primeiro a ser acometida e apresenta

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 121 - 127.
123
atrofia, dificultando a localização do VOI, sendo o hipocampo esquerdo mais importante, pois este se refere a situações episódicas (10, 11). Sendo necessário restringir o máximo possível o VOI a área do hipocampo, para que não ocorra interferência de tecido extra hipocampal, e desta forma se preserve a sensibilidade da técnica nesta região (3).
A diminuição do NAA e aumento do mI foram observados como resultado nos estudos de Wang et al., 2013 (6); Shiino et al., 2012 (12); Kantarci et al., 2008 (13) e Lee, 2005 (4). Porém Kantarci et al., 2008 (13) diz que a redução de NAA não pode ser um fator de diferenciação entre um indivíduo com CCL e DA, o que representa um dificuldade em estabelecer a progressão da DA, mas Wang et al., 2012 (8) observou que a diminuição do NAA é anterior a perda da arquitetura do hipocampo em pacientes com CCL.
Já os estudos de Rupsing et al., 2011 (14); Ackl et al., 2005 (15); Watanabe; Shiino; Akiguchi, 2012 (11); Glodzik et al., 2008 (16); Foy et al., 2011 (10) e Bittner; Heize; Kaufmann, 2013 (17) relatam a diminuição do NAA como o achado mais importante, que oferece uma melhor análise. Justificado por Ackl et al.,2005 (15) em seu estudo relatando que os pacientes com hipertensão e diabetes já possuem uma alteração inerente no metabólito mI e desta forma não pode servir como indicador para estes e além disto o estudo realizado por Glodzik et al., 2008 (16) verificou que ocorreu a diminuição do mI no hipocampo direito e aumento do mI no hipocampo esquerdo.
Já no estudo proposto por Lee, 2005 (4), excluindo os pacientes com diabetes e se observou que o mI tinha uma maior diferença de picos dos metabólitos dos pacientes com DA e dos pacientes cognitivamente normais, em relação ao NAA. O que seria um fator a ser levado em consideração para a análise do metabólito mI.
A Colina (Cho) é levantada como um terceiro metabólito para o estudo da DA, porém os seus achados são controversos, enquanto Shiino et al., 2012 (12) observou uma redução dos valores no hipocampo esquerdo, Bartha et al.,2008 (18) ainda relata diminuição do NAA e da Cho em ambos lados. Kantarci et al., 2008 (13) afirma que existe o aumento do valor deste metabólito no hipocampo.
O achado mais comum nas pesquisas foi o aumento do mI e diminuição do NAA, apenas um estudo de Menezes; Valença;Valença,2012 (19) não verificou qualquer mudança nos espectros de em relação a identificação da DA.
HIPOCAMPO
No estudo realizado por Mondrego; Fayed; Pina, 2005 (3) realizou-se o acompanhamento de pacientes com CCL por 3 anos e trouxe como resultado que o hipocampo não oferece um diagnóstico de confiança quando se refere a identificar o individuo em fase inicial ou em desenvolvimento da DA, o que poderia ser justificado pela análise da área hipocampal que poderia envolver outros volumes, porém Wang et al., 2009 (2) relata que o hipocampo foi a primeira estrutura a mostrar as alterações metabólicas de NAA e mI, concordando com a evolução do acúmulo das placas amilóides, diferentemente do estudo anterior,este estudo foi realizado com um aparelho de 3 Tesla, que representa o dobro da sua intensidade de campo magnético.
No que diz respeito à localização do VOI em relação aos lados, o hipocampo direito representa o melhor local para o estudo, pois este se apresenta com maior afinidade em relação a memória recente (17, 11). Sendo que o tamanho do VOI deve ser variável de acordo com o tamanho do hipocampo a ser estudado (4).SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
DE QUEIROZ A. ET AL.
124
ARTÍCULO DE REVISIÓN
Wang et al., 2012 (8) relata a especificidade e sensibilidade, menor do que 75%, da espectroscopia de prótons para o estudo da Alzheimer, já Westman et al., 2010; 2011 (20,
21) verificou que esse valor é superior a 75%, com 76% de sensibilidade e 83% de especificidade, elevando a importância do hipocampo e da espectroscopia de prótons.
ESTUDOS COMBINADOS COM A IMAGEM DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
A Espectroscopia de prótons é uma vertente da Ressonância Magnética que utiliza o princípio de medir a concentração de metabólitos de uma determinada estrutura, utilizando o princípio do desvio químico para identificar os diferentes metabólitos (6).
O desvio químico está relacionado aos elétrons que rodeiam cada núcleo, os quais geram seus sinais magnéticos próprios, o que altera o campo magnético externo, desta forma a frequência de Lamor é modificada para cada núcleo (22).
A espectroscopia utiliza volume de interesse (VOI) para a geração de espectros, podendo ser único, que utiliza a interseção de três cortes para sua localização, ou multivoxel, que requerem mais tempo e utiliza múltiplas zonas de aquisição (23).
A técnica STEAM (Stimulated Echo Aquisition Mode) para a geração do espectro é baseada em ecos estimulados, onde tempo de realização é curto e a supressão da água é mais é efetiva (4).
A espectroscopia de prótons é a mais utilizada, pois, o hidrogênio possui sinal forte, devido a sua alta presença em seres vivos. Outros núcleos também podem ser utilizados, como a Espectroscopia de Fosfóro, mas seu uso quase
não ocorre, pois exige grandes volumes para análise, pois a concentração do elemento é pouca e apresenta baixa razão sinal-ruído (22, 24).
Quando a espectroscopia de prótons foi combinada à análise volumétrica da imagem de ressonância magnética foi possível observar a especificidade e sensibilidade da técnica foi aumentada, chegando a quase 100%, 97% de sensibilidade e 94% de especificidade (20, 21).
A combinação técnica multimodal revela-se como um importante para fornecer de dados complementares e desta forma tem se revelado com grande potencial para a identificação da DA em suas fases iniciais (13, 25).
ESTUDOS COM ALTO CAMPO MAGNÉTICO
Em estudo realizado com aparelho com campo magnético de 3 Tesla foi possível constatar que foi possível obter o aumento da razão sinal-ruido e do sinal espectral, devido a melhor homogeneidade do campo, pois o hipocampo é uma estrutura muito pequena e o VOI pode abranger áreas adjacentes, assim a influência dessas outras estruturas é reduzida com um campo magnético mais uniforme ao longo da área a ser analisada (2).
Quando a análise hipocampal foi analisada com um campo magnético de 4 Tesla, foi possível realizar a melhor localização do VOI, o que reduziu ainda mais a influência das estruturas ao redor. Um achado importante foi encontrado neste estudo foi quantificação do Glutamato (Glu), que ofereceu o parâmetro de sua diminuição para diferenciar o individuo com a Doença de Alzheimer do cognitivamente normal (14).
Dois estudos foram verificados em aparelhos de alto campo magnético e estudaram a relação do Glu após o emprego de terapia, com uso de drogas, mostrando dados contrários.

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 121 - 127.
125
Penner et al., 2009 (26), realizou a quantificação em um aparelho de 4 Tesla e realizou testes cognitivos, tendo observado o aumento do Glu e das funções cognitivas, relacionando o metabólito com a neurotransmissão e com a função cognitiva. Já Glodzik et al., 2008 (16), constatou com a diminuição do Glu em um aparelho de 3 T, atribuindo esse dado a propriedade anti toxica da droga, porém relata a dificuldade em um VOI sem contaminação de áreas adjacentes, o que poderia ter influenciado nos seus resultados. No entanto, ambos estudos foram realizados com pequenas amostras, necessitando de um estudo em maior escala.
PROTOCOLO
Para que a representação do Espectro seja o mais fidedigno ao tecido cerebral analisado é necessário que se realize a monitoração da homogeneização do campo, principalmente em VOIs localizados no lobo temporal, que conduz a um campo não homogêneo, devido a as diferentes estruturas que cercam a da área (2).
Quanto a escolha do tempo de eco(TE), deve ser curto, pois só com esta configuração é possível a detecção do mI e do NAA, metabólitos mais avaliados na DA, o que não seria possível com um TE longo que só poderia detectar o NAA (4).
A supressão da água também é indispensável, pois o seu sinal é 10000 vezes mais forte do que os outros metabólitos, o que acarretaria em um espectro com sinal predominante da água e com pouca definição dos metabólitos (22, 4).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A espectroscopia de Prótons se demonstra como uma importante forma de estudo através dos metabólitos, no
estudo da Alzheimer. Sendo a relação diminuição NAA e aumento do mI, a mais aceita para se estabelecer um paciente portador da Alzheimer, porém a diminuição do mI deve ser ponderada em paciente com diabetes, neste caso a NAA se mostra mais eficaz.
Um outro ponto a ser levado em consideração para a análise do hipocampo é a potência do campo magnético, que deve preferencialmente ser maior ou igual a 3 Tesla, já que estes oferecem maior homogeneidade do campo magnético, em uma região muito heterogênea e que se apresenta com atrofia ao longo do desenvolvimento da DA, e desta forma um espectro mais fidedigno a estrutura.
REFERÊNCIAS
1. MCPHEE, S. J.; GANONG, W. F. FISIOPATOLOGIA DA DOENÇA: Uma Introdução á Medicina Clínica. 5ª edição. AMGH. 2007.
2. WANG, Z. et al. Regional Metabolic Changes in the Hippocampus and Posterior Cingulate Area Detected with 3-Tesla Magnetic Resonance Spectroscopy in Patients with Mild Cognitive Impairment and Alzheimer Disease. Informa Healthcare. p. 312-319.2009.
3. MONDREGO, P. J.; FAYED,N.; PINA, M. A. Conversion From Mild Cognitive Impairment Predicted by Brain Magnetic Resonance Spectroscopy to Probable Alzheimer’s Disease.The American Journal of Psychiatry.v.162, n. 4, p. 667 – 675. 2005.
4. LEE, H. W. Avaliação da doença de Alzheimer através da espectroscopia de prótons por ressonância magnética: comparação entre os achados no cíngulo posterior e nos hipocampos. 2005. 178 f. Tese(doutorado)-Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo -Departamento de Radiologia. 2005.
5. MARTINI, F.H.; TIMMONS, M. J.; TALLITSCH, R. B. Anatomia Humana. 6ª edição. Artmed. 2009.
6. WANG, D. et al. Application of Multimodal MR Imaging

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
DE QUEIROZ A. ET AL.
126
ARTÍCULO DE REVISIÓN
on Studying Alzheimer's Disease: A Survey. Bentham Science Publishers.v.10, n. 8, p. 1-16. 2013.
7. CAIXETA, L. et al. Doença de Alzheimer. Porto Alegre: Artmed, 2012.
8. WANG, T. et al. Using proton magnetic resonance spectroscopy to identify mild cognitive impairment.International Psychogeriatric Association. v. 24, n. 1, p. 19-27. 2012.
9. CHAVES, M. L. F. et al. Rotinas em neurologia e neurocirurgia. Porto Alegre: Artmed,2008.
10. FOY, C.M. L. et al. Hippocampal Proton MR Spectroscopy in Early Alzheimer’s Disease and Mild Cognitive Impairment. Brain Topogr, v. 24, p.316–322. 2011.
11. WATANABE, T.; SHIINO, A.; AKIGUCHI, I. Hippocampal metabolites and memory performances in patients with amnestic mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease.Neurobiology of Learning and Memory. v. 97, n.3, p. 289-293.2012.
12. SHIINO, A.et al. The profile of hippocampal metabolites differs between Alzheimer’s disease and subcortical ischemic vascular dementia, as measured by proton magnetic resonance spectroscopy. Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism.v. 32, p.805-815. 2012.
13. KANTARCI, K. et al. Hippocampal Volumes, Proton Magnetic Resonance Spectroscopy Metabolites, and Cerebrovascular Disease in Mild Cognitive Impairment Subtypes.American Medical Association. v. 65, n.12, p.1621-1628. 2008
14. RUPSINGH, R. et al. Reduced hippocampal glutamate in Alzheimer disease.Neurobiology of Aging, v.32, n.5, p. 802-810. 2011.
15. ACKL, N. et al. Hippocampal metabolic abnormalities in mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease.Neuroscience Letters, v. 384, p. 23-28. 2005.
16. GLODZIK, L. et al. Memantine decreases hippocampal glutamate levels: A magnetic
resonance spectroscopy study. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry. v. 32, p. 1005-1012. 2008.
17. BITTNER, D. M.; HEINZE, H. J; KAUFMANN, J.Association of 1H-MR Spectroscopy and Cerebrospinal Fluid Biomarkers in Alzheimer’s Disease: Diverging Behavior at Three Different Brain Regions. Journal of Alzheimer’s Disease. p. 1-9. 2013.
18. BARTHA, R. et al. High field H MRS of the hippocampus after donepezil treatment in Alzheimer disease. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry.v. 32, n. 3, p. 786-793. 2008.
19. MENEZES, T. L. et al. Magnetic resonance imaging study cannot individually distinguish individuals with mild cognitive impairment, mild Alzheimer’s disease, and normal aging. Arquivo de neuropsiquiatria. v. 71, n. 4, p. 207-212. 2012.
20. WESTMAN, E. et al. Combining MRI and MRS to Distinguish Between Alzheimer’s Disease and Healthy Controls.JournalofAlzheimer’sDisease. v.22, p.171-181. 2010.
21. WESTMAN, E. et al. Magnetic Resonance Imaging and Magnetic Resonance Spectroscopy for Detection of Early Alzheimer’s Disease. JournalofAlzheimer’sDisease, v.26, p. 307-319. 2011.
22. BUSHONG, S.C. 3°edição.Magnetic Resonance Imaging.Physical and Biological Pinciples.USA.2003.
23. WESTBROOK C.; ROTH C. K.; TALBOT J. Ressonância Magnética: Aplicações Práticas. 4º edição. Guanabara Koogan.2013.
24. YOUSEM, D. M.; GROSSMAN, R. I. Requisitos em Neurorradiologia. 3° edição, ELSELVIER.2011
25. CHAO, L.L. et al. Reduced medial temporal lobe N-acetylaspartate in cognitively impaired but nondemented patients. National Institutes of Health. V. 64, n. 2, p. 282- 289. 2005.
26. PENNER, J. et al. Increased glutamate in the hippocampus after galantamine treatment for Alzheimer disease.Progress in Neuro-Psychopharmacology &

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 121 - 127.
127
Biological Psychiatry. v. 34, p. 104-110. 2009.
Correo Autor: [email protected]
Fecha de Aceptación: 25 de Abril del 2017 Fecha de Publicación: 31 de Mayo del 2017
ACEPTACIÓN Y CORRESPONDENCIA

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
TAVARES N. ET AL.
128
ARTÍCULO DE REVISIÓN
QUAL A EFETIVIDADE DO EXERCÍCIO NA CESSAÇÃO TABÁGICA DE FORMA A PREVENIR AS COMPLICAÇÕES
CLÍNICAS RESULTANTES DO TABAGISMO?NUNO TAVARES1, CARLA SILVA1, JOÃO ALMEIDA2
INTRODUÇÃO
A promoção da saúde é um processo que visa capacitar as pessoas para controlar e melhorar a sua saúde. Não se foca unicamente num comportamento individual mas num largo espectro de intervenções sociais e ambientais. De uma forma geral, tenta evitar seis categorias comportamentais
que aumentam significativamente a mortalidade e morbilidade mundial: consumo de tabaco, comportamentos agressivos e violentos, consumo de álcool e drogas, más práticas alimentares e de higiene, comportamento sexual inapropriado e estilo de vida sedentário devido à inatividade
What is the effectiveness of the smoking cessation exercise in order to prevent the clinical complications resulting from smoking?
1 Instituto Politécnico de Coimbra, ESTESC-Coimbra Health School, Audiologia, Portugal.2 Instituto Politécnico de Coimbra, ESTESC – Coimbra Health School, Saúde Ambiental, Portugal.
RESUMO Introdução: O tabagismo é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de complicações clínicas como doenças cardiovasculares, cancro ou hipertensão. Atualmente os métodos mais comuns para deixar de fumar são o aconselhamento comportamental e a terapia farmacológica, no entanto a sua taxa de sucesso continua a ser bastante reduzida. Objetivo: Analisar qual a efetividade do exercício na cessação tabágica e descobrir qual o tipo de exercício e suas características que levam a melhores resultados. Metodologia: As bases de dados Pubmed, Cochrane Library, PEDro e ScienceDirect foram consultadas durante os meses de março e abril de 2015. Critérios de elegibilidade: A pesquisa foi limitada a guidelines, meta-análises, revisões sistemáticas e estudos controlados e randomizados, redigidos em inglês e publicados em revistas científicas nos últimos 5 anos. Para ser validado o artigo deveria ter como população pessoas com hábitos tabágicos que realizassem um programa de exercício como intervenção, comparativamente à sua não aplicação. O resultado procurado foi a percentagem de indivíduos que deixou de fumar a longo prazo. Resultados: Consideraram-se válidos para análise, oito estudos controlados e randomizados que testaram a eficácia de programas de exercício aeróbio, resistência muscular e yoga. Limitações: a falta de informações sobre as características de determinados programas quanto à existência de poucos Estudos que avaliavam a efetividade de alguns tipos de exercicio. Conclusões: A realização de exercício tende a reduzir a percentagem de cessação tabágica a longo prazo. Recomenda-se a aplicação de um programa de exercício aeróbio de intensidade moderada, 100 a 150 minutos por semana ao longo de 12 semanas de abstinência tabágica.
Palavras chaves: Exercício, cessação tabágica, tabagismo, prevenção primária.
ABSTRACTIntrodução: O tabagismo é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de complicações clínicas como doenças cardiovasculares, cancro ou hipertensão. Atualmente os métodos mais comuns para deixar de fumar são o aconselhamento comportamental e a terapia farmacológica, no entanto a sua taxa de sucesso continua a ser bastante reduzida. Objetivo: Analisar qual a efetividade do exercício na cessação tabágica e descobrir qual o tipo de exercício e suas características que levam a melhores resultados. Metodologia: As bases de dados Pubmed, Cochrane Library, PEDro e ScienceDirect foram consultadas durante os meses de março e abril de 2015. Critérios de elegibilidade: A pesquisa foi limitada a guidelines, meta-análises, revisões sistemáticas e estudos controlados e randomizados, redigidos em inglês e publicados em revistas científicas nos últimos 5 anos. Para ser validado o artigo deveria ter como população pessoas com hábitos tabágicos que realizassem um programa de exercício como intervenção, comparativamente à sua não aplicação. O resultado procurado foi a percentagem de indivíduos que deixou de fumar a longo prazo. Resultados: Consideraram-se válidos para análise, oito estudos controlados e randomizados que testaram a eficácia de programas de exercício aeróbio, resistência muscular e yoga. Limitações: a falta de informações sobre as características de determinados programas quanto à existência de poucos Estudos que avaliavam a efetividade de alguns tipos de exercicio. Conclusões: A realização de exercício tende a reduzir a percentagem de cessação tabágica a longo prazo. Recomenda-se a aplicação de um programa de exercício aeróbio de intensidade moderada, 100 a 150 minutos por semana ao longo de 12 semanas de abstinência tabágica.
Palavras: Exercício, cessação tabágica, tabagismo, prevenção primária.

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 128 - 140.
129
física (World Health Organization, 2015).
O consumo de tabaco ou tabagismo é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de complicações clínicas como doenças cardiovasculares, cancro ou hipertensão. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de seis milhões de pessoas em todo o mundo morrem por ano devido ao consumo excessivo de tabaco (Maddison et al., 2014). Atualmente, sempre que um individuo quer deixar de fumar é prestado aconselhamento comportamental e ministrada uma determinada terapia farmacológica. Contudo, a taxa de sucesso destes métodos continua a ser bastante reduzida. Esta constatação tem levado à recomendação de novas estratégias que possam aumentar a eficácia da cessação tabágica (Ussher, Taylor, & Faulkner, 2014). O exercício tem sido proposto como uma dessas estratégias. O mecanismo subjacente ao efeito benéfico do exercício na cessação tabágica ainda não é claro. Porém, pensa-se que a sua realização consiga estimular os mesmos neurotransmissores do que o fumo do cigarro, podendo assim ser o substituto deste hábito. Para além disso, está comprovado que a prática de exercício físico reduz os níveis de ansiedade durante a abstinência tabágica, aumenta a auto-confiança e auto-estima do individuo e pode impedir o aumento excessivo de peso que normalmente se verifica logo após a cessação tabágica num fumador habitual (Ussher et al., 2014).
O fisioterapeuta está destacado como um dos profissionais de saúde em melhor posição para intervir nestas situações. No entanto é fundamental que quando prescreva exercício para esta população, saiba exatamente qual o tipo de exercício que tem registado melhores resultados e quais as suas características (Pignataro, Ohtake, Swisher, & Dino, 2012).
De forma a tentar dar resposta a algumas das dúvidas levantadas, foi realizada uma revisão de literatura sobre esta temática. Pretende-se analisar a efetividade do exercício na cessação tabágica de forma a prevenir eventuais complicações clínicas resultantes do tabagismo. Adicionalmente tentar-se-á descobrir qual o tipo de exercício e suas características, que levam a melhores resultados na percentagem de abstinência tabágica.
MÉTODOS
Critérios de elegibilidadeA pesquisa foi limitada a guidelines, meta-análises, revisões sistemáticas e estudos controlados e randomizados, redigidos em inglês e publicados em revistas científicas nos últimos 5 anos, ou seja de 2010 a 2015.
Para ser considerado valido o artigo deveria ter como população pessoas com hábitos tabágicos que realizassem um programa de exercício como intervenção, comparativamente à sua não aplicação. O resultado (outcome) procurado foi a percentagem de indivíduos que deixou de fumar a longo prazo.
Pesquisa e fontes de informação
A pesquisa foi efetuada no período de 23 de março a 11 de abril de 2015. Consultaram-se as bases de dados Pubmed, Cochrane Library, PEDro e ScienceDirect. Para a obtenção do texto integral de artigos de interesse não disponíveis, procedeu-se ao contacto com as Bibliotecas da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, da Universidade de Coimbra e do Hospital da Universidade de Coimbra. Os procedimentos de pesquisa e respetivos resultados encontram-se listados na “Tabela 1”.

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
TAVARES N. ET AL.
130
ARTÍCULO DE REVISIÓN
Figura 1. Processo de seleção dos estudos de interesse para a realização da revisão de literatura.
Tabela 1. Descritores utilizados e número de artigos encontrados em cada base de dados.
Base de dados Descritores Número de artigos
Pubmed
“exercise” AND “smoking cessation”Análise MeSH. Filtros: Artigos publicados nos últimos 5 anos.
Tipo de estudo: guidelines, meta-analises, revisões sistemáticas e estudos controlados e randomizados. Espécie humana.
87
CochraneLibrary
“exercise” AND “smoking cessation”Análise MeSH. A pesquisa foi efetuada nos títulos, resumos e palavras-chave da respetiva base de
dados.7
PEDro “exercise” AND “smoking cessation” AND “prevention” Foram considerados todos os desenhos de estudo pois não houve forma de fazer uma filtragem dos desenhos de interesse. 20
ScienceDirect“exercise” AND “smoking cessation” AND “prevention” Filtros: Os descritores apenas poderiam estar nos títulos, resumos e palavras-chave dos artigos da respetiva base de dados. Ano de
publicação: 2010 em diante. Só artigos de jornais e livros.18
Método de recolha de dadosOs dados para esta revisão de literatura foram recolhidos através da leitura integral dos artigos selecionados, não tendo sido obtida outra informação para além da expressa no texto integral publicado. Foram recolhidos dados de identificação do artigo, dados relativos à sua elegibilidade, ao número de participantes, características da amostra, desenho do estudo, tipo de intervenção, resultado de interesse e se disponível as limitações do estudo. Risco de viés dos estudos individuaisA avaliação do risco de viés de todos os estudos individuais foi feita através da leitura dos artigos, aplicando os critérios da Escala de PEDro adaptada para a língua portuguesa (Costa & Cabri, 2011)
RESULTADOS
Seleção de estudosDa pesquisa efetuada foram obtidos 135 artigos dos quais se eliminaram os repetidos (7 artigos) ficando apenas com 128. Seguidamente foram lidos e analisados os títulos e resumos tendo sido excluídos todos os artigos que não cumpriam os critérios de elegibilidade propostos e que
não tinham sido filtrados (desenho de estudo, ano de publicação, língua, PICO). Foram obtidos 10 artigos dos

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 128 - 140.
131
quais se retiraram duas revisões sistemáticas, dado que os únicos estudos de interesse para a presente revisão de literatura já constavam nos restantes artigos selecionados. A “Figura 1” ilustra o processo de seleção dos estudos.
Características e resultados dos estudos individuaisSeguidamente serão apresentadas de forma esquemática na “Tabela 2 e 3” e na “Figura 2”, as características e resultados dos oito estudos individuais analisados.
Tabela 2. Principais características e resultados dos estudos individuais de interesse analisados na presente revisão da literatura.
Identificação do artigo
Autores e anode publicação População Desenho do
estudo Intervenção Resultados de interesse Conclusão
Preliminary randomized controlled trial of a behavioral exercise intervention for smoking cessation.
Ana Abrantes,Erika Bloom,David Strong, Deborah Riebe,Bess Marcus,Julie Desaulniers, Kathryn Fokas, Richard Brown.2014
País: EUA.
N amostral: 61 indivíduos.
% Sexo: 65,6% do sexo feminino e 34,4% do sexo masculino.
Média de idades: 47,3 anos.
Nº médio de cigarros fumados por dia: 19,7.
RCT Grupo experimental (GE) (n = 30)
–Programa de exercício aeróbio a uma intensidade moderada (55 a 69% da frequência cardíaca máxima de cada participante). Numa fase inicial os sujeitos deveriam fazer 100 minutos semanais de exercício. Numa fase posterior tentou-se progredir para os 150 minutos semanais. Duração: 12 semanas.
–Programa de cessação tabágica via telefone. Duração: 8 semanas.
Grupo de controlo (GC) (n = 31)–Programa de educação para a saúde com sessões semanais sobre: saúde oral, doenças cardíacas, cancro, sono e fumadores passivos. Estas informações foram transmitidas por meio de palestras, folhetos, exercícios de grupo e internet. Duração: 12 semanas.– Programa de cessação tabágica via telefone. Duração: 8 semanas.
% de cessação tabágica (abstinência) após 12 meses (48 semanas) o término da intervenção:
GE: 13,3%.4/30 indivíduos.
GC: 3,2%.1/31 indivíduos.
A aplicação de um programa de exercício aeróbio apresenta resultados promissores na cessação tabágica a longo prazo.
Exercise counseling to enhance smoking cessation outcomes: the Fit2Quit randomized controlled trial.
Ralph Maddison, Vaughan Roberts, Hayden McRobbie, Christopher Bullen, Harry Prapavessis, Marewa Glover, Yannan Jiang,Paul Brown, William Leung,Sue Taylor,Midi Tsai.2014
País: Nova Zelândia
N amostral: 906 indivíduos.
% Sexo: 54,2% do sexo feminino e 45,8% do sexo masculino.
Média de idades: 37,5 ± 12,2 anos.
Nº médio de cigarros fumados por dia: 19,6 ± 9,3.
RCT Grupo experimental (GE) (n = 455)
–Programa de exercício aeróbio (Fit2Quit) com uma intensidade moderada. As sessões deveriam ser feitas na maioria dos dias da semana, tendo a duração mínima de 30 minutos. Foi efetuada uma sessão presencial, seguida de nove contactos telefónicos para monitorização do programa. Duração: 6 meses.
–Programa de cessação tabágica via telefone, onde foram fornecidas informações para deixar de fumar + tratamento farmacológico. Duração: 3 meses.
Grupo de controlo (GC) (n = 451)–Programa de cessação tabágica via telefone, onde foram fornecidas informações para deixar de fumar + tratamento farmacológico. Duração: 3 meses.
% de cessação tabágica (abstinência) após 6 meses (24 semanas) de intervenção:
GE: 17%.78/455 sujeitos.
GC: 18%.80/451 sujeitos.
O programa de exercício aeróbio Fit2Quit parece não aumentar a taxa de abstinência após 6 meses,

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
TAVARES N. ET AL.
132
ARTÍCULO DE REVISIÓN
Yoga as a complementary treatment for smoking cessation in women.
Beth Bock,Joseph Fava, Ronnesia Gaskins, Kathleen Morrow, David Williams, Ernestine Jennings, Bruce Becker, Geoffrey Tremont, Bess Marcus.2012
País: EUA.
N amostral: 55 indivíduos.
% Sexo: 100% do sexo feminino.
Média de idades: 45,6 ± 8,3 anos.
Nº médio de cigarros fumados por dia: 16 ± 7,3.
RCT Grupo experimental (GE) (n = 32)
–Sessão de yoga com a duração de uma hora, duas vezes por semana. Cada sessão consistia em: 1) 5 minutos de exercícios respiratórios e meditação na posição de sentado. 2) 45 minutos de exercício terapêutico feito numa postura correta. 3) 10 minutos de arrefecimento. Duração: 8 semanas.
–Sessão de uma hora de técnicas cognitivo-comportamentais para a cessação tabágica.
Grupo de controlo (GC) (n = 23)–Sessões de educação para a saúde de uma hora, uma vez por semana, onde foram mostrados vídeos sobre vários temas da saúde (exemplo: dieta, cancro da mama) e promivada a discussão com o psicólogo responsável. Duração: 8 semanas.
–Sessão de uma hora de técnicas cognitivo-comportamentais para a cessação tabágica.
% de cessação tabágica (abstinência) após 6 meses (24 semanas) o término da intervenção:
GE: 18,8%.6/32 indivíduos.
GC: 13,0%.3/23 indivíduos.
O yoga parece ser uma terapia complementar eficaz para a cessação do tabagismo em indivíduos do sexo feminino.
YMCA commit to quit: randomized trial outcomes.
Jessica Whiteley, David Williams, Shira Dunsiger, Ernestine Jennings, Joseph Ciccolo, Beth Bock,Anna Albrecht, Alfred Parisi,Sarah Linke,Bess Marcus.2012
País: EUA.
N amostral: 330 indivíduos.
% Sexo: 100% do sexo feminino.
Média de idades: 43,52 ± 9,96 anos.
Nº médio de cigarros fumados por dia: 17,48 ± 7,16.
0,29586 Grupo experimental (GE) (n = 166)
–Programa de exercícios aeróbios e de resistência muscular, efetuado três vezes por semana. Duração: 12 semanas. 1ªa 4ª semana: Pelo menos 40 minutos de exercício aeróbio (intensidade moderada: 64 a 76% da frequência cardíaca máxima) + 5 a 10 minutos de aquecimento e arrefecimento. 5ª a 12 semana: Pelo menos 40 minutos de exercício aeróbio (intensidade vigorosa: 77 a 85% da frequência cardíaca máxima) + 20 a 25 minutos de exercícios de resistência geral (10 exercícios em cada uma das máquinas, pelo menos 1 série de 8 a 10 repetições) + 5 a 10 minutos de aquecimento e arrefecimento.
–Terapia comportamental e cognitiva (60 minutos por semana). Duração: 12 semanas.
Grupo de controlo (GC) (n = 164)–Quatro sessões de educação para a saúde e bem-estar.
–Terapia comportamental e cognitiva (60 minutos por semana). Duração: 12 semanas.
% de cessação tabágica (abstinência) após 52 semanas o término da intervenção:
GE: 6,6%.11/166 sujeitos.
GC: 3,7%.6/164 sujeitos.
Não foram observadas diferenças significativas entre o grupo experimental e o de controlo, no que diz respeito à percentagem de cessação tabágica a longo prazo.

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 128 - 140.
133
Effects of physical activity on teen smoking cessation.
Kimberly Horn, Geri Dino,Steven Branstetter, Jianjun Zhang,N Noerachmanto, Traci Jarrett, Melissa Taylor.2011
País: EUA.
N amostral: 233 adolescentes.
% Sexo: 54% do sexo feminino e 46% do sexo masculino.
Média de idades: 17 anos.
Nº médio de cigarros fumados por dia: 9,75 ± 13,64.
RCT Grupo experimental (GE) (n = 80)–Sessões de atividade física (exercício aeróbio) monitorizadas através do podómetro.
–Programa de cessação tabágica realizado uma vez por semana. Duração: 10 semanas.
–Sessão de aconselhamento de 10 a 15 minutos para a cessação tabágica, antes de qualquer intervenção (baseline).
Grupo de controlo A (GC) (n = 90)–Programa de cessação tabágica realizado uma vez por semana. Duração: 10 semanas.
–Sessão de aconselhamento de 10 a 15 minutos para a cessação tabágica antes de qualquer intervenção (baseline).
% de cessação tabágica (abstinência) após 6 meses (24 semanas) o término da intervenção:
GE: 31,3%.25/80 sujeitos.
GC: 21,1%.19/90 sujeitos.
A atividade física (exercício aeróbio) parece aumentar a taxa de sucesso da cessação tabágica em adolescentes, em especial do sexo masculino.
Resistance training as an aid to standard smoking cessation treatment: a pilot study.
Joseph Ciccolo, Shira Dunsiger, David Williams, John Bartholomew, Ernestine Jennings, Michael Ussher, William Kraemer, Bess Marcus.
2011
País: EUA.
N amostral: 25 indivíduos.
% Sexo: 52% do sexo feminino e 48% do sexo masculino.
Média de idades: 36,5 ± 12,0 anos.
Nº médio de cigarros fumados por dia: 18,0 ± 10,1.
RCT(estudo piloto)
Grupo experimental (GE) (n = 13)–Sessões de 60 minutos, com 10 exercícios de resistência, duas vezes por semana. Em cada exercício deveria ser atingida 65 a 75% da repetição máxima (RM) possível para cada indivíduo. Nas primeiras três semanas foi feita uma série para cada exercício. A partir da 4ª semana foram efetuadas duas séries para cada exercício. A carga utilizada em cada exercício foi aumentada de forma progressiva à medida que o individuo fosse suportando mais peso. Duração: 12 semanas.
–Consultas individuais de 15 a 20 minutos de aconselhamento e tratamento farmacológico.
Grupo de controlo (GC) (n = 12)–Sessões de educação para a saúde, onde foram mostrados vídeos de 25 minutos sobre temas da saúde (exemplo: nutrição) duas vezes por semana. Duração: 12 semanas.
–Consultas individuais de 15 a 20 minutos de aconselhamento e tratamento farmacológico.
% de cessação tabágica (abstinência) após 6 meses (24 semanas) o término da intervenção:
GE: 15,4%.2/13 indivíduos.
GC: 8,3%.1/12 indivíduos.
Os resultados sugerem que um programa com exercícios de resistência muscular é viável como um adjuvante para a cessação tabágica.

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
TAVARES N. ET AL.
134
ARTÍCULO DE REVISIÓN
Participation in a population-based physical activity programme as an aid for smoking cessation: a randomised trial
Raphaël Bize, Carole Willi, Arnaud Chiolero, Rebecca Stoianov, Sylvie Payot, Isabella Locatelli, Jacques Cornu.
2010
País: Suiça.
N amostral: 481 indivíduos.
% Sexo: 43% do sexo feminino e 57% do sexo masculino.
Média de idades: 42,2 ± 10,1 anos.
Nº médio de cigarros fumados por dia: 27,0 ± 10,2.
RCT Grupo experimental (GE) (n = 229)‒Programa “Allex Hop”, onde era realizada uma sessão de atividade física com intensidade moderada, com a duração de 60 minutos, uma vez por semana. Duração: 9 semanas. Cada sessão era dividida em três partes:1ª Parte: Discussão interativa sobre atividade física, de forma a influenciar positivamente a atitude dos participantes(5 minutos).2ª Parte: Sessão de atividade física propriamente dita, com um período de aquecimento, 45 minutos de exercício aeróbio (caminhada rápida e corrida lenta) tentando atingir 40 a 60% da frequência cardíaca máxima do participante ou 11 a 13 na Escala de perceção do esforço de Borg e um período de arrefecimento.3ª Parte: Período de esclarecimento (5 a 10 minutos).–Programa de cessação tabágica que consistia numa sessão semanal de 15 minutos de aconselhamento e terapia de reposicionamento da nicotina. Duração: 9 semanas.
Grupo de controlo (GC) (n = 252)–Sessões de 60 minutos sobre educação para a saúde, que incluíram: palestras, discussões de determinados temas (exemplo: dietas saudáveis, prevenção de doenças cardiovasculares e cancro, programas de triagem para detetar cancro da mama ou do colon) e distribuição de folhetos. Duração: 9 semanas.–Programa de cessação tabágica que consistia numa sessão semanal de 15 minutos de aconselhamento e terapia de reposicionamento da nicotina. Duração: 9 semanas.
% de cessação tabágica (abstinência) após 52 semanas o término da intervenção:
GE: 27,1%.62/229 sujeitos.
GC: 28,6%.72/252 sujeitos.
A participação num programa de atividade física de intensidade moderada com 9 semanas não aumentou
Moderate intensity exercise as an adjunct to standard smoking cessation treatment for women: a pilot study.
-David Williams, Jessica Whiteley, Shira Dunsiger, Ernestine Jennings, Anna Albrecht, Michael Ussher, Joseph Ciccolo, Alfred Parisi,Bess Marcus.
2010
País: EUA.
N amostral: 59 indivíduos.
% Sexo: 100% do sexo feminino.
Intervalo de idades: 18-45 anos.
Nº de cigarros fumados por dia:> 5.
-0,725 Grupo experimental (GE) (n = 29)–Sessões de exercício aeróbio (caminhada vigorosa na passadeira do centro de investigação), três vezes por semana, durante 50 minutos, de forma a atingir 70% da frequência cardíaca máxima prevista para a idade. Duração: 8 semanas.–Sessões de aconselhamento sobre cessação tabágica e tratamento farmacológico (pensos de nicotina).
Grupo de controlo (GC) (n = 30)–Sessões sobre educação para a saúde, onde foram visualizados filmes de 30 minutos, três vezes por semana.–Sessões de aconselhamento sobre cessação tabágica e tratamento farmacológico (pensos de nicotina).
% de cessação tabágica (abstinência) após 1 mês(4 semanas) o término da intervenção:
GE: 17,2%.5/29 sujeitos.
GC: 13,3%.4/30 sujeitos.
Os resultados sugerem que o exercício aeróbio com uma intensidade moderada pode melhorar os resultados da cessação tabágica em mulheres.sd

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 128 - 140.
135
Tabela 3. Resumo da evidência analisada com base nas regras PICO (População: pessoas com hábitos tabágicos. Intervenção: programa de exercício. Comparação: ausência de um programa de exercício. Resultado (outcome): percentagem de indivíduos que deixou de fumar a longo
prazo).
Artigo Follow-up População Intervenção (exercício) Outcome Comparação (controlo)
Outcome
Abrantes et al. 2014
12 mesesapós a intervenção.
•Amostra: 61 participantes.•Género: 65,6% Masculino e 34,4% Feminino.•Média de idades: 47,3 anos.•Média de cigarros consumidos por dia: 19,7.
Programa de exercício aeróbio. •Frequência: 100 a 150 minutos semanais.•Intensidade: 55 a 69% da FC máxima.•Duração do programa:12 semanas.
4/30 13,3% Ausência de um programa de exercício aeróbio.
1/31 3,2%
Maddison et al. 2014
Após a intervenção.
•Amostra: 906 participantes.•Género: 54,2% Masculino e 45,8% Feminino.•Média de idades: 37,5 ± 12,2 anos.•Média de cigarros consumidos por dia: 19,6 ± 9,3.
Programa de exercício aeróbio.
•Frequência: Maioria dos dias da semana.•Intensidade: Moderada.•Duração da sessão: 30 minutos (mínimo).•Duração do programa: 6 meses.
78/455 17,1% Ausência de um programa de exercício aeróbio.
80/451 17,7%
Bocket al. 2012
6 mesesapós a intervenção.
•Amostra: 55 participantes.•Género: 100% Masculino.•Média de idades: 45,6 ± 8,3 anos.•Média de cigarros consumidos por dia: 16,0 ± 7,3.
Programa de yoga.
•Frequência: Duas vezes por semana.•Duração da sessão: 60 minutos.•Duração do programa: 8 semanas.
6/32 18,8% Ausência de um programade yoga.
3/23 13,0%
Whiteley et al. 2012
52 semanas após a intervenção.
• Amostra: 330 participantes.•Género: 100% Masculino.•Média de idades: 43,5 ± 10,0 anos.•Média de cigarros consumidos por dia: 17,5 ± 7,2.
Programa de exercício aeróbio +exercícios de resistência muscular.
•Frequência: Três dias por semana.•Intensidade: Moderada (1ª a 4ª semana) vigorosa (5ª a 12ª semana).•Duração da sessão: 45 a 50 minutos (1ª a 4ª semana) e 65 a 75 (5ª a 12ª semana).•Duração do programa: 12 semanas.
11/166 6,6% Ausência de um programa de exercício aeróbio + exercícios de resistência muscular.
6/164 3,7%
Hornet al. 2011
6 mesesapós a intervenção.
•Amostra: 233 participantes.•Género: 54% Masculino e 46% Femenino.•Média de idades: 17 anos.•Média de cigarros consumidos por dia: 9,8 ± 13,6.
Programa de atividade física(exercício aeróbio).
25/80 31,3% Ausência de um programa de atividade física (exercício aeróbio).
19/90 21,1%

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
TAVARES N. ET AL.
136
ARTÍCULO DE REVISIÓN
Ciccoloet al. 2011
6 mesesapós a intervenção.
•Amostra: 25 participantes.•Género: 52% Masculino e 48% Feminino.•Média de idades: 36,5 ± 12,0 anos.•Média de cigarros consumidos por dia: 18,8 ± 10,1.
Programa com exercíciosde resistência muscular.
•Frequência: Duas vezes por semana.•Intensidade: 65 a 75% da repetição máxima (RM) de cada indivíduo.•Duração da sessão: 60 minutos.• Duração do programa: 12 semanas.
2/13 15,4% Ausência de um programa com exercícios de resistência muscular.
1/12 8,3%
Bizeet al. 2010
52 semanas após a intervenção.
•Amostra: 481 participantes.•Género: 43% Masculino e 57% Feminino.•Média de idades: 42,2 ± 10,1 anos.•Média de cigarros consumidos por dia: 27,0 ± 10,2.
Programa de atividade física(exercício aeróbio).
•Frequência: Uma vez por semana.•Intensidade: 40 a 60% da FC máxima ou 11 a 13 na Escala de Borg.•Duração da sessão: 60 minutos.•Duração do programa: 9 semanas
62/229 27,1% Ausência de um programa de atividade física (exercício aeróbio).
72/252 28,6%
Williams et al. 2010
1 mêsapós a intervenção.
•Amostra: 59 participantes.•Género: 100% Masculino.•Intervalo de idades: 18-45 anos.• Número de cigarros por dia: > 5
Programa de exercício aeróbio.
•Frequência: Três vezes por semana.•Intensidade: 70% da FC máxima.•Duração da sessão: 50 minutos.•Duração do programa: 8 semanas.
5/29 17,2% Ausência de um programa de exercício aeróbio.
4/30 13,3%
Figura 2. Gráfico com a diferença entre a percentagem de cessação tabágica no grupo experimental e no grupo de controlo,dos oito estudos individuais analisados na presente revisão da literatura.

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 128 - 140.
137
Avaliação do risco de viés dos estudos individuaisEm seguida serão apresentadas na “Tabela 4”, as pontuações obtidas após a avaliação do risco de viés dos estudos individuais, com base nos critérios da Escala de PEDro adaptada para a língua portuguesa (Costa & Cabri, 2011). A classificação numérica obtida foi posteriormente qualificada de acordo com as normas de Teasell et al. (2004).
DISCUSSÃO
Em seis dos oito estudos analisados foi possível verificar que a realização de um programa de exercício aumentou a percentagem de indivíduos que deixou de fumar a longo prazo, comparativamente à sua não realização. Assim sendo, podemos afirmar que o exercício mostra ter alguma
Tabela 4. Pontuação dos estudos analisados de acordo com a Escala de PEDro e respetiva correspondência qualitativa de acordo com Teasell et al. (2004).
Estudo avaliadoPontuação da avaliação do estudo controlado e randomizado de acordo com a Escala de PEDro
Pontuação final1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Abrantes et al.(2014) + + - + - - - + + + + 6/10
Bom
Maddison et al.(2014) + + + + - - - + + + + 7/10
Bom
Bock et al. (2012) + + - + - - - + + + + 6/10
Bom
Whiteley et al. (2012) + + - + - - - + + + + 6/10
Bom
Horn et al. (2011) + + - + - - - + + + + 6/10
Bom
Ciccolo et al. (2011) + + - - - - - + + + + 5/10
Razoável
Bize et al. (2010) + + + + - - - - + + + 6/10
Bom
Williams et al. (2010) + + + + - - - + + + + 7/10
Bom
*Este item não é contabilizado para a pontuação final
Classificação qualitativa dos resultados da Escala de PEDro de acordo com Teasell et al. (2004)
Pontuações entre 9 e 10 Excelente
Pontuações entre 6 e 8 Bom
Pontuações entre 4 e 5 Razoável
Pontuações inferiores a 4 Pobre
influência positiva durante o período de abstinência de um fumador, induzindo a uma maior taxa de sucesso na cessação tabágica.
Mais de metade dos estudos individuais analisados aplicaram um programa de exercício aeróbio. Nesses estudos estão comtemplados os que obtiveram uma maior diferença entre grupos e consequentemente um maior efeito positivo da intervenção efetuada. No entanto, também é importante mencionar que foram dois desses estudos, os únicos a revelar melhores resultados de cessação tabágica no grupo de controlo, ou seja naquele que não efetuou nenhum programa de exercício. Existem algumas razões que poderão estar na origem desta dualidade. Em primeiro lugar, o facto dos estudos de Maddison et al. (2014) e de Bize et al. (2010) serem os que comportam uma maior amostra de participantes. Embora, este facto torne as

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
TAVARES N. ET AL.
138
ARTÍCULO DE REVISIÓN
conclusões das investigações mais fortes e abrangentes, quando se verificam as suas metodologias constata-se que houve alguma falta de controlo em determinadas variáveis que poderão ter influenciado os resultados. Por exemplo, na metodologia de Maddison et al. (2014) não é referida quantitativamente a intensidade do exercício aeróbio a aplicar, nem o número exato de dias da semana em que foi efetuado o programa. Conjuntamente, neste estudo também é possível verificar que a maioria das sessões não foi presencial, havendo apenas uma monitorização do indivíduo via telefone ao longo o tempo. Outro dos fatores que poderá ter influenciado a existência desta diferença entre os estudos que aplicam exercício aeróbio, está relacionada com a intensidade a que é feito o exercício. Antes de mais, referir que apenas três dos estudos quantificam a intensidade desta componente da aptidão física. Os dois estudos que obtêm resultados favoráveis ao exercício aeróbio aplicam intensidades mais elevadas nos programas de intervenção: Abrantes et al. (2014) utiliza uma intensidade de 55 a 69% da frequência cardíaca máxima e Williams et al. (2010) de 70%. Em contraste, na investigação de Bize et al. (2010), favorável ao grupo de controlo, a intensidade requerida é apenas de 40 a 60% da frequência cardíaca máxima dos participantes. Este dado poderá sugerir que intensidades mais baixas provavelmente não são suficientes para provocar efeitos benéficos do exercício aeróbio na cessação tabágica.
No que diz respeito aos outros tipos de exercício abordados nos estudos individuais, em todas as situações observaram-se diferenças na cessação tabágica a longo prazo favoráveis ao grupo experimental. Das três investigações, a maior diferença foi registada no estudo de Ciccolo et al. (2011) ao ser aplicado um programa de exercícios de resistência muscular, seguida do programa de yoga descrito por Bock et al. (2012) e por último do programa misto de exercício aeróbio e de resistência muscular testado por Whiteley et al. (2012). No entanto, em todos os casos as diferenças entre grupos não
se revelaram tão expressivas comparativamente às verificadas nos estudos de Abrantes et al. (2014) e Horn et al. (2011), onde foram aplicados programas de exercício aeróbio. Para além disso, duas destas investigações ainda se encontram numa fase pioneira, sendo por isso utilizada uma amostra relativamente pequena. Posto isto, podemos afirmar que embora os resultados sejam promissores, serão necessárias novas investigações no sentido de testar a real eficácia destes três tipos de exercício, de forma a conseguir extrair conclusões mais fortes para a prática clínica.
Atualmente, caso fosse necessário aplicar neste contexto um dos programas de exercício analisados, optaríamos por escolher o de Abrantes et al. (2014). Dentro dos estudos que obtêm maiores diferenças de cessação tabágica a longo prazo favoráveis ao grupo experimental, o de Abrantes et al. (2014) é aquele que se encontra metodologicamente melhor especificado. Para além disso, de todos é o estudo mais atual tendo obtido uma boa qualidade metodológica na avaliação segundo a Escala de PEDro. Portanto, recomenda-se a realização de um programa de exercício aeróbio entre 100 a 150 minutos por semana ao longo de 12 semanas de abstinência tabágica. Durante esse exercício aeróbio, o individuo deve ser monitorizado de forma a alcançar 55 a 68% da sua frequência cardíaca máxima (intensidade moderada).
Relativamente à avaliação do risco de vieses dos estudos individuais é possível observar que sete dos oito estudos obtiveram uma classificação de “Bom” de acordo com Teasell et al. (2004). Quer isto dizer, que na sua maioria os estudos analisados apresentam uma boa qualidade metodológica, não comprometendo as conclusões desta revisão da literatura.
Existem ainda algumas limitações inerentes a esta revisão de literatura. A primeira diz respeito à restrição a artigos publicados na língua inglesa, o que poderá

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 128 - 140.
139
ter condicionado a abrangência da pesquisa. Outra limitação passa pela ausência de informações sobre as características de determinados programas presentes nos estudos individuais. Em alguns dos casos, questões como a intensidade do exercício a aplicar, a sua duração ou o número de vezes que deve ser efetuado por semana são ocultadas. Por último, o facto de existirem poucos estudos que avaliam a efetividade de outros tipos de exercício, para além do exercício aeróbio, compromete a força de determinadas conclusões apresentadas.
CONCLUSÕES
A maioria dos estudos analisados mostram que a aplicação de um programa de exercício reduz a percentagem de cessação tabágica a longo prazo, comparativamente à sua não realização. unicamente exercício aeróbio foi aquele que promoveu maiores diferenças na percentagem de cessação tabágica a longo prazo entre o grupo experimental e o de controlo, favoráveis ao primeiro. No entanto, este tipo de exercício também foi o único onde se verificaram efeitos favoráveis ao grupo de controlo.
Os restantes tipos de exercício (resistência muscular, resistência muscular + aeróbio e yoga) mostraram todos efeitos positivos favoráveis ao grupo experimental, mas em menor expressão comparativamente a algumas diferenças registadas em determinados programas de exercício aeróbio. Porém, o facto de serem poucos estudos condiciona a força desta conclusão.
O programa de exercício que apresentou melhores resultados e cuja descrição se encontra mais bem especificada foi o de Abrantes et al. (2014). Desta forma, neste contexto, recomenda-se um programa de exercício aeróbio, realizado 100 a 150 minutos por semana ao longo de 12 semanas de abstinência tabágica. Durante esse exercício aeróbio, o individuo deve ser monitorizado de
forma a alcançar 55 a 68% da sua frequência cardíaca máxima (intensidade moderada).Futuras investigações deverão ser efetuadas de forma a comprovar a real benefício do exercício aeróbio e ainda com o intuito de clarificar a efetividade dos restantes tipos de exercício na cessação tabágica.
REFERÊNCIAS
1. Abrantes, A. M., Bloom, E. L., Strong, D. R., Riebe, D., Marcus, B. H., Desaulniers, J., … Brown, R. a. (2014). A preliminary randomized controlled trial of a behavioral exercise intervention for smoking cessation. Nicotine & Tobacco Research : Official Journal of the Society for Research on Nicotine and Tobacco, 16(8), 1094–103. doi:10.1093/ntr/ntu036
2. Bize, R., Willi, C., Chiolero, A., Stoianov, R., Payot, S., Locatelli, I., & Cornuz, J. (2010). Participation in a population-based physical activity programme as an aid for smoking cessation: a randomised trial. Tobacco Control, 19(6), 488–94. doi:10.1136/tc.2009.030288
3. Bock, B. C., Fava, J. L., Gaskins, R., Morrow, K. M., Williams, D. M., Jennings, E., … Marcus, B. H. (2012). Yoga as a complementary treatment for smoking cessation in women. Journal of Women’s Health (2002), 21(2), 240–8. doi:10.1089/jwh.2011.2963
4. Ciccolo, J. T., Dunsiger, S. I., Williams, D. M., Bartholomew, J. B., Jennings, E. G., Ussher, M. H., … Marcus, B. H. (2011). Resistance training as an aid to standard smoking cessation treatment: a pilot study. Nicotine & Tobacco Research: Official Journal of the Society for Research on Nicotine and Tobacco, 13(8), 756–60. doi:10.1093/ntr/ntr068.
5. Costa, C. M., & Cabri, J. M. (2011). Tradução e adaptação da PEDro Scale para a cultura portuguesa: um instrumento de avaliação de ensaios clínicos em Fisioterapia (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Motricidade Humana - Universidade Técnica de

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
TAVARES N. ET AL.
140
ARTÍCULO DE REVISIÓN
Lisboa.6. Horn, K., Dino, G., Branstetter, S. a, Zhang, J.,
Noerachmanto, N., Jarrett, T., & Taylor, M. (2011). Effects of physical activity on teen smoking cessation. Pediatrics, 128(4), e801–11. doi:10.1542/peds.2010-2599.
7. Maddison, R., Roberts, V., McRobbie, H., Bullen, C., Prapavessis, H., Glover, M., … Tsai, M. (2014). Exercise counseling to enhance smoking cessation outcomes: the Fit2Quit randomized controlled trial. Annals of Behavioral Medicine : A Publication of the Society of Behavioral Medicine, 48(2), 194–204. doi:10.1007/s12160-014-9588-9.
8. Pignataro, R. M., Ohtake, P. J., Swisher, A., & Dino, G. (2012). The role of physical therapists in smoking cessation: opportunities for improving treatment outcomes. Physical Therapy, 92(5), 757–66. doi:10.2522/ptj.20110304
9. Teasell, R., Foley, N., & Salter, K. (2004). Evidence-based review of stroke rehabilitation. (Heart and Stroke Foundation of Ontario, Ed.) (Sixth edit.).
10. Ussher, M. H., Taylor, A. H., & Faulkner, G. E. J. (2014). Exercise interventions for smoking cessation. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 8(8),
CD002295. doi:10.1002/14651858.CD002295.pub511. Whiteley, J. a, Williams, D. M., Dunsiger, S.,
Jennings, E. G., Ciccolo, J. T., Bock, B. C., … Marcus, B. H. (2012). YMCA commit to quit: randomized trial outcomes. American Journal of Preventive Medicine, 43(3), 256–62. doi:10.1016/j.amepre.2012.05.025.
12. Williams, D. M., Whiteley, J. A., Dunsiger, S., Jennings, E. G., Albrecht, A. E., Ussher, M. H., … Marcus, B. H. (2010). Moderate intensity exercise as an adjunct to standard smoking cessation treatment for women: a pilot study. Psychology of Addictive Behaviors : Journal of the Society of Psychologists in Addictive Behaviors, 24(2), 349–54. doi:10.1037/a0018332.
13. World Health Organization. (2015). School health and youth health promotion. Retrieved from http://www.who.int/school_youth_health/en/.
Correo Autor: [email protected]
Fecha de Aceptación: 23 de Enero del 2017 Fecha de Publicación: 31 de Mayo del 2017
ACEPTACIÓN Y CORRESPONDENCIA

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 141 - 143.
141
MORAL, ÉTICA, DEONTOLOGÍA Y BIOÉTICA EN LA ACCIÓN MÉDICA
PATRICIO LEDEZMA1.
DESARROLLO
Se podrían dedicar varias páginas a la discusión de las diferencias entre los términos de ética y moral, y cómo estos se relacionan en la conducta de un individuo, sobretodo en el ámbito profesional; sin embargo, al no ser el objetivo de este artículo, cabe sólo señalar que desde el punto de vista etimológico (esto es analizando la raíz u origen idiomático del vocablo), no existe ninguna diferencia, en el sentido de que ambos términos hacen alusión a “aquello relativo a las costumbres…” (1). MORAL (derivada del latin “moris”, y por extensión “moralis”) y ÉTICA (derivada del griego “ethikos”) aluden etimológicamente a lo “relativo a las costumbres”. Por otra parte, la ética a su vez, constituye una de las disciplinas o ramas de desarrollo de la filosofía, y tiene enfoques o corrientes que pueden sustentarse desde diferentes miradas, según el ámbito de trabajo en que se dirija u oriente, surgiendo así las llamadas “bases teóricas” (ontologista, deontologista, personalista, utilitarista, etc.). Es precisamente, por la cantidad de ámbitos en que se puede aplicar esta disciplina, que surgen estas corrientes
de pensamiento, e incluso, algunos “modelos éticos”. Así por ejemplo, la ética orientada al derecho puede ser llamada “ética jurista”; la ética orientada a la vida del ser humano en interacción con los progresos de la ciencia ha sido llamada bioética, etc. Desde el punto de vista de este autor, al final, independiente de la corriente de estudio o trabajo que tenga un modelo teórico ético, todo pasa, por algo quizás “simple” de decir o enunciar, pero muchas veces “difícil o complejo” de definir o justificar, y esto es “el reconocer lo que es bueno y lo que es malo”, tanto en la observación, como en la acción.
Si el planteamiento anterior, lo aplicamos al terreno de las acciones, será imposible no involucrarnos en el terreno de la deontología, ámbito de la ética que dice relación con los deberes, obligaciones o preceptos morales, incluso desde una óptica normativa (2). Esto es justamente la base conceptual por la que se rigen los códigos de ética
Moral, Ethics, Deontology and Bioethics in medical action
1 Hospital Regional "JUAN NOÉ CREVANI", Arica - Chile..
RESUMEN Moral, ética, deontología y bioética se confluyen en el actuar final de una acción médica o de cualquier profesional de la salud, sin comprenderse específicamente sus límites. El presente artículo intenta explicar las bases teóricas de los conceptos mencionados, así como su interrelación a la hora de analizar una acción médica o de otro profesional de la salud, concluyendo que la bioética actúa más bien como una interdisciplina, y no como una disciplina aislada, siendo un nexo o puente entre las otras.
Palabras claves: Ética, bioética y deontología.
ABSTRACTMorality, ethics, deontology and bioethics converge in the final act of a medical action or any health professional, without specifically understanding their limits. This article tries to explain the theoretical bases of the mentioned concepts, as well as their interrelation when analyzing a medical action or of another health professional, concluding that bioethics acts more like an interdiscipline, and not as an isolated discipline, being a nexus or bridge between the others.
Key words: Ethics, bioethics and deontology..

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
LEDEZMA P.
142
DOCUMENTO
de los diferentes colegios profesionales (código de ética del colegio médico, del colegio de enfermeras, etc.), y que de alguna forma establecen una especie de “arquetipo conductual” esperable para el individuo que practica dicha profesión, en un tiempo y lugar determinados.
Profundizando más aún, dentro de la misma ética, la deontología, nos mostrará que un acto es moral, no porque sea bueno en sí, sino porque “dicho acto es correcto”.En este sentido, el bien se impone como un “deber” o “imperativo” al estilo Kantiano en muchas oportunidades (3). De esta forma existen deberes que “deben” ser cumplidos, más allá de las consecuencias favorables que puedan traer. Al actuar cumpliendo dichos deberes, se estará actuando moral o éticamente, y esto hará digno al individuo, y por consecuencia, a la profesión que ejerce. No obstante, creo prudente y necesario señalar que no debe confundirse lo que es ética profesional, con deontología profesional. En el caso de la ética profesional, ésta tiene como objetivo de estudio los contenidos de las normas de un grupo o colectivo profesional. En el caso de la deontología profesional, ésta tiene como objetivo el estudio de las normas vinculantes de un grupo o colectivo profesional.
Sin embargo, ¿de qué sirve todo anterior, a la hora de enfrentar a un enfermo, o a un individuo sujeto de experimentación? ¿De qué sirven las bases filosóficas teóricas, cuando un dilema científico o de atención de salud entra en conflicto con opciones individuales y/o un marco jurídico o legal vigente? ¿Es suficiente la “ética clásica” para la resolución de los nuevos conflictos que surgen al amparo de las mejoras tecnológicas y avances de la medicina, especialmente en los últimos 50 años?.
Es justamente el cúmulo de interrogantes planteadas, las que motivaron el surgimiento de la Bioética, como una forma de respuesta para aquellos conflictos en que la ética clásica resultaba insuficiente como forma única de
abordaje o resolución. En este sentido, se plantea que más que una disciplina, la bioética es una “interdisciplina”, justificando con esta mirada, muy modestamente, la cantidad de definiciones que existen para ella. Además, dicha gran cantidad de definiciones, pasa justamente, porque su ámbito de estudio, trabajo o investigación no sólo se limita a la interacción médico-paciente o sujeto-tecnología u hombre–naturaleza. Algo simplista, pero no por ello menos válido, puede suponer a la bioética, como “la búsqueda ética aplicada a las cuestiones planteadas por el progreso biomédico”. Conservando la vision del autor de “interdisciplina”, y basado justamente en los diferentes ámbitos o problemas en que se enfoca (relación médico-paciente, derechos y deberes, fertilización asistida, aborto, eugenesia, investigación en seres humanos, ecosistema y ambiente, etc.etc), es que me quedo con aquella reflexión que plantea a la bioética como una “deliberación práctica”, acerca de la exigencias éticas que lleva consigo el respeto a la vida humana, “en todo el sentido de la palabra”, y no sólo en el aspecto médico, tecnológico o de atención de salud propiamente tal (4). En esa deliberación práctica confluyen factores técnicos, legales, culturales y por supuesto individuales.
Finalmente, ¿cómo lograr unir o relacionar los conceptos anteriormente señalados desde la teoría a la acción?, quizás la siguiente reflexión final pueda ayudar a comprender de mejor forma lo anteriormente expresado: Tanto la ética, como la deontología dentro de la misma ética, y la bioética como interdisciplina, pueden analizarse individualmente, o según el ámbito en que se apliquen, pero, a fin de cuentas, cuando se logra alcanzar una visión global, integradora, trascendente, para emitir, o, actuar con un juicio apropiado, frente a un conflicto de deliberación, observando que quienes participamos, lo hacemos desde nuestro propio ser, con nuestra moral (o “ética individual”), enmarcada muchas veces con lo que son o deben ser nuestros deberes y responsabilidades profesionales (“deontología”), con la finalidad de, en un

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 141 - 143.
143
Correo Autor: [email protected]
Fecha de Aceptación: 20 de Abril del 2017 Fecha de Publicación: 31 de Mayo del 2017
ACEPTACIÓN Y CORRESPONDENCIA
acto justo, equilibrar mi potencial acción benefactora con la libertad y autonomía del que está al frente mío, a la luz del progreso y de la evidencia actual (“bioética”), sin dejar de ser yo mismo y sin dejar que el otro deba y/o pueda ser. Indudablemente que esta labor es y debe ser permanente en cada acto de deliberación al que nos enfrentemos en nuestra práctica diaria.
REFERENCIAS
1. Lalande, A. ”Vocabulario técnico y crítico de la filosofía”. Editorial El Ateneo. Argentina. 1967.
2. Escribar,A. Pérez, M. Villarroel, S. “Bioética: fundamentos y dimensión práctica”. Editorial mediterráneo. Chile. 2008.
3. Ferrater Mora, J. “Diccionario de Filosofía”. Alianza editorial. España. 1988.
4. León C., F. “Introducción a la Bioética”. Ediciones diploma bioética PUC. Chile. 2010.

Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
RECISAM.CL
144
INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
FORMA DE PREPARACIÓN DE LOS MANUSCRITOS
Como instrucciones para los autores, se considerará que los manuscritos sometidos a la Rev. cienc. salud med. deberán ceñirse a las siguientes instrucciones, preparadas considerando el estilo y naturaleza de la propia Rev. cienc. salud med. y las instrucciones “ICMJE Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals” (“ICMJE Recommendations”), establecidas por el International Committee of Medical Journal Editors y disponibles en el sitio web http://www.icmje.org.
Los manuscritos deben ser escritos en letra Arial 11, a doble espacio y enviarse al correo electrónico editor@ recisam.cl. Alternativamente puede ser utilizada la vía postal, enviando un CD con el contenido del trabajo, en formato Word con el objetivo que pueda ser modi cado directamente por la redacción si el autor autoriza las correcciones u observaciones.
Según su naturaleza o estilo, los manuscritos serán clasi cados para una de las Secciones permanentes de la Revista: Editorial, Artículos de Investigación, Comunicaciones, Artículos de Revisión, Reportes Técnicos, Notas Técnicas, Casos, Documentos, Revista de Revistas, Contrapunto o Debate, Notas al Editor o Recensiones u otras Secciones no permanentes. Para cada Sección hay un límite de extensión referido al número de palabras, en un recuento que se inicia en la Introducción y abarca hasta el n de la Discusión (se excluyen para el recuento: la página de Título, el Resumen, los Agradecimientos, las Referencias, Tablas y Figuras).
Tipos de artículos:1. Editorial: Sección de responsabilidad del Editor o de
un Editor Invitado y referida a una temática general que involucre a los trabajos incluidos en la edición, o bien, a una de interés general. (Máximo 800 palabras).
2. Artículos de Investigación: Estudios originales experimentales o teóricos sobre un área o áreas del conocimiento de su competencia, destacando los aspectos que correspondan. Estos manuscritos deben estar escritos en forma precisa y concisa, pero deberán ser lo su cientemente descriptivos para permitir un análisis crítico de los resultados. (Máximo 3500 palabras).
3. Comunicaciones: Informaciones o avances sobre trabajos de investigación en curso, señalando aquellos aspectos principales del mismo. (Máximo 1500 palabras).
4. Artículos de Revisión: Revisiones bibliográ cas o de trabajos de investigación, que contribuyan a la actualización de un tema especí co desde una perspectiva objetiva, crítica y cientí ca. (Máximo 3500 palabras).
5. Reportes Técnicos: Por lo general es un informe de una extensa serie de mediciones, a menudo con presentación en forma de tablas o grá cos, con texto que describe las condiciones y procedimientos de medida. Los criterios para los informes técnicos son la validez y utilidad. Las formulaciones de los procedimientos de garantía de calidad, incluidos los criterios educativos, son adecuados en esta categoría. Informes técnicos deben presentar la nueva información cientí ca. (Máximo 3000 palabras).
6. Notas Técnicas: Descripción concisa de un desarrollo, un procedimiento o dispositivo especí co que debe ser una solución a un problema especí co y tener la su ciente importancia para ser útil para muchos lectores de la Rev. cienc. salud med. Debe ser conciso. (Máximo 2000 palabras).
7. Casos: Descripción, análisis y comentario sobre casos de pacientes, laboratorio, clínicos asistenciales o experimentales, que por su naturaleza sean objeto de estudio y puestos de mani esto. (Máximo 1500 palabras).
8. Documentos: Análisis y difusión de diversos aspectos

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
Rev. cienc. salud med. Mayo - 2017, Vol 3, Nº2recisam.cl
Rev. cienc. salud med. 2017; 3(2): 144 - 145.
145
relacionados con las profesiones del área de la salud, su actualidad y futuro. (Máximo 2000 palabras).
9. Revista de Revistas: Dedicada al análisis crítico de Resúmenes de artículos cientí cos de importancia, publicados en Chile o en el extranjero, especialmente de producción nacional, con su respectivo comentario.
10. Contrapunto o Debate: Consiste en posiciones pro y en contra de un tema controvertido en algún área. Estos suelen ser invitados más que ofrecidos. El editor invita a los autores a enviar artículos que abordan un tema especí co, una para cada lado de la discusión. Cada lado del debate debe ser preparado por un solo autor a menos que la coautoría por ambas partes ha sido arreglado antes del inicio del debate. Los lectores que deseen ser voluntarios para debatir un tema controvertido deben comunicarse con el Moderador Contrapunto para obtener instrucciones (Dr. Carlos Ubeda de la Cerda, Editor). (Máximo 2000 palabras).
11. Notas al Editor o Recensiones: Consultas y/u observaciones sobre temas especí cos y comentarios de artículos publicados en la revista. Deben ser concretas y estar responsablemente rmadas. Si se re eren a un artículo publicado, el autor del mismo tendrá el derecho legal a réplica. Los conceptos, resultados, conclusiones, juicios de valor, opiniones, comentarios y observaciones expresadas en cada una de las secciones de la revista, son de exclusiva responsabilidad de quienes han contribuido o aportado al debate con ellos. (Máximo 1000 palabras).
El formato de los “Artículos de Investigación” debe dividirse en partes tituladas “Introducción”, “Material y Método”, “Resultados” y “Discusión”. Los otros tipos de artículos, pueden acomodarse mejor a otros formatos, los cuales deben ser aprobados por el Editor.