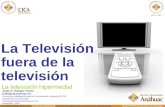EDICAO ESPECIAL 03 MOD - TV Escola · no programa Salto para o Futuro/TV Escola (MEC) no ano de...
Transcript of EDICAO ESPECIAL 03 MOD - TV Escola · no programa Salto para o Futuro/TV Escola (MEC) no ano de...

TV, ED
UCAÇ
ÃO E F
ORMAÇ
ÃO DE
PROF
ESSO
RES:
SALTO
PARA
O FU
TURO
20 ANOS
Edição Especial - 2013 Volume 1Edição Especial - 2013 Volume 2Edição Especial - 2013 Volume 3Edição Especial - 2013 Volume 4

Copyright © 2013 by ACERP/TV Escola
Diagramação e editoração
Núcleo de Produção Gráfica de Mídia Imprensa
Gerência de Criação e Produção de Arte
Preparação e revisão:
Magda Frediani Martins
CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ
T911
TV, educação e formação de professores [recurso eletrônico] : Salto para o Futuro : 20
anos / Rosa Helena Mendonça, Magda Frediani Martins (org.). - Rio de Janeiro : ACERP ;
Brasília, DF : TV Escola , 2013.
4 v., recurso digital
Formato:
Requisitos do sistema:
Modo de acesso: World Wide Web
Inclui bibliografia e índice
ISBN 978-85-60972-02-3 (v. 1) - 978-85-60792-03-0 (v. 2) - 978-85-60792-04-7 (v. 3) - 978-85-
60792-05-4 (v. 4) (recurso eletrônico)
1. Educação 2. Educação - Aspectos sociais 3. TV Escola (Programa de televisão) 4. Livros
eletrônicos. I. Mendonça, Rosa Helena II. Martins, Magda Frediani. III. Ministério da Edu-
cação.
13-1708. CDD: 370.981
CDU: 37(81)
15.03.13 20.03.13 043546

Presidência da República
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Básica
TV, educação e formação deprofessores:
salTo para o fuTuro- 20 anos -
Organização
Rosa Helena Mendonça
Magda Frediani Martins
(Equipe de Educação da TV Escola)
Salto para o Futuro/TV Escola/ SEB-MEC
Rio de Janeiro/ Brasília
2013

Volume 3 TEcEnDO naRRaTivaS EM EDucaçãO E DivERSiDaDE
SuMáRiO
apresentação ............................................................................................................ 5
Rosa Helena Mendonça e Magda Frediani Martins
3. 1 Literatura e identidade: tecendo narrativas em rodas de leitura ....................... 9
Pedro Benjamim Garcia
3. 2 Entre a dor de não poder ser e a conquista da alegria de ser ........................... 23
Narcimária Correia do Patrocínio Luz
3.3 Multiculturalismo, televisão e cotidiano escolar: um bornal de lembranças ... 35
Azoilda Loretto da Trindade
3.4 “isso vem do começo do mundo!” – Dados e anotações sobre
a cultura popular ............................................................................................ 50
Carlos Rodrigues Brandão e Alessandra Fonseca Leal
3.5 Para o Salto, de uma educadora ........................................................................61
Eleonora Gabriel
3.6 um rápido balanço ........................................................................................... 72
Ana Waleska P. C. Mendonça

5
ApresentAção
Rosa Helena Mendonça1
Magda Frediani Martins2
A publicação TV, educação e formação de pro-
fessores: Salto para o Futuro – 20 anos come-
mora a trajetória do programa, ao longo de
duas décadas, destacando temas fundamen-
tais para o debate sobre TV, educação e for-
mação de professores. Esta publicação, na
sua versão digital, está organizada em qua-
tro volumes, expressos nos seguintes eixos:
Volume 1 - LINGUAGENS E SENTIDOS; Volu-
me 2 - ‘ESPAÇOSTEMPOS’ NOS COTIDIANOS
CURRICULARES; Volume 3: TECENDO NAR-
RATIVAS EM EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE; Vo-
lume 4: NOVOS SABERES PARA A EDUCAÇÃO.
Este terceiro volume Tecendo narrativas em
educação e diversidade toma como matéria os
fios da memória e da experiência. Nele, os au-
tores narram, por diferentes vieses teóricos,
práticas que desenham currículos voltados
para uma sociedade multicultural e pluri-
étnica. Bordados são, assim, os caminhos e
preenchimentos de uma escola com cores
e nuanças de brasilidade. Nesse sentido, os
textos que se seguem expressam com suas
perspectivas alguns dos objetivos almejados
e perseguidos pelo programa. Se a narrativa
é o gênero primordial dos seres humanos,
e é por meio dela que nos constituímos e
que nos relacionamos com os outros, nada
melhor que dedicarmos um capítulo deste
livro, que trata dos 20 anos do programa
Salto para o Futuro, especialmente às nar-
rativas. Vale destacar que nos outros capí-
tulos as narrativas também dão o tom de
vários textos, o que evidencia a fragilidade
de algumas classificações que, no entanto,
se fizeram necessárias na organização de
uma obra. Aos leitores deixamos o desafio
de recompô-las!
No primeiro texto do terceiro volume desta
coletânea, Pedro Benjamim Garcia3 analisa
a inter-relação entre literatura e identidade,
no contexto de rodas de leitura. Essa e outras
1 Supervisora pedagógica do programa Salto para o Futuro/TV Escola (MEC). Doutoranda no PROPED- UERJ.Organizadora da publicação.
2 Professora, escritora e revisora de textos do programa Salto para o Futuro/TV Escola (MEC). Organizadora e revisora da publicação.
3 Pedro Benjamim Garcia participou de inúmeros debates no programa Salto para o Futuro e foi consultor da série Oralidade, memória e formação, com veiculação no programa Salto para o Futuro/TV Escola (MEC) no ano de 2006.

6
experiências com oralidade e leitura estive-
ram presentes na série Oralidade, memória e
formação. No texto, o autor ressalta, em es-
pecial, as rodas com adultos alfabetizandos,
a partir de uma experiência realizada em um
curso supletivo noturno em um colégio da
Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ). No relato
dessa experiência gratificante, o autor res-
salta que: “No processo de realização das ro-
das de leitura, é possível incentivar a busca
de maior autonomia para pessoas que, em
uma sociedade grafocêntrica, não dominam
a leitura e vivem em condições adversas, em
uma metrópole como o Rio de Janeiro”. Pe-
dro Benjamim Garcia comenta, ainda, que:
“Nas experiências com rodas de leitura, bus-
co a ‘gratuidade’ da leitura, o ler pelo prazer
de ler, bem como o desejo, nem sempre ex-
plícito, de que esta atividade possibilite que
as pessoas falem e coloquem para fora suas
fantasias e necessidades”.
narcimária correia do Patrocínio Luz4 se
reporta à sua participação no programa Sal-
to para o Futuro e traz, em seu texto, “um
mosaico de ilustrações”, visando aproximar
o leitor de “reflexões importantes envol-
vendo nossas comunidades afro-brasileiras,
ajudando-nos a pensar as práticas escolares
institucionalizadas que calam sobre a identi-
dade profunda de crianças e jovens descen-
dentes de africanos/as”. Os relatos selecio-
nados ocorreram no âmbito do Programa
Descolonização e Educação – PRODESE, que
tem como proposta “promover linguagens
educativas que estabeleçam uma relação di-
nâmica entre os valores sociocomunitários
da tradição afro-brasileira e os códigos da
sociedade oficial, exigindo e assegurando,
nessa relação, o direito à identidade própria
da nossa população”. A autora destaca, em
especial, a primeira experiência de Educa-
ção Pluricultural no Brasil, conhecida como
Mini Comunidade Oba Biyi (1976-1986), que
promoveu com muito êxito a educação de
crianças e jovens vinculados a uma comuni-
dade afro-brasileira na Bahia, a Ilê Axé Opô
Afonjá.
azoilda Loretto da Trindade5 expõe e discute
inquietantes questionamentos, como este:
“O reconhecimento da diversidade como
foco, como base, não elimina as distorções
causadas pelas relações de dominação e de
hierarquização das diferenças. Reconhecer
as diferenças não significa respeitá-las, se-
quer saber ou querer aprender a lidar com
elas de modo dialógico e inclusivo”. Segun-
4 Narcimária Correia do Patrocínio Luz participou como autora de textos e debatedora das séries Oralidade, memória e formação e Currículo, relações raciais e cultura afro-brasileira, ambas com veiculação no programa Salto para o Futuro/TV Escola (MEC) no ano de 2006.
5 Azoilda Loretto da Trindade foi consultora da série Multiculturalismo e educação (2002) e do documentário Africanidades brasileiras e educação, com veiculação no programa Salto para o Futuro/TV Escola (MEC) no ano de 2008. A autora participou ainda de inúmeros debates, em especial, nas séries envolvendo questões étnico-raciais nos currículos..

7
do a autora, seu texto “se configura num
bornal – com algumas cenas, lembranças,
reflexões que foram constituindo uma tra-
jetória de uma educadora imersa nas ques-
tões da multiculturalidade, em diálogo com
vários campos de conhecimento, sobretudo,
no caso deste texto, relacionados à educa-
ção e à televisão”. Neste “bornal”, Azoilda
Trindade traz questões abordadas no pro-
grama Salto para o Futuro e apresenta múl-
tiplas discussões sobre os temas multicul-
turalismo, diversidade, interculturalidade,
pluralidade, apontando para a necessidade
de “compreender a nossa humanidade tão
ampla e tão diversa que, hoje, parece ter
uma visibilidade questionadora, que grita e
afirma diferenças, singularidades, coletivi-
dades, muitas vezes silenciadas, ocultadas,
invisibilizadas”.
carlos Rodrigues Brandão6 e alessandra
Fonseca Leal abordam a temática da cul-
tura popular e do patrimônio cultural imate-
rial numa dimensão sociopolítica, tendo em
vista que “o reconhecimento da existência
e da pluralidade de culturas populares vem
associado ao reconhecimento – sob as mais
divergentes interpretações – de que tal fato
se deve a desníveis sociais que acompanham
a própria trajetória das sociedades auto-
proclamadas como civilizadas”. Os autores
reportam-se aos estudos dos primeiros fol-
cloristas, como Cecília Meireles, Mário de
Andrade, Câmara Cascudo e Alceu Maynard
de Araújo, que com as suas pesquisas pio-
neiras mostraram as criações culturais de
diversas regiões do Brasil. Discutem, ainda,
os movimentos de cultura popular dos anos
1960, como as experiências inovadoras de
educação, o alvorecer do cinema novo no
Brasil, o teatro do oprimido e as iniciativas
dos centros populares de cultura. Com muita
propriedade, também criticam a invasão da
mídia e da “massa” sobre as qualidades ar-
tísticas tradicionais das culturas populares e
preconizam a necessidade da “construção de
vias de mão dupla nas relações entre a escola
(dentro e fora da sala de aula) e as culturas
populares (dentro e fora das escolas). Esses
temas sobre cultura popular e patrimônio
imaterial e alguns outros como a educação
ambiental estiveram presentes em debates
no programa Salto para o Futuro.
Eleonora Gabriel7 relembra suas diversas
participações no Salto para o Futuro, salien-
tando sua alegria por ter tido a oportunida-
de de falar das “expressões multiculturais
6 Carlos Rodrigues Brandão foi consultor do documentário Cultura popular e educação, com veiculação no programa Salto para o Futuro/TV Escola (MEC) no ano de 2007, tendo ainda contribuído com entrevistas e depoimentos em outras oportunidades.
7 Eleonora Gabriel foi consultora da série Linguagens artísticas da cultura popular, com veiculação no programa Salto para o Futuro/TV Escola (MEC) em 2005. Participou também de séries voltadas para as diversas expressões artísticas da cultura brasileira, em especial a dança.

8
que colorem os jeitos de ser, pensar e agir
do povo brasileiro”. Ressalta, ainda, “a ne-
cessidade de falar de inclusão, de diversida-
de, de educar para a diferença (...) abrindo
as possibilidades de trançar arte e cultura
popular na educação, pensando em identi-
dades e cidadania brasileiras”. Entre outras
reflexões, a autora comenta: “Difícil saber
quem somos se não aprendemos na escola
o valor cultural e artístico de nossa forma-
ção, que reuniu, e continua reunindo, vá-
rios jeitos, conhecimentos e modos de fazer.
Somos no plural, precisamos cada vez mais
criar modos de educar para a diferença, para
a diversidade de nossa vida, nossa família,
nossos alunos, nossa escola, nossa cidade,
nosso estado e país”.
ana Waleska P. c. Mendonça8 em forma de
depoimento, comenta sobre os desafios de
produzir um texto que teve como proposta
resgatar a memória dos 20 anos do progra-
ma Salto para o Futuro. Ela se reporta às
séries e especiais de que participou, como
educadora e historiadora, e sobre sua grati-
ficante experiência atuando como consulto-
ra na edição especial Educação no Brasil: dos
jesuítas ao ano 2000: “Foi interessante viven-
ciar essas etapas tão diferentes da elabora-
ção do programa: as longas horas de grava-
ção e, depois, a montagem, o que implica
selecionar e recortar, com base em critérios
diversificados e de ordem igualmente muito
diferenciada. Estes têm a ver com a estética
do programa, com a sua coerência interna,
com os objetivos que se quer atingir, com
o(s) público(s) a que o programa se dirige
(...). A experiência se constituiu para mim,
sem dúvida, numa significativa aprendiza-
gem”. A autora ressalta, ainda, a importân-
cia da participação de “uma historiadora da
educação, que tem por ofício a reconstrução
incessante do passado, num programa que
se intitula Salto para o Futuro”.
As organizadoras
8 Ana Waleska P. C. Mendonça foi consultora do documentário Educação no Brasil: dos jesuítas ao ano 2000, com veiculação no Salto para o Futuro, no ano de 2000. Como debatedora, participou de diversas séries do Salto, citadas no início de seu texto.

9
3. 1 lIterAturA e IDentIDADe: teCenDo nArrAtIVAs em roDAs De leIturA
Pedro Benjamim Garcia9
aPRESEnTaçãO: RODaS DE LEiTuRa E FORMaçãO
A educação busca formar pessoas. Mas... o
que é formar? Fala-se em formação com o
pressuposto de que o seu significado é idên-
tico para todos, o que nem sempre é o caso,
tendo em vista que trabalhamos com valo-
res, área pantano-
sa onde o consenso
passa longe. Talvez
se possa afirmar
que, quando fala-
mos em Educação, é
a transformação que
buscamos, transfor-
mação que não está
isenta de conformis-
mo e deformação.
Como educador, busco a autonomia do edu-
cando. A pedagogia desta proposta se ex-
plicita – no meu caso – em roda de leitura.
Através desta experiência busco ligar sujeito
e conhecimento, o que significa que o sujei-
to não está apartado da construção do co-
nhecimento que nasce do coletivo (no caso,
a roda, onde o saber circula). Para que essa
construção de conhecimento se dê é neces-
sário ter a capacidade de escutar, dialogar e
negociar significados. Aprendizado possível
de ser realizado nas
rodas de leitura, que
privilegiam a escuta,
o diálogo e a negocia-
ção de significados.
Escuta porque tenho
que ouvir o que o
outro (ou os outros)
têm a dizer; diálogo
porque, reagindo a essa fala, coloco minha
opinião sobre o que está sendo debatido; ne-
gociação de sentido, porque nem sempre há
consenso acerca dos temas que estão sendo
tratados, podendo-se chegar a um denomi-
nador comum – em alguns casos por mútuas
concessões – ou à manutenção da divergên-
9 Professor do Mestrado em Educação da Universidade Católica de Petrópolis. Formado em Filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ; mestre em Educação pela PUC/RJ e doutor em Antropologia Social (Museu Nacional/UFRJ). Pesquisador do CNPq, desenvolve trabalhos ligados à formação do leitor na universidade e em favelas do Rio de Janeiro.
Como educador, busco a
autonomia do educando. A
pedagogia desta proposta
se explicita – no meu caso –
em roda de leitura.

10
cia (cada um mantendo o seu ponto de vista,
antagônico ao do outro ou outros).
Esta é uma experiência muito gratifican-
te, tanto para quem dela participa quanto
para o leitor-guia que anima o processo de
conhecimento, como expressa uma profes-
sora: “É preciso que nós, educadores, pro-
porcionemos aos nossos alunos um contato
prazeroso com a escrita e leitura, para que
elas possam se constituir numa fonte de in-
formação, prazer e reflexão. Nesse sentido,
o curso representou mais um passo para
que (re)descobríssemos o mundo da leitura
e por ele nos apaixonássemos”.
Foi a partir dessa mesma perspectiva que,
ao ser convidado para a consultoria da série
Oralidade, memória e formação (2006), no pro-
grama Salto para o Futuro, apresentei a pro-
posta dos programas, que tiveram como fio
condutor a oralidade e a memória, em suas
diversas dimensões: cultural, social e históri-
ca. Os artigos escritos para esta série foram
retomados no livro Educação e identidade: for-
mação, oralidade e memória, organizado por
mim e por Maurício Castanheira (2007).
Das experiências que tenho desenvolvido com
rodas de leitura, destaco neste texto uma par-
ticularmente significativa por se tratar de um
público de adultos alfabetizandos, oriundos de
uma cultura eminentemente oral.
1. inTRODuçãO
Neste texto, analiso a inter-relação entre li-
teratura e identidade10, no contexto de rodas
de leitura11 com adultos alfabetizandos, a
10 Segundo Andre Green (GREEN apud STRAUSS, 1981. p. 88), várias ideias se agrupam em torno do termo identidade. Em primeiro lugar, a identidade está ligada à noção de permanência que escapa às mudanças que possam afetar o sujeito no decorrer do tempo. Em segundo lugar, assegura a existência do que está separado, permitindo circunscrever a unidade, indispensável para se fazer distinções. Por último, a identidade é uma das relações possíveis entre dois elementos, através da qual se estabelece a semelhança absoluta que reina entre eles, permitindo reconhecê-los como idênticos. Estas três características são solidárias: constância, unidade e reconhecimento do mesmo.
Ainda em relação à identidade, Kobena Mercer afirma que a mesma “se transforma numa questão quando está em crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é movido pela experiência da dúvida e da incerteza” (MERCER apud HALL, 1999).
Segundo Stuart Hall, (...) foi a difusão do consumismo, seja como realidade, seja como sonho, que contribuiu para este ‘supermercado cultural’. Dentro do discurso de consumismo global, as diferenças e as distinções culturais que até então definiam a identidade, estão reduzidas a uma espécie de língua franca internacional ou de moeda global, à qual podem traduzir-se todas as tradições específicas e todas as identidades diferentes (HALL, 1999).
Esta tendência a uma homogeneização cultural, vinculada por um mercado global que invade a privacidade das casas através de aparatos de tevê, constrói um imaginário coletivo por meio de um chamado ao consumo que alcança quase toda a aldeia global.
11 Uma roda de leitura se caracteriza, como diz o nome, por um círculo ou semicírculo, reunindo um determinado número de pessoas em torno do leitor-guia.
O leitor-guia lê o texto em voz alta e, em geral, o distribui para que os participantes da roda acompanhem sua leitura. Dinamizar o grupo, fazer com que as pessoas se expressem e postulem, de forma aberta e dinâmica, suas questões, além de conhecimentos básicos em torno do que é lido, são qualidades que se espera do leitor-guia.
O número de participantes não deve ser tão reduzido que não permita uma variedade de opiniões, nem tão extenso que se perca a possibilidade de distinguir quem é quem.
O tempo de duração pode variar de uma a uma hora e meia, dividido entre a leitura e o debate; sendo uma hora, dez a quinze minutos de leitura me parece um tempo razoável, ficando os restantes 45 a 50 minutos para o debate.
O local deve ser fechado, espaçoso, despojado e silencioso.

11
partir de uma experiência realizada em um
curso supletivo noturno em um colégio da
Zona Sul do Rio de Janeiro.
Nesse curso, as rodas de leitura foram re-
alizadas durante um semestre, duas vezes
por semana (segundas e quartas-feiras),
das 18h30min às 19h30min, com cerca de
20 alunos, dos quais doze (4 homens e 8
mulheres) permaneceram do início ao fim,
sendo que os demais apareciam esporadi-
camente.
As mulheres participantes eram, em sua
maioria, empregadas domésticas, sendo
uma governante e outra manicure; os ho-
mens eram faxineiros e porteiros de edifício,
sendo um biscateiro e um outro com ativi-
dade desconhecida.
Exceto uma das mulheres, todos eram nor-
destinos. Este evento – realizado antes do
início das aulas – não fazia parte do currícu-
lo do colégio, sendo gratuito e de presença
não obrigatória.
A proposta de realizar estas rodas de leitura
partiu do meu interesse em tentar compre-
ender a inter-relação da leitura literária com
a formação do leitor e, consequentemente,
com a sua identidade.
No contato com o colégio, fiz questão de
desvincular as rodas de leitura do aprendiza-
do escolar dos alfabetizandos. Isso porque,
no meu entender, a escola – com o seu saber
instituído – pouco explora a gratuidade do
saber e o imaginário dos alunos.
Apesar de esta desvinculação ter se concre-
tizado, o fato de a experiência ocorrer no
interior de uma instituição de ensino cau-
sou o estranhamento de um acontecimento
(rodas de leitura com textos literários) fora
do lugar (escola). Busquei o debate e a tro-
ca de ideias, tanto quanto possível, fora da
hierarquia professor/aluno, mas acabou se
impondo a imagem do professor e não do
leitor-guia (como eu desejava).
2. FORMaçãO DO LEiTOR E
iDEnTiDaDE
Na inter-relação entre leitura e formação do
leitor está implícita a construção da identi-
dade. Isso porque o processo de formação
do leitor incide na subjetividade de cada lei-
tor-ouvinte (que é o caso da roda de leitura,
onde se privilegia a leitura oral de um texto).
Exemplar, neste sentido, é a pesquisa de
Carlo Ginzburg: O queijo e os vermes – O co-
tidiano e as ideias de um moleiro perseguido
pela Inquisição. Chama a atenção, nessa in-
vestigação, como o moleiro Menocchio cria
uma cosmogonia a partir de suas leituras e
observações cotidianas. No caso – como res-
salta Ginzburg – o importante não é tanto o
que Menocchio lê, mas como lê, o que faz de
suas leituras e como as transforma em con-
vicções próprias. Em síntese, como ele é por
elas formado, como se transforma enquan-
to sujeito, vale dizer, como vai constituindo
sua identidade.

12
Nas rodas de leitura, busquei compreender
as redes de significados enunciados a partir
dos pontos de vista do outro, no caso, os alu-
nos adultos em processo de alfabetização.
Janaina Amado e Marieta de Moraes Ferreira,
na apresentação do livro que organizaram,
Usos e abusos da História Oral, chamam a
atenção para a possibilidade de a
(…) história oral esclarecer trajetórias
individuais, eventos ou processos que às
vezes não têm como ser entendidos ou
elucidados de outra forma; são depoi-
mentos de analfabetos, rebeldes, mulhe-
res, crianças, miseráveis, prisioneiros,
loucos... (FERREIRA; FIGUEIREDO, 1996,
p. XIV).
Parto do pressuposto de que as narrativas
são formas de autoria. Se existe capacidade
de narrar, de inventar, de projetar a imagina-
ção, existe reinvenção de si mesmo.
3. nOME PRóPRiO E iDEnTiDaDE
Iniciei o primeiro encontro com o “exercício
do nome”, que consiste em cada participan-
te contar a origem do seu nome. O objetivo
é fazer com que o alfabetizando, que che-
ga envergonhado ao curso de alfabetização,
diga quem é, de onde veio, a razão de se
chamar João, José, Teresa, Maria, Severino,
Isaura etc. Esta fala inicial possibilita que to-
dos comecem a se conhecer e a estabelecer,
entre si, um nível de sociabilidade.
Como quase todos têm baixa autoestima,
esta exposição e o intercâmbio de nomes
fazem com que os participantes da roda ini-
ciem um processo de reconhecimento mú-
tuo que os fortalece coletivamente.
As razões de cada um se chamar Y, X ou Z são
bastante variadas. Artista de cinema, santo
de devoção, jogador de futebol, nome do pai
ou da mãe são comuns como referência.
Ainda acerca do nome próprio, busco na li-
teratura a associação do nome com a identi-
dade, como no caso do poema “Morte e vida
severina”12, de João Cabral de Melo Neto,
em que o personagem busca, a partir do seu
nome, dizer quem é.
É interessante perceber, nos depoimentos, o
gostar e o não gostar do seu nome. E as ra-
zões são várias. Em alguns casos, o nome se
“encaixa” a quem assim se chama; em outros,
o nome estranho foi aos poucos assimilado
“e hoje, sim, eu gosto”. Há, também, aqueles
que rejeitam seu nome porque está associado
a uma pessoa desagradável ou porque não lhe
parece apropriado ao “seu jeito de ser”13.
12 Interessante, no início do conhecido poema de João Cabral, “Morte e vida Severina”, é a busca de identificação do seu personagem. Primeiramente pelo nome, que é a forma primeira e mais explícita de ser. Mas esta tentativa falha. E falha porque os severinos são iguais não apenas no nome, mas “em tudo na vida”. Diante disto só resta ao Severino do poema apontar-se a si mesmo como aquele que fala, distinguindo-se dos demais. É que a questão da identidade não é fácil. No caso de Severino é a busca de afirmar-se a si mesmo para o outro que o escuta – outro que é absolutamente necessário para a afirmação do eu.
13 Para falar do inconformismo quanto ao nome, indico o poema “A Antonin Artaud”, de Mário Cesariny (CESARINY, 1999, p. 50-51).

13
Seja como for, o nome é sempre um parâme-
tro significativo na identidade de cada um.
Não saber a origem do mesmo, como ocorre
com alguns poucos, pode ser significativo.
Este tipo de procedimento costuma desinibir
os mais tímidos, porque os relatos pessoais,
em função do lugar de origem e da classe
social, fazem com que as histórias tenham
muito em comum.
Posteriormente são lidos, nas rodas, textos
de ficção e poesia. Neles os participantes
encontram (ou pro-
duzem) pontes onde
encontram elemen-
tos de identificação
que lhes permitem
se posicionar em re-
lação ao que é lido.
Para que isto ocor-
ra, é importante o
desempenho do leitor-guia, que é quem lê
os textos. É ele quem anima o grupo, incen-
tivando o uso da palavra, fazendo perguntas
acerca do que foi lido e, quando solicitado,
dando explicações acerca do autor e do texto.
Em todo este processo de rodas de leitura
coloca-se a busca de maior autonomia para
pessoas que, em uma sociedade grafocêntri-
ca, não dominam a leitura e vivem em con-
dições adversas, em uma metrópole como o
Rio de Janeiro.
4. LEiTORES EM FORMaçãO
É possível incentivar a formação de leito-
res de camadas populares, em processo de
alfabetização, a partir da literatura? O al-
fabetizando, que tem um domínio precário
da leitura, “lê” através do outro, no caso, o
leitor-guia.
E aqui faço um parêntesis para lembrar de Jor-
ge Luis Borges falando da sua cegueira, em um
poema que reproduzo em seu início: “Nadie re-
baje a lágrima o reproche./ Esta declaración de
la maestria/ De Dios,
que com magnífica
ironia/ Me dio a la
vez los libros y la no-
che” (BORGES, 1977,
p. 119).
Alberto Manguel,
um dos leitores de
Borges cego, relata a
sua experiência:
Antes de encontrar Borges, eu lia em
silêncio, sozinho, ou alguém lia em voz
alta para mim um livro de minha esco-
lha. Ler para um cego era uma experiên-
cia curiosa, porque, embora com algum
esforço eu me sentisse no controle do
tom e do ritmo da leitura, era todavia
Borges, o ouvinte, quem se tornava o se-
nhor do texto. Eu era o motorista, mas a
paisagem, o espaço que se desenrolava,
pertenciam ao passageiro, para quem
É possível incentivar a
formação de leitores de
camadas populares, em
processo de alfabetização, a
partir da literatura?

14
não havia outra responsabilidade senão
a de apreender o campo visto das jane-
las. Borges escolhia o livro, Borges fazia-
me parar ou pedia que continuasse, Bor-
ges interrompia para comentar, Borges
permitia que as palavras chegassem até
ele. Eu era invisível.
E mais adiante:
(...) ler em voz alta para ele textos que
eu já lera antes modificava aquelas lei-
turas solitárias anteriores, alargava e
inundava minha lembrança dos textos,
fazia-me perceber o que não percebera
então, mas que agora parecia recordar,
sob o impulso da reação dele (MAN-
GUEL, 2004, p. 33).
Esta imagem de um cego ilustre, um dos
maiores escritores do século XX, apaixona-
do por livros, leitor voraz que perde a visão,
me veio à mente por causa do meu contato
com alfabetizandos que, frequentemente,
utilizam a metáfora da cegueira para falar
da sua pouca capacidade para ler.
De um lado Borges, alguém que leu intensa-
mente e procura olhos para seguir lendo; de
outro, os que buscam o universo da leitura de
forma tateante, como se a luz fosse escassa.
Imagino a emoção de ser leitor de Borges e
entendo porque, mesmo cego, era o escritor
(passageiro) que conduzia o motorista (lei-
tor), fazendo-o modificar suas “leituras soli-
tárias anteriores”.
Busco na memória os leitores em processo
de alfabetização, para quem eu lia textos
em rodas de leitura, tentando estabelecer
conexões com a experiência de Manguel.
Se nesta relação o poder (de condução) es-
tava com Borges, na minha experiência era
eu que conduzia a leitura. Conduzia como
quem segura a bicicleta de um aprendiz que
necessita andar sozinho. Neste processo, a
habilidade de quem ensina é segurar a parte
traseira da bicicleta sem que o futuro ciclis-
ta, que olha para frente, perceba se o veículo
está (ou não) seguro por outras mãos.
Este processo não é linear. Há um segurar
e um soltar que depende da sensibilidade
de quem conduz o processo (o leitor-guia) e
da maior ou menor perícia do aprendiz que,
sem se dar conta, pouco a pouco vai assu-
mindo a condução do veículo, ou seja, vai
aprendendo a ler.
Busco que o outro se forme como leitor (con-
dutor), utilizando a literatura para incentivar
o seu desejo de ler e possibilitando, desta for-
ma, que adquira o gosto pela leitura.
Mas qual o ponto em comum e a diferen-
ça entre sujeitos tão discrepantes: Borges e
meus leitores em processo de formação?
Ambos leem através de um outro. A dife-
rença é que Borges já percorreu inúmeras
vezes o caminho da leitura, sabe as trilhas,
embora não mais possa percorrê-las sozi-
nho; enquanto os “meus” leitores, embora

15
disponham de olhos para ler, decodificam
precariamente o que veem. Por isso Borges,
senhor sem olhos, pode fazer correções, im-
por ritmos, sugerir interpretações. Em cer-
to sentido, instruir aquele que lê, porque já
sabe os meandros da leitura.
Minha intenção era fazê-los adquirir quali-
dades borgeanas de corrigir, impor ritmo e
interpretar. Objetivo ambicioso que vale a
pena perseguir mesmo sabendo, como dis-
se Borges – e eu cito de memória – que “os
bons leitores são cisnes ainda mais negros e
singulares do que os bons autores”.
Em um caso e outro, seja o leitor-guia ou o
leitor guiado, aquele que lê é, quase sem-
pre, um leitor apaixonado por determinados
textos. E são esses textos que em geral lê,
buscando passar para o outro a sua própria
emoção. O que não significa que terá êxito.
Mas é, digamos, condição mínima para que
tenha algum sucesso.
E nesta relação entre motorista e passagei-
ro, para usar a metáfora de Manguel, as tro-
cas se sucedem.
5. Da LEiTuRa E DO iMaGináRiO
Imaginário é um termo que abrange inúme-
ras definições, seja no campo da Filosofia,
seja na área da Psicologia. No que concerne
a este texto, seu entendimento está restrito
à forma como cada um interpreta as narra-
tivas, os acontecimentos cotidianos e a sua
própria maneira de ser e atuar, apontando
para o imprevisível, explicando o improvável
e antecipando o porvir.
Nas experiências com rodas de leitura, bus-
co a gratuidade da leitura, o ler pelo prazer
de ler, bem como o desejo, nem sempre ex-
plícito, de que esta atividade possibilite que
as pessoas falem e coloquem para fora suas
fantasias e necessidades. Enfim, o desejo da
emergência da fala produzindo autoestima
pela reconstituição de uma identidade frag-
mentada: de um lado, a negação de si intro-
jetada socialmente e, de outro, a busca de
um eu a ser reconstruído. Ilustrativo desse
processo de reconstrução do eu é a disser-
tação de Maria do Socorro Martins Calhau,
que coloca em primeiro plano a questão da
identidade em um trabalho de alfabetização
com operários da construção civil. A mudan-
ça do comportamento desses operários no
decorrer do curso, visível no cuidado com a
higiene pessoal e no vestir, ficou mais evi-
dente quando um deles sentenciou: “Eu tô
virando outro” (CALHAU, 1994, p. 52).
Esta transformação, quando ocorre, é lenta
e se processa no decorrer da experiência. A
conquista da fala é a conquista primeira. De
início, diziam que não sabiam falar ou que o
que falavam não tinha importância. Pouco
a pouco foram se desinibindo e, a partir dos
textos lidos em voz alta, faziam comentários
e passavam a contar histórias.

16
E aqui é interessante nos reportarmos ao co-
nhecido texto de Walter Benjamin, “O narra-
dor”, em que ele afirma:
Cada vez mais rara vai se tornando a pos-
sibilidade de encontrarmos alguém ver-
dadeiramente capaz de historiar algum
evento. Quando se faz ouvir num círculo o
desejo de que seja narrada uma historieta
qualquer, transparecem, com frequência
cada vez maior, a hesitação e o embaraço.
É como se nos tivessem tirado um poder
que parecia inato, a mais segura de todas
as coisas seguras, a capacidade de tro-
carmos pela palavra experiências vividas.
Uma das causas desta situação é óbvia: as
experiências perderam muito do seu valor.
E parecem que assim continuam perdendo
(BENJAMIN, 1993, p. 197).
Walter Benjamin nos fala do desgaste nas
relações humanas pela falta de intercâmbio
das experiências vividas. Se isto ocorre no
cotidiano, o mesmo não ocorria nas rodas
de leitura. Nelas, pelo menos na experiên-
cia que estou narrando, os alfabetizandos
falavam de si mesmos e contavam casos,
estimulados pelas histórias da própria roda.
Histórias das quais, inicialmente, eles des-
confiavam, questionando o sentido das mes-
mas. Como na pergunta de Júlio: “Isso está
servindo para alguma coisa? Tá dando certo?
Se depender de mim vai ser ruim” (MACHA-
DO, 1999, p. 67). É como se ele delegasse ao
leitor-guia a avaliação do significado desta
experiência. Penso que imaginava que algo
tão trivial quanto contar histórias deveria
resultar em nada. Muito menos se depen-
desse dele, que afirmava “não dar muito pra
essas coisas de contar história” e só estava
ali “pra aprender alguma coisa”.
No entanto, Júlio permaneceu no grupo até o
final e contava histórias, como a que segue:
As histórias da gente é negócio de pesca.
Porque lá onde eu morava era mais de
pesca. Eu sou da Paraíba, mas fica perto
de Cabideiro, tudo litoral de praia. Eles
contavam histórias. Mas era... Era histó-
ria de lobisomem, histórias de pescador.
A gente saía às duas horas, tá entenden-
do, e aí no caminho ia sempre contan-
do. Passava em frente ao cemitério, e a
gente contava muitas histórias, mas eu
não me lembro. Eles inventavam, men-
tia só pra fazer medo na gente. Pescador
antigo sabia que a gente tinha medo de
passar no cemitério. No mar às vezes o
barco virava, a gente tinha que arrumar
a corda. Um sofrimento danado. Eu era
pescador e tirador de coco. Lá tem um
proprietário dos coqueiros e aí vem um
operário pra tirar o coco e dá um real
para cada pé de coqueiro. Às vezes fica
um de cabeça pra baixo e tem que ir um
lá tirar (MACHADO, 1999, p. 67).
É importante frisar que quase todos con-
tavam histórias, e alguns muito bem, com

17
detalhes, com humor, dando vida aos per-
sonagens.
Superado o momento do uso espontâneo da
fala, é importante focalizar o como se fala.
Aí também está presente a questão do po-
der, da discriminação, que se evidencia tan-
to na pronúncia, que indica a proveniência
regional, quanto no ziguezague, de idas e
vindas e repetições, que muitas vezes ocorre
na fala popular. A reprimenda de D. Quixote
a Sancho é, neste sentido, exemplar:
Se dessa maneira contas teu conto, San-
cho, repetindo duas vezes, não acaba-
rás em dois dias; conta seguidamente, e
conta-o como homem de entendimento,
e se assim não for, não digas nada (CER-
VANTES apud FRAGO, 1993, p. 20).
Sancho acaba impondo a sua maneira de
contar, que é a única que conhece e difere
da fala de D. Quixote, próxima da legitimida-
de da norma culta.
Esta questão de poder, que se manifesta
através da fala, do que se fala e do como se
fala, pode sofrer discriminação dentro do
próprio grupo de alunos de origem nordes-
tina. O sotaque, que indica a proveniência
regional, no caso o Nordeste, é rejeitado e
substituído – até onde é possível – pelo jeito
carioca de falar.
Antônia explicita isto de forma clara, drama-
tizando: “Quando volto à minha terra ouço:
‘Ontonha’. Então tenho que dizer: não é On-
tonha, é Antônia” (MACHADO, 1999, p. 47-
48). O grupo ri, acha engraçado e entende a
diferença. Diferença de quem “conquistou o
Sul”, “sabe o seu lugar”, e não permite que
Ontonha substitua Antônia.
Ela não escondia o seu lugar de origem, mas
buscava evidenciar a conquista de uma po-
sição que a diferenciava dos que permane-
ceram em sua terra natal. O fato de traba-
lhar como doméstica na casa de uma família
abastada reforçava o seu status. Como pare-
cia herdar as roupas da patroa, apresentan-
do-se como alguém de classe média, a mu-
dança ficava ainda mais ressaltada.
O “não saber falar” expressa uma diferença
percebida pelas pessoas das camadas popu-
lares em relação a um outro que “sabe fa-
lar” porque detém a fala legítima. Como não
têm esta competência, sentem-se inferiori-
zadas e calam-se.
Júlio, que veio para o Rio de Janeiro aos 21
anos, dizia não sentir saudade de sua terra.
Achava que era “mil vezes melhor” sua vida
atual. Lá, dizia ele, continuaria “pescando e
tirando coco”. Em certo sentido compara a
mesmice de algo que se repete e “não tem
futuro” com a dinâmica da grande cidade
que, com todas suas mazelas, oferece a pos-
sibilidade de “melhorar” de vida.
Um dia, brincando com Júlio, perguntei se
suas histórias eram de “pescador”. Histórias

18
de pescador, aqui no Brasil e não sei se em
outros lugares do mundo, são tidas como
mentirosas. Em geral, é voz corrente dizer
que contam “vantagens”, aumentando os
fatos, seja em relação ao que pescaram ou
a aventuras que tenham passado no mar.
Respondeu que não, que eram histórias ver-
dadeiras.
Embora se esquivasse de contar histórias,
apontando para outra pessoa do grupo, Jú-
lio acabou contando várias (como a narra-
da anteriormente). Não só contava como
lia e, no final do curso, comentou: “Quando
eu peguei o hábito de ler, eu não parei mais
não. Todo o dia eu tô lendo alguma coisa”
(MACHADO, 1999, p. 69).
6. HiSTóRiaS vERDaDEiRaS
PORquE invEnTaDaS
Guimarães Rosa, em A hora e a vez de Augus-
to Matraga, afirma que a sua história não
contém mentiras porque é tudo invenção.
Inventar, neste sentido, se torna algo emi-
nentemente criativo.
Uma observação que registrei, nesta expe-
riência, foi a forma como as pessoas origi-
nárias do Nordeste tratavam as histórias
passadas em áreas rural e urbana. Na área
rural, o mágico, a oralidade; na área urbana,
a escrita, a racionalidade. Ou, como sinteti-
za Paul Zumthor: “as cidades são filhas da
escrita” (ZUMTHOR, 1993, p. 91). Escrita que
a escola ensina e tem pouco ou nenhum es-
paço para o sobrenatural, o mágico, o que
foge à racionalidade, ao pragmático.
Quebrada a resistência inicial, as histórias
da terra de origem surgiram em profusão,
como neste exemplo:
Eu morava no Norte com os meus pais.
À noite, um dia, eu e minha irmã ouvi-
mos um barulho, quando abrimos a por-
ta para ver o que era, não vimos nada.
Quando nós acordamos, no dia seguinte,
os bichos estavam amarrados ou ma-
chucados e ninguém sabia explicar o que
tinha acontecido. Todo mundo fala lá no
Norte que foi o lobisomem que fez isso.
Meu pai fez uma armadilha e viu o lobi-
somem. Há pouco tempo atrás liguei pra
minha terra pra saber notícias. Meu pai
falou que o lobisomem estava preso. Ele
me disse que era metade homem, me-
tade bicho. Uma coisa horrorosa. (MA-
CHADO, 1999, p. 72).
Esta história foi ouvida por todos e ninguém
demonstrou incredulidade. Pelo contrário, ou-
tros se apressaram a contar casos sobrenatu-
rais. Luzia também contou o seu, mas fez uma
ressalva: “isso acontece muito é no interior, eu
acho que aqui na cidade grande não tem essas
coisas não” (MACHADO, 1999, p. 72).
Distinguindo o que ocorria no campo e na ci-
dade, Luzia mantinha as suas crenças e não
desdenhava os acontecimentos do passado.

19
7. HiSTóRia LiDa E HiSTóRia
cOnTaDa
Das rodas de leitura participavam, de vez
em quando, escritores e contadores de his-
tórias. Líamos os textos do autor convidado,
o que despertava, nos participantes da roda,
a curiosidade de como produziam seus tex-
tos, detalhes de situações e personagens, se
o fato narrado era verídico etc.
O contador de histórias era muito apreciado
pelo grupo. Segundo o depoimento de um
deles: “Ele fala como se tivesse acontecido
de verdade. Se a gente parar pra pensar, até
chora” (MACHADO, 1999, p. 78).
Paul Zumthor fala desta diferença:
(...) Quando um poeta ou seu intérpre-
te canta ou recita (seja o texto impro-
visado, seja memorizado), sua voz, por
si só, lhe confere autoridade. O prestígio
da tradição, certamente contribui para
valorizá-lo; mas o que o integra nesta
tradição é a ação da voz. Se o poeta ou
intérprete, ao contrário, lê num livro o
que os ouvintes escutam, a autoridade
provém do livro como tal, objeto visu-
almente percebido no centro do espe-
táculo performático; a escritura, com
os valores que ela significa e mantém,
pertence explicitamente à performance.
No canto ou na recitação, mesmo se o
texto declamado foi composto por es-
crito, a escritura permanece escondida
(ZUMTHOR, 1993, p. 91).
É interessante perceber o comportamento
diferenciado dos alunos, na performance do
contador e na leitura em voz alta de um tex-
to escrito. No primeiro caso, se a experiên-
cia é bem sucedida, todos olham fascinados
para quem conta, como que se perdendo,
se enredando na narrativa; já na leitura, por
mais interessante que seja, o envolvimento
é menor. Pode-se observar, nesta situação,
os ouvintes se permitindo gestos paralelos,
como abrir cadernos, cochichar algo ao ou-
vido do colega, dar um bocejo etc.
Outra diferença importante é que, no pri-
meiro caso, o contador é “dono” da história,
ele é o depositário dela, em vez do livro. Ele
cria um momento único, como em qual-
quer espetáculo teatral. Já a história do livro
está contida em um texto escrito e, por esta
razão, pode ser apropriada a qualquer mo-
mento. O livro entesoura a história. Neste
sentido, mesmo quem ainda não domina a
leitura pode tê-la em mãos.
Acerca da importância da posse do livro sem
o conhecimento da leitura, lembro de um
trabalho de Elaine Monteiro com crianças
em situação de rua. Há uma passagem em
que ela contava a história de “João e Maria”
– uma história de rejeição dos filhos pelos
pais, em função da miséria em que viviam –
quando uma delas pediu o livro emprestado.

20
Justificou que ali estava a história da sua vida
e que, embora não soubesse ler, um dia iria
aprender para saber melhor de si mesma.
8. O LivRO SaGRaDO
Reverência pelo texto escrito no livro de-
monstrou Sebastião, que pouco frequenta-
va as rodas de leitura. Sendo evangélico, a
verdade, para ele, adivinha do livro, e justi-
ficava:
Eu acho importante o livro. Eu aprendi
assim se eu for pronunciar uma palavra,
digamos, se o senhor me corrigir, tudo
bem, vou falar: escreve aí pra mim o cer-
to que eu vou conferir no livro. Não é in-
formação certa, é falar o que está escri-
to. É uma garantia, é uma defesa. Eu sou
evangélico. Um dia, na Escola Bíblica, a
professora fez uma pergunta e muitos
alunos não sabiam responder. E um ra-
paz respondia e aí eu gravei a pergun-
ta, e aí eu fui procurar no dicionário. E
estava errado. E aí eu fui perguntar pro
professor e ele falou que estava errado.
Por quê? Porque está escrito (MACHA-
DO, 1999, p. 80).
Sebastião, como religioso, buscava a verda-
de contida no livro sagrado, a Bíblia, razão
mais do que suficiente para ele privilegiar o
escrito. Neste sentido, ao comparar o escri-
to com a performance do contador, preferia
o texto lido, “que é uma garantia, uma defe-
sa” contra a livre fantasia:
Pelo meu modo de pensar, a pessoa lendo
uma história eu acho mais interessante.
Assim contando eu não sei se ela inven-
tou ali na hora. Eu acho que você lendo
ali na hora a gente entende melhor. Ela
tá lendo o que está escrito. Inventar é di-
ferente. Não é interessante, digamos, o
senhor conta e eu vou gravar, aí eu che-
go num ambiente que alguém conhece
aquela história e aí ele fala isso aqui não
tá no livro não. Aí eu vou ficar mal. No
livro você realmente vai mostrar o jeito
da coisa (MACHADO, 1999, p. 81).
Este leitor endurecido por um preceito de
verdade nada concebia fora do escrito. For-
mação religiosa rígida? Para Sebastião, num
certo sentido, todo o texto tinha uma aura
de sacralidade que a oralidade não pode ex-
pressar. Isto talvez explicasse o absenteísmo
de Sebastião à “roda de leitura”. Como nos
relatou no final desta experiência, sua ex-
pectativa era outra:
Muitos alunos, eles pensam que nem eu
pensei no primeiro dia, eles pensaram
que chegando aqui, cada um ia ler um
livro, tá entendendo? Aquela participa-
ção mais importante. Aí, então eu disse
é ótimo porque é um teste de leitura e
eu tenho dificuldade. Se eles vêm, eles
quer chegar aqui, e vocês como professo-
res, então vocês falam: lê aqui essa folha.
Porque na nossa sala nós temos teste de
leitura, a professora manda a gente trei-

21
nar a ler e então os alunos chega lá na
hora, ela chama todos os alunos. Ou lê
da cadeira ou senta do lado dela e lê. Isso
é muito importante. É isso que eles que-
rem, essa participação, chegar aqui e ou-
vir, eles acham que ouvindo sem ler não
é bom pra eles (MACHADO, 1999, p. 82).
Contrariamente a Sebastião, Luzia, que não
tinha o hábito de ler, entrou plenamente
nesta viagem:
Eu comprei um livro de Monteiro Lo-
bato, ‘A história do mundo’. Eu come-
cei a ler ontem à noite. Eu comprei lá
na Tijuca de um pessoal que vende nas
ruas. Eu tô até interessada em comprar
livro. Antes eu nem ligava pra isso. Ago-
ra não. Vocês contam as histórias e eu
saio correndo atrás da história. Falei
com a minha madrinha pra juntar livro
pra mim. Eu não tinha esse interesse.
Agora eu tenho. Eu tava na Tijuca e vi
esse pessoal que vende livros na rua,
e então eu tava num ponto de ônibus,
atravessei a rua pra poder comprar um
livro, pra ver se tinha um livro de his-
tória interessante. Mas tava chovendo,
não deu tempo de escolher muito. Eu
comprei o primeiro que eu vi na frente
(MACHADO, 1999, p. 62).
Nós, que começamos este trabalho sem sa-
ber muito bem qual seria o ponto de che-
gada, concluímos que ele foi bem sucedido.
Se inicialmente os alunos não falavam, por-
que “não sabiam contar histórias”, aos pou-
cos foram revelando suas vidas e, puxando
pela memória, histórias que conheciam. O
desvelamento da origem de seus nomes, a
identificação dos lugares onde nasceram,
o porquê de vir para o Rio, seus amores e
desamores, caminhos e descaminhos pos-
sibilitaram que assumissem uma maior es-
pontaneidade, dando margem a um estrei-
tamento de relações de amizade, através de
afinidades comuns com os companheiros de
estrada. E, mais que tudo, tomaram gosto
pelo livro, pela leitura, como foram os casos
mais evidentes de Luzia e Júlio. Enfim, se é
lícito concluir desta forma uma pesquisa: foi
um final feliz.
Palavras-chave: literatura, identidade, ro-
das de leitura, formação do leitor.
REFERênciaS
BENJAMIN, W. Obras escolhidas (Magia e Téc-
nica, Arte e Política). São Paulo: Brasiliense,
1993. p. 197.
BORGES, J. L. Obra poética (1923/1977). Bue-
nos Aires: Alianza Três/Emecé, 1977. p. 119.
CALHAU, M. S. M. Eu tô virando outro. Dis-
sertação (Mestrado em Educação). Rio de Ja-
neiro: Faculdade de Educação/Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de Janeiro, 1994.

22
CERVANTES, M. apud FRAGO, A. V. Alfabetiza-
ção na sociedade e na História. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1993. p. 20.
CESARINY, M. A Antonin Artaud. In: Pena Ca-
pital. Lisboa: Assírio & Alvim, 1999. p. 50-51.
FERREIRA, M. M. e FIGUEIREDO, Janaína P.
Amado Baptista de. (orgs.). Usos & abusos da
História Oral. Rio de Janeiro: Fundação Getu-
lio Vargas, 1996. p. XIV e XV.
GARCIA, Pedro Benjamim e CASTANHEIRA,
Maurício (orgs.). Educação e identidade: for-
mação, oralidade e memória. Rio de Janeiro:
Publit Soluções Editoriais, 2007.
GINZBURG, C. O queijo e os vermes – O co-
tidiano e as idéias de um moleiro perseguido
pela Inquisição. São Paulo: Companhia das
Letras, 1987.
GREEN, A. apud LÉVI-STRAUSS, Claude (org.).
Atomo de parentesco y relaciones edificas. In: La
identidad. Barcelona: Petrel, 1981. p. 87-117.
MACHADO, D. A leitura oral coletiva: Uma co-
munidade de leitores. Dissertação (Mestrado
em Educação). Rio de Janeiro: Faculdade de
Educação/Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro, 1999.
MANGUEL, A. Uma história da leitura. São
Paulo: Companhia das Letras, 2004. p. 33.
MELLO NETO, J. C. Morte e vida severina. In:
Serial e antes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1997. p. 145-6.
MERCER, K. apud HALL, S. A identidade cul-
tural na pós-modernidade. Rio de Janeiro:
DP&A, 1999.
MONTEIRO, E. Lendo com a boca e com o pen-
samento: a Oficina de Literatura como possibi-
lidade de diálogo com crianças e adolescentes
em situação de rua. Dissertação (Mestrado
em Educação). Rio de Janeiro: Faculdade de
Educação/ Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro, 1995.
ROSA, J. G. A hora e a vez de Augusto Matra-
ga. In: Sagarana. Rio de Janeiro: José Olym-
pio, 1958. p. 358.
ZUMTHOR, P. A letra e a voz. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 1993. p. 91 e 114.

23
3. 2 entre A Dor De não poDer ser e A ConQuIstA DA AleGrIA De ser
Para atender às expectativas das crianças e jovens integrantes de uma comunidade de
tradições culturais afro-brasileiras, e que se sentiam rejeitadas pelas escolas do sistema
oficial de ensino, constituiu-se um novo “continente pedagógico” que iria caracterizar
o projeto educacional Mini Comunidade Oba Biyi. O caminho indicado na primeira me-
tade do século passado por Mãe Aninha, Iyalorixá Oba Biyi, de ver as crianças da co-
munidade no dia de amanhã ‘de anel no dedo e aos pés de Xangô’, inspirou a trajetória
de nascimento de uma nova linguagem educacional. Fundou-se um espaço pedagógico
assentado na recriação das linguagens e nos valores da comunidade. Da tradição, nas-
ceu o novo; gerado na criação de um novo currículo, uma nova forma de aprendizagem.
(...) A cultura que guarda o saber da tradição comunitária passa a ocupar o centro da
experiência educacional (…) (Marco Aurélio Luz)
Narcimária Correia do Patrocínio Luz14
inTRODuçãO
Este texto mostra o resultado de algumas
contribuições que tive a satisfação de apre-
sentar para integrar a história do programa
Salto para o Futuro, um espaço comunica-
cional singular que atravessa vários can-
tos do Brasil, permitindo aos professores e
professoras o acesso às questões urgentes
e necessárias para fazer circular vida nas
escolas.
Nossa participação no Salto para o Futuro15
carregou inquietações e proposições, des-
dobramentos de linguagens criativas e ori-
ginais, capazes de inundar o cotidiano das
14 Professora Titular Plena do Departamento de Educação do Campus I da Universidade do Estado da Bahia-UNEB; Doutorado em Educação; Pós-Doutorado em Comunicação e Cultura; pesquisadora no campo da Diversidade Cultural e Educação; coordenadora do PRODESE- Programa Descolonização e Educação e do projeto Dayó: afirmando a alegria socioexistencial em comunalidades africano-brasileiras, indicado como semifinalista entre os vinte melhores projetos da 8ª Edição do Prêmio ITAÚ UNICEF 2009 no conjunto de 1.917 projetos inscritos no Brasil. O projeto DAYÓ se realiza na Associação Crianças Raízes do Abaeté em Itapuã, Salvador, Bahia.
15 http://www.tvbrasil.org.br/saltoparaofuturo /. Cf. artigo do programa temático Currículo Relações Raciais e Cultura afro-brasileira: África Viva e Transcendente! no Boletim eletrônico do Salto http://www.tvbrasil.org.br/fotos/salto/series/175527Relraciais.pdf. Cf. artigo do programa temático Oralidade Memória e Formação - No Tempo em que os seres humanos conversavam com as Árvores: http://www.tvbrasil.org.br/fotos/salto/series/212454Oralidade.pdf

24
escolas com as vidas que caracterizam as
comunidades afro-brasileiras.
Os diálogos que estabeleci com outros/as co-
legas nos programas temáticos ainda têm re-
percussão nacional e sua importância é reco-
nhecida nas mudanças de comportamento e
/ou concepções que muitos/as telespectado-
res/as revelam quando me reconhecem nas
ruas, aproveitando para comentar, elogiar e
sugerir novas questões.
Para essa publicação comemorativa dos vin-
te anos do Salto para o Futuro, trago um mo-
saico de ilustrações que irão nos aproximar
de reflexões importantes envolvendo nossas
comunidades afro-brasileiras, ajudando-nos
a pensar as práticas escolares instituciona-
lizadas que calam sobre a identidade pro-
funda de crianças e jovens descendentes de
africanos/as.
Vou aqui destacar três dos muitos relatos
que tive a oportunidade de acompanhar de
perto e que chegaram ao meu conhecimen-
to através de professores/as, pesquisadores/
as do Programa Descolonização e Educação
– PRODESE, grupo de pesquisa que coorde-
no no Departamento de Educação do Cam-
pus I da Universidade do Estado da Bahia. A
proposição do PRODESE na área de Educa-
ção é promover linguagens educativas que
estabeleçam uma relação dinâmica entre
os valores sociocomunitários da tradição
afro-brasileira e os códigos da sociedade ofi-
cial, exigindo e assegurando, nessa relação,
o direito à identidade própria da nossa po-
pulação. Assim se instalam, no âmbito do
PRODESE, estratégias para formar pessoas
capacitadas para interagir com os códigos
da sociedade urbano-industrial e reforçar, ao
mesmo tempo, os valores das comunidades
afro-brasileiras. O PRODESE atua no plano
das atividades didáticas, tanto da graduação
quanto da pós-graduação, e também promo-
ve estudos e pesquisas integradas à extensão
universitária.
Feitos esses esclarecimentos, vamos nos
aproximar do primeiro relato que ilustrará
nossas preocupações. É a história de uma
criança negra do sexo masculino com seis
anos, numa escola pública na Região Metro-
politana de Salvador (RMS), vivendo o ciclo
de alfabetização. Na rua onde ela mora tam-
bém está localizada a escola que frequenta
e sua comunidade-terreiro, onde ela integra
a hierarquia, e faz a sua primeira iniciação.
Feita a iniciação, a criança volta para a es-
cola assumindo a identidade mítica carac-
terística do rito de iniciação realizado em
sua comunidade, mas, infelizmente, a cada
dia vive a hostilidade de coleguinhas e pro-
fessora, que cientes do seu vínculo com a
comunidade-terreiro, se afastam dela osten-
sivamente.
Um colega manifestou:
“– Você é do candomblé e gente do candomblé
não presta!”

25
Sobre a reação da professora diante do fato?
Preferiu ignorar as formas agressivas que o
grupo de alunos/as expressava. A rejeição é
tanta que a criança afro-brasileira, alvo das
constantes agressões, prefere se isolar de
tudo e de todos. Essa situação adversa ainda
teve um dado cruel: a escola chama a mãe
da criança e numa conversa, recheada de hi-
pocrisia, sugere que ela tire o filho da esco-
la para “o bem estar
dele”.
Outra ilustração,
também numa escola
pública na RMS, é de
uma criança que to-
dos os dias, ao entrar
na escola, saúda o
Iroko, uma importan-
te árvore que na tra-
dição afro-brasileira
representa a ances-
tralidade. Uma pro-
fessora comenta com
a outra:
“– Acho que esse menino não é bom da cabeça!.
Você já reparou que sempre ele conversa com
aquela árvore?” E riem da situação, achando-
a absurda, passando a tratá-lo com um caso
preocupante de saúde mental.
Uma observação importante: na tradição
africano-brasileira as árvores carregam o
princípio de ancestralidade e representam,
portanto, os ancestrais, e são elas que esta-
belecem a dinâmica da relação entre os seres
humanos e a natureza.
Mais uma ilustração para compor o mosai-
co das nossas reflexões: a história da ado-
lescente iniciada na tradição afro-brasileira
que frequenta o Ensino Fundamental. A ado-
lescente, portando o seu colar de contas na
sala de aula, incomo-
da uma professora
(de formação evangé-
lica) que, num repen-
te, vai até a jovem,
arranca-lhe o colar de
contas do pescoço e
diz: “– Isso é coisa do
diabo! Essas contas es-
tão me incomodando!
Aqui você não fica com
esse bagulho!”
As contas se espa-
lham pelo chão da
sala. Entre risos fre-
néticos dos colegas, a jovem, constrangida
e profundamente agredida, sai da sala cor-
rendo e chorando muito. Vai para casa e não
quer mais retornar para a escola.
Nenhuma dessas situações ocorreu sem que
os pais e responsáveis reagissem às agres-
sões. A equipe do PRODESE entra nas cenas
providenciando espaços de (re)educação
desses/as professores/as, assegurando aos
Se somos educadores no
Brasil, não podemos ter
medo de pensar e realizar
iniciativas socioeducativas
a partir do que somos
como povo que possui,
na dinâmica da sua
constituição, civilizações
milenares das Américas e da
África.

26
alunos/as o direito à alteridade civilizatória
afro-brasileira.
O conjunto dessas ilustrações que apresen-
tamos até aqui destaca a dor de não poder
ser, que aflige crianças, jovens e adultos
afro-brasileiros.
Nosso desafio: provocar os/as educadores/as
fazendo-os/as pensar a identidade profunda
de crianças e jovens descendentes de afri-
canos/as no Brasil. Se somos educadores no
Brasil, não podemos ter medo de pensar e
realizar iniciativas socioeducativas a partir
do que somos como povo que possui, na di-
nâmica da sua constituição, civilizações mi-
lenares das Américas e da África.
Temos que aprender a ter orgulho desse le-
gado e respeitá-lo! Infelizmente, na nossa
trajetória de formação para professores/as,
muitas vezes, tendemos a nos afastar, es-
quecer, ter vergonha e, até mesmo, temer
os valores e linguagens que comunicam o
patrimônio da civilização africana que tam-
bém protagoniza a nossa formação social, a
nossa história.
Perceber e admitir a riqueza de valores con-
tidos no contínuo dessas civilizações mile-
nares, assumindo-as como capazes de apre-
sentar contribuições primorosas para as
histórias humanas, características dos distin-
tos povos, é o que importa na composição de
uma ética do futuro.
O PRODESE vem desenvolvendo iniciativas
institucionais que promovem nos espaços
de “formação” de professores/as a transcen-
dência em face dos jargões, repetições de
discursos e conceitos ainda baseados nos
sistemas sociais do século XIX, ou as rotu-
lações e desdobramentos de dados estatís-
ticos e modismos. São fronteiras discursivas
e conceituais perversas, a exemplo das clas-
sificações que sobredeterminaram o desti-
no de muitos povos considerados “pagãos”,
“primitivos”, “selvagens”, “não humanos”,
“incapazes de civilização e de história”, “pe-
cadores”, “feiticeiros”, “sem alma”...
Nas suas iniciativas institucionais de desco-
lonização da Educação, o PRODESE se apoia
numa importante referência teórica que é
o pensamento de Frantz Fanon16, que nos
auxilia a superar o crivo do conhecimento
neocolonial, que ainda estrutura e organi-
za os currículos dos cursos de formação de
professores/as. Sobre isso aprendemos que:
(...) O colono faz a história e sabe que a
16 Frantz Fanon (1925-1961), formado em Psiquiatria, nasceu na ilha de Martinica, considerado território francês situado na América Central. No início dos anos 1950 tornou-se argelino e passou a contribuir com os argelinos na luta pela libertação do país, colônia francesa desde 1830. Participou de congressos pan-africanos representando a Argélia e é uma figura exponencial no contexto Pan-Africano no mundo. A Argélia tornou-se independente um ano após sua morte.

27
faz... E porque se refere constantemen-
te à história de sua metrópole, indica de
modo claro que ele é aqui o prolonga-
mento dessa metrópole. A história que
escreve não é, portanto, a história da re-
gião por ele saqueada, mas a história de
sua nação no território explorado, viola-
do e esfaimado. A imobilidade a que está
condenado o colonizado só pode ter fim
se o colonizado se dispuser a pôr termo
à história da colonização, à história da
pilhagem, para criar a história da nação,
a história da descolonização. Mundo
compartimentado, maniqueísta, imóvel,
mundo de estátuas: a estátua do general
que efetuou a conquista, a estátua do
engenheiro que construiu a ponte. Mun-
do seguro de si, que esmaga com suas
pedras os lombos esfolados pelo chicote.
Eis o mundo colonial (...)17.
Não é fácil esse exercício de pensar, sabemos
bem disso, mas no legado de Frantz Fanon
encontramos um ânimo que nos convida de
modo radical a
(...) recomeçar tudo (...) reinterrogar o
solo, o subsolo, os rios - e por que não?
- o sol (...). A discussão do mundo colo-
nial pelo colonizado não é um confronto
racional de pontos de vista. Não é um
discurso universal, mas a afirmação de-
senfreada de uma singularidade admiti-
da como absoluta18.
Há um clamor das comunidades afro-brasilei-
ras por políticas públicas na área de Educação
capazes de estabelecer espaços institucionais
de combate ao racismo e suas engrenagens
ideológicas, que tendem a tragar a vida de
crianças e jovens que vivem situações no co-
tidiano escolar marcadas por muita dor e hu-
milhação.
Esse mosaico de reflexões que desenvolve-
mos é, portanto, uma homenagem e uma
forma de solidarizar-se com todas as crianças
e jovens que não abrem mão do seu direito
de ser, viver seus ritos de iniciação e de pas-
sagem nas suas instituições, elaborando as
linguagens e valores que contribuem para a
expansão da ancestralidade afro-brasileira.
Uma observação necessária: quando nos re-
ferimos à ancestralidade, estamos conside-
rando a importância das lideranças comuni-
tárias que se dedicaram em vida ao bem-estar
da família, linhagem, comunidade através
da manutenção do patrimônio civilizatório
que sustenta o bem-estar, destino individual
e coletivo. Ancestral é aquele/a que em vida
deu continuidade e garantiu a expansão da
memória da sua comunidade. Os ancestrais
são lembrados e consagrados para depois,
17 FANON, Frantz. Os Condenados da Terra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.
18 Idem

28
em outro plano de existência, continuarem
protegendo e fortalecendo os vínculos da co-
munidade e, ainda, promovendo a alegria de
sua gente. Enfim, é aquele/a que dedicou sua
vida para garantir a continuidade da civiliza-
ção africana no Brasil.
a aLEGRia DE SER
Todos esses relatos aproximam-nos de uma
referência histórica na minha formação
como educadora e que também representa
um marco na história da Educação no Brasil.
Trata-se da primeira experiência de Educação
Pluricultural no Brasil, conhecida como Mini
Comunidade Oba Biyi (1976-1986), que pro-
moveu com muito êxito a educação de crian-
ças e jovens vinculados a uma comunidade
afro-brasileira na Bahia, Ilê Axé Opô Afonjá.
Cabe destacar que a concepção e realização
da Mini Comunidade Oba Biyi deve-se à per-
sonalidade exponencial de Deoscoredes Ma-
ximiliano dos Santos, o Mestre Didi. O Mestre
Didi pertence à família Axipá, originária de
Oyó, e uma das sete famílias fundadoras da
cidade de Ketu. Essa família repõe no Brasil,
especificamente na Bahia, uma dinâmica so-
ciopolítica, mítico-religiosa da cultura Nagô
expressa em casas tradicionais como o Ilê
Axé Opô Afonjá. Mestre Didi é neto de Iyá Oba
Biyi e filho de sangue de Mãe Senhora, ambas
expressivas lideranças da tradição africana
nas Américas. É o membro mais velho da fa-
mília Axipá no Brasil. Podemos afirmar que é
um Omo Bibi, um bem-nascido.
“(...) Na tradição afro-brasileira de ori-
gem nagô, omo bibi quer dizer bem
nascido, isto é, aquela pessoa que vem
a esse mundo para dar continuidade à
expansão de uma linhagem, de uma fa-
mília considerada muito antiga, recep-
táculo de tesouros de valores espirituais
e experiências históricas de grande valor
para a comunalidade. Os valores espiri-
tuais estão expressos pela continuidade
e expansão das instituições religiosas,
de um lado, o culto aos orixá, forças
cósmicas que constituem o universo,
princípios de natureza, e de outro o cul-
to aos ancestres e ancestrais, como aos
Esa, espírito das pessoas que se destaca-
ram na tradição religiosa, ou aos Babá
Egun, espíritos dos ojé, sacerdotes que
se destacaram no culto aos ancestres
masculinos”19 .
Um episódio que marcou significativamente
o início da Mini Comunidade Oba Biyi foi um
comentário de uma das crianças da comuni-
dade, ao lhe indagarem por que ela não fre-
quentava a escola oficial que era tão próxima
ao Ilê Axé Opô Afonjá.
– Não gostam da gente, lá!
19 LUZ, Marco Aurélio. A Favor de Egun. A Tarde, Salvador, 09 de abril, 2005. Caderno Cultural.

29
As escolas oficiais geograficamente próxi-
mas à comunidade eram muito distantes, ou
melhor, desenvolviam uma pedagogia que
negava os valores da comunidade, fazendo
com que as crianças se distanciassem dos
valores existenciais próprios da comunida-
de, rejeitando-os, denegando-os, melhor di-
zendo, não gostavam da forma de ser dessas
crianças. A realidade escolar das crianças da
comunidade do Opô Afonjá naquela época
era muito traumática. As crianças que foram
escolhidas pela famí-
lia “para estudar” no
mais das vezes,
(...) se afasta-
ram da própria
família, perde-
ram o orgulho
pelos valores
da tradição,
constituíram
uma identida-
de fracionada, e
muitas vivem como almas no exílio, so-
frendo o impacto da política racista da
barragem social no contexto da socie-
dade oficial europocêntrica identificada
com a política do branqueamento20 .
O nome Oba Biyi significa em yorubá “o rei
nasce aqui”, vem da homenagem ao nome
sacerdotal nagô de Eugênia Anna dos Santos,
a Iyalorixá fundadora do Ilê Opô Afonjá na ter-
ritorialidade do Cabula, em Salvador, Bahia.
Quando Mãe Aninha, a Iyá Oba Biyi implantou
a comunidade-terreiro do Ilê Axé Opô Afonjá
em 1910, nas imediações do Cabula, foi por-
que considerou, sobretudo, que aquele ter-
ritório estava profundamente marcado pelo
passado heroico de continuidade civilizató-
ria, rico em axé e forças míticas emanadas
pelos antepassados africanos do quilombo
do Cabula. Esse ter-
ritório se impregnou
de profundo signifi-
cado histórico para a
população afro-brasi-
leira, que reelaborou,
no local, modos de
sociabilidade ancora-
dos à preservação da
memória coletiva das
comunidades que ali
existiram. Não há pro-
vas de que o Ilê Opô
Afonjá esteja localizado no lugar exato do
quilombo do Cabula, disperso em 1807, mas
preserva-se a memória simbólica daqueles
que se insurgiram ao Estado colonial escra-
vista.
A Iyá Oba Biyi sempre dizia: “Quero ver nos-
sas crianças de hoje, no dia de amanhã, de
20 LUZ, Marco Aurélio. Agadá dinâmica da Civilização Africano-Brasileira. Salvador: Edições SECNEB e EDUFBA, 1995, p. 666.
A Iyá Oba Biyi sempre
dizia: “Quero ver nossas
crianças de hoje, no dia de
amanhã, de anel no dedo
e aos pés de Xangô.” É no
âmago desse desejo de Mãe
Aninha, que se implanta a
Mini Comunidade Oba Biyi.

30
anel no dedo e aos pés de Xangô.” É no âma-
go desse desejo de Mãe Aninha, que se im-
planta a Mini Comunidade Oba Biyi.
A Iyá Oba Biyi nos indicou o grande desafio
que se apresenta para nós, educadores: de
um lado o “anel no dedo”, que significa a pos-
sibilidade de mobilidade social da população
infantojuvenil de descendência africana na
sociedade oficial, e de outro, Xangô, orixá do
fogo que assegura a vida no aiyê21, a expansão
de linhagens, da existência concreta ininter-
rupta, filhos, descendência, ancestralidade,
continuidade da comunidade afro-brasileira,
presença transatlântica dos valores culturais
africanos.
A proposição de uma educação no contexto
desse desafio foi promover uma linguagem
pedagógica que estabelecesse uma relação di-
nâmica entre os valores comunitários da tradi-
ção e os códigos da sociedade oficial, exigindo
e assegurando, nesta relação, o direito à iden-
tidade própria das crianças e jovens. Assim, se
instala, no âmbito da Mini Comunidade Oba
Biyi, o desafio de “formar” pessoas capazes de
educar sabendo interagir com os códigos da
sociedade urbano-industrial influenciada pelos
valores europeus, e reforçar, ao mesmo tempo,
os valores das comunidades afro-brasileiras.
“De anel no dedo e aos pés de Xangô” significa
procurar superar os obstáculos, que se institu-
cionalizaram na África e no Brasil, e em outros
países ex-colonizados, através da pedagogia
eurocêntrica.
A imagem da África e do africano pro-
mulgada pelas escolas anglo e latino-
americanas é uma imagem grotesca,
humilhante, além de falsa, que mina ou
impossibilita toda aspiração da criança
negra à realização humana. Na própria
África, essas distorções prevalecem nos
sistemas educativos herdados do colo-
nialismo. Contestar e banir este sistema
de mitos racistas na educação da crian-
ça negra e substituí-lo com uma afirma-
ção autêntica da identidade verdadeira
e positiva do africano é uma função or-
gânica e primária da organização polí-
tica, porque, como um sistema, ele cor-
rói diretamente o potencial de um povo
rumo à realização do seu protagonismo
histórico22.
Timothi Awaoniyi, em relato sobre o sistema
oficial de ensino na Nigéria, disse que o Ilê
Ekó (como é chamada a casa de ensino/sa-
ber) se caracterizava como uma instituição
fora das relações comunitárias. Ser educado
no contexto colonial e neocolonial era ser
21 Mundo visível.
22 NASCIMENTO, Elisa. Pan-africanismo na América do Sul. Petrópolis: Vozes, 1985, p.36.
23 AWAONIYI, Timothi, apud LUZ, Marco Aurélio. Agadá dinâmica da Civilização Africano-Brasileira. Salvador: Edições SECNEB e EDUFBA, 1995, p. 657.

31
europeizado. Aqueles que não se educavam
pela escola colonial eram chamados de ará-
oko (ignorantes, sem educação) e os valores
culturais da tradição ficavam reduzidos à
percepção etnocêntrica que os classificava
de “pagãos”, “primitivos” e “bárbaros” 23.
Nada mais importante para o ser humano do
que se sentir aceito, amado, querido e respei-
tado. A Mini Comunidade Oba Biyi absorvia
profundamente essas preocupações, tanto
assim que a ideia nucleadora do espaço ar-
quitetônico e do cotidiano espaço-temporal
pedagógico refletia nas crianças o prazer de
sentir-se em casa, à vontade, seguras, felizes,
expressando com desenvoltura a sua identi-
dade e os códigos culturais da comunidade.
A criação da Mini Oba Biyi proporcionou às
crianças um espaço para participar, opinar,
acompanhar, sugerir, desde a construção do
prédio até as vivências do dia a dia com os
professores e funcionários, consolidando a
dimensão política de afirmação dos valores
da tradição.
O prédio da Mini foi construído sob a super-
visão das crianças, que diariamente acompa-
nhavam os operários, os materiais, bastante
envolvidas com o processo, pois sentiam re-
almente que era delas e para elas que estava
sendo erguido aquele espaço.
Projetou-se um espaço que abrigasse uma
comunidade infantil, uma casa com o esti-
lo da Bahia, com telhas, varandas, pátio, um
amplo salão. A concepção era de um espaço
livre para as crianças explorarem e desenvol-
verem todos os sentidos do corpo, não havia
bancos e carteiras, era um espaço permeado
pela estrutura do terreiro, onde as atividades
e/ou aprendizagem ocorressem ao ar livre ou
no salão. Tinha também uma cozinha gran-
de, banheiros e vegetação na área externa.
Sobre a concepção espaço-temporal da Mini,
Marco Aurélio Luz, que participou da coorde-
nação da experiência de educação no período
de 1978 a 1985, comenta:
A forma de comunicação básica da Mini
não se assentava na escrita. A forma de
comunicação dava margem àqueles có-
digos tradicionais de comunicação da
comunidade, que se manifestavam atra-
vés da dramatização, dança, música,
etc. Mas, em relação à linguagem peda-
gógica, especialmente, esse espaço pro-
piciava essas formas de comunicação. A
Mini foi concebida com um grande sa-
lão, um pátio e uma varanda. Não se ca-
racterizava com salas de aula, carteiras,
com aquele mobiliário sobredetermina-
do pela escrita, com aquela prancheta,
com obsessão para caderno, lápis, livro,
e a criança diante do quadro de giz, e
o professor na frente. Esse espaço dava
outra dinâmica. Tinha salão de ativida-
des por centro de interesses, onde se de-
senvolviam atividades com as turmas do
prontidão, os professores começavam

32
as atividades e a criança poderia circu-
lar de um centro de interesse para ou-
tro e vice-versa. No pátio e na varanda
aconteciam as aulas de alfabetização.
Nessa varanda tinha uma grande mesa
com os bancos, mantendo a caracterís-
tica do mobiliário da comunidade, e um
quadro-de-giz presente nas aulas de al-
fabetização. No pátio se desenvolvia a
música, dança e dramatizações24.
Do cotidiano da Mini Comunidade Oba Biyi,
destacamos também a força encantadora
dos contos de Mestre Didi, que embasavam
o cotidiano curricular da Mini, influencian-
do uma dimensão pedagógica infantojuve-
nil, onde valores, cosmovisão, ética comu-
nitária, hierarquias, línguas, modos de vida,
princípios filosóficos, códigos estéticos,
modos e formas de comunicação, concep-
ções culinárias, organização político-social,
elaborações territoriais, enfim, todo um
complexo civilizatório está expresso e pro-
cura caracterizar aspectos estruturadores
da identidade profunda das comunalidades
tradicionais da Bahia.
Os contos são transmitidos de geração a ge-
ração, mais que isso, eles comunicam expe-
riências entre gerações, de uma para outra,
conforme também as hierarquias comunitá-
rias detentoras da sabedoria milenar.
Mas essas transmissões só se realizam atra-
vés de relações interdinâmicas e interpesso-
ais, envolvendo os mais velhos e os jovens,
numa dimensão pedagógica que apela para
códigos e formas de comunicação genuina-
mente africanos. É necessário enfatizar que
as palavras, emanadas através dos contos,
têm muito poder de realização, isto porque
mobilizam, encantam, fascinam, exploram
o imaginário da comunidade afro-brasileira
recriando e (re)atualizando todo o sistema
simbólico e conhecimentos éticos e estéti-
cos que os integram, e (...) antes de serem
formas de arte, (os textos) são formas que le-
vam a carga de significar as múltiplas relações
do homem com seu meio técnico e ético25.
E mais:
Em torno dos contos foram se organi-
zando as atividades da aprendizagem, o
espectro de conhecimentos de variados
matizes, e que culminavam a cada se-
mestre letivo no Festival de Artes Inte-
gradas Mini Comunidade Oba Biyi. Nes-
sas ocasiões, as crianças interagiam com
a comunidade expressando emoções e
conhecimentos de uma estética consti-
tuída de ludicidade, saber e alegria. Nes-
sa toada fundou-se um novo território
de aprendizagem, o da educação pluri-
cultural africano-brasileira. Inaugura-se
a possibilidade de circulação entre mun-
24 LUZ, Narcimária. ABEBE: a criação de novos valores para a educação. Salvador: Edições SECNEB, 2000, p.67.
25 LUZ, 1977, p. 66.
26 LUZ, Marco Aurélio. O rei nasce aqui (contracapa). Salvador: Fala Nagô, 2007.

33
dos socioculturais diferentes com liber-
dade e integridade26.
Depois de destacarmos a importância da
Mini Comunidade Oba Biyi na constituição
de um currículo capaz de lidar com o patri-
mônio afro-brasileiro, insistimos no convite
aos educadores: sensibilizem-se, aprendam
e respeitem as linguagens próprias do co-
nhecimento milenar que organizam e es-
truturam as comunidades afro-brasileiras, a
exemplo dos ritos de iniciação vividos pelas
crianças e jovens que ilustramos no início
desse texto.
Se realmente pretendemos realizar uma
“Educação para todos”, como proclama a
Constituição brasileira, teremos que consi-
derar de forma respeitosa uma ética da coe-
xistência que aceite o patrimônio de conhe-
cimentos das histórias humanas das nossas
comunidades afro-brasileiras. É através des-
sas comunidades e de toda a pujança do pa-
trimônio civilizatório africano característi-
co, que nossas crianças e jovens estruturam
suas identidades profundas.
cOncLuSãO
Na Mini Comunidade Oba Biyi, primeira
experiência de Educação Pluricultural no
Brasil e com a qual aprendemos muito ao
longo dos anos, se entoava um cântico afro-
brasileiro nagô:
“Aiyó, aiyó, alegria alegria, omo nilê
aiyó”, filhos da casa alegria. É essa ale-
gria que envolve ou deve envolver o es-
paço, luzes e cores, tatilidade, sinergia,
comunalidade, sociabilidade na educa-
ção desdobrada dos valores e linguagem
da tradição africana. Na Mini, a alegria
estava na vida cotidiana, no brincar, no
elaborar, no aprender, jogando, repre-
sentando, transformando, criando, fa-
zendo arte conjuntamente num só cor-
po comunal. Enfim, a Mini propiciava
um gostar de estar no mundo, se diver-
tindo e sublimando a angústia existen-
cial, substituindo-a pelo efeito estético
da busca da beleza, odara, e pela busca
do conhecimento que implica, sobretu-
do, em aceitar o mistério do existir27.
Povos que vivem fora da Europa, a exemplo
da África, Austrália, Américas e Ásia, apelam
para outros códigos e formas de comunica-
ção característicos dos seus modos de socia-
bilidade para localizar-se e falar dos lugares,
territorialidades que os envolvem.
Nas comunidades afro-brasileiras, nossas
crianças aprendem, elaboram conhecimen-
tos e expressam esses universos caracterís-
ticos do pensamento africano e suas atua-
lizações nas Américas através da vivência
e convivência com orikis, contos, instru-
mentos percussivos cujos toques falam/co-
municam/relatam histórias que anunciam
27 LUZ, Marco Aurélio. O rei nasce aqui (contracapa). Salvador: Fala Nagô, 2007.

34
os primórdios da humanidade, indicando
princípios ético-estéticos para que o corpo
comunitário se expanda e dê continuidade
aos elos de ancestralidade que projetam e
anunciam a África viva aqui.
Os caminhos que vamos trilhando indicam
a possibilidade de uma educação em que
nossas crianças e jovens aprendam a lidar
com o repertório de códigos da sociedade
urbano-industrial imersa nas políticas de
globalização, mas utilizando-os como es-
tratégia de legitimação da alteridade civili-
zatória africana. É assim que vamos vendo
gerações de afro-brasileiros, conquistando
espaços institucionais fincando, recriando e
expandindo o repertório de valores das suas
comunidades, e tendo acesso ao direito à al-
teridade, tão precioso ao existir.
Não podemos colocar um “manto de ferro”
nas crianças que vivem imersas nos valores
e linguagens radicalmente distintos das ins-
tituições que se baseiam nos valores da civi-
lização europeia e sua História e Geografia
totalitárias e laicizadas.
Uma mensagem importante que dinamiza
a ética das comunidades afro-brasileiras: a
árvore que não tem raiz não se apruma, não
consegue se alimentar da matéria primor-
dial, e é incapaz de gerar; e o pior é que ela
será carregada pelo vento.
Desse pensamento dos mais antigos/as
aprendemos que é importante saber quem
nós somos, as nossas origens, a trajetória
dos nossos/as antepassados/as, valorizar a
nossa gente, as nossas comunidades afro-
brasileiras, pois isso nos tornará árvores
frondosas com raízes profundas e capazes
de gerar muitos frutos e sementes que ali-
mentarão as gerações sucessoras.

35
3.3 multICulturAlIsmo, teleVIsão e CotIDIAno
esColAr: um BornAl De lemBrAnçAs
Azoilda Loretto da Trindade28
Esse texto se configura num bornal – com
algumas cenas, lembranças, reflexões que
foram constituindo uma trajetória de uma
educadora imersa nas questões da multi-
culturalidade, em diálogo com vários cam-
pos de conhecimento, sobretudo, no caso
deste texto, relacionados à educação e à
televisão. Televisão, por causa de algumas
consultorias no programa Salto para o Fu-
turo/ TV Escola (MEC) e no Projeto ‘A Cor
da Cultura’, do Canal Futura, e também
por estarmos vivendo um momento his-
tórico de reflexões e tentativas de romper
hegemonias e exclusões, visando visibilizar
positiva e criticamente a nossa diversidade
étnico-racial em todos os espaços sociais.
Lembranças e cenas que nos ajudaram a
compor este texto. Lembranças e cenas de
bastidores, que mostram que o que vemos
na tela é um produto, um retrato momentâ-
neo, e que tem uma história de construção.
Vamos especificar com duas cenas:
cena 1
Num dos programas sobre Pluralidade Cul-
tural, eu e uma outra professora participa-
mos como pessoas que davam depoimentos
ao vivo, as duas negras e com cabelo natural
e ambas com o penteado tipo pompom. Sur-
presa a: não existia maquiagem para nossas
peles. Surpresa b: uma pessoa comenta, na
sala: “(...) uniforme estes cabelos?” Surpre-
sa, porque não se discutia o modelo “pa-
drão” dos cabelos das apresentadoras, nem
um certo modelo “global” dos programas.
cena 2
A consultoria da série Multiculturalismo,
em 2002, foi um laboratório. A riqueza dos
textos, do material produzido, o debate de
propostas em torno de temas que, hoje, são
focos de discussão, como a questão afro-
brasileira, a indígena, a homoafetiva, a reli-
giosa, a de gênero, a transdisciplinaridade...
Tudo com embates, humanidades, vaidades,
relações de poder, enfrentamento de precon-
ceitos e construção de conceitos... Lembro,
por exemplo, que no primeiro VT sugerimos
28 Professora doutora em comunicação e cultura.

36
colocar a música ‘Wonderful World’, com o
Louis Armstrong, quase uma ode à multicul-
turalidade, e alguém vetou argumentando
que a música não era em português.
Foi uma experiência muito rica e que conso-
lidava, em mim, a certeza de que a televisão
pode estar a serviço da vida, da diversidade,
do conhecimento. Contudo...
Vivem em nós inúmeros;
Se penso ou sinto, ignoro
Quem é que pensa ou sente.
Sou somente o lugar
Onde se sente ou pensa.
Tenho mais almas que uma.
Há mais eus do que eu mesmo.
Existo, todavia
Indiferente a todos.
Faço-os calar: eu falo.
Os impulsos cruzados
Do que sinto ou não sinto
Disputam em quem sou.
Ignoro-os. Nada ditam
A quem me sei: eu ‘screvo29.
Multiculturalismo, diversidade, intercultu-
ralidade, pluralidade... Nomes e mais no-
mes para compreender a nossa humanidade
tão ampla e tão diversa que, hoje, parece ter
uma visibilidade questionadora, que grita e
afirma diferenças, singularidades, coletivi-
dades, muitas vezes silenciadas, ocultadas,
invisibilizadas. A diversidade que nos pare-
ce em conflito, pois são raros os momentos
do alinhamento entre os tantos eus que nos
habitam, nestes emaranhados de nós que vi-
vem em nós.
Nós, porque mesmo acreditando que somos
vários num só, ainda assim sonhamos com
a identidade, com a homogeneidade. Somos
“metamorfoses ambulantes”. Metamorfoses
polifônicas, polissêmicas, policromáticas
em dissonâncias e consonâncias constantes
e assustadoramente belas e complexas.
Como ilustração da riqueza da diversidade,
recontamos um mito da criação humana Io-
ruba30:
Olodumaré, que é um deus iorubá, quis
criar a Terra e deu um punhado dela,
num saquinho, para Obatalá ir criá-
la. Antes de ir, Obatalá teria que fazer
a oferenda a Exu, pois sem movimento
não há ação. Obatalá, que é muito ve-
lho, esqueceu e foi andando, andando
devagarzinho, e no caminho sentiu sede.
Então viu uma árvore, dessas que têm
água dentro, e parou, abriu a planta e
29 Poema de Ricardo Reis (Fernando Pessoa).
30 Osiorubásouiorubas(emiorubá:Yorùbá),tambémconhecidoscomoyorubá(io•ru•bá)ouyoruba,sãoumdos maiores grupos etnolinguísticos ou grupo étnico na África Ocidental. http://pt.wikipedia.org/wiki/Iorub%C3%A1s em 23/07/2011.

37
bebeu. Só que era uma bebida que dava
um pouco de tontura, e então ele deitou
debaixo da árvore e acabou dormindo.
Enquanto isso, Odudua, que também
queria criar a Terra, fez as oferendas a
Exu e alcançou Obatalá. Vendo-o dormir,
achou que ele iria se atrasar muito, pe-
gou o saquinho e foi ele mesmo criar a
Terra. E criou.
Obatalá acor-
dou e viu a Ter-
ra criada, e foi
reclamar para
Olodumaré,
que enviou e
deu a ele barro,
para que crias-
se os homens
na Terra. Oba-
talá foi e criou
os homens,
mas de vez em
quando tomava a bebida da árvore, de
que tinha gostado e... Não chegava a
dormir, mas, meio tonto, fazia seres hu-
manos de todos os tipos.
Mito31 este escolhido pelo modo que coloca
os seres humanos na sua pluralidade e por
destacar/sublinhar e lembrar que vários po-
vos e culturas têm seus mitos de criação do
mundo e dos seres humanos. Também por
ser este um mito que utilizamos em vários
textos para a publicação eletrônica/boletim
do Salto para o Futuro, que escrevi na tenta-
tiva de inserir em microespaços outros mo-
dos de ver-sentir-interpretar a vida.
Destacamos que a questão da DIVERSIDADE
nos remete a uma pluralidade de temas e
caminhos reflexivos. Como ilustração, des-
taco alguns surgidos
num encontro de 120
minutos entre cerca
de 40 estudantes de
um curso de aperfei-
çoamento, aula de
multiculturalismo
e cotidiano escolar,
quando cada pes-
soa apresentou uma
representação de
si, sua marca, seus
projetos, num dos
raros momentos coletivos em que a escuta
e expressões múltiplas se encontram e refle-
xões coletivas acerca das singularidades co-
muns foram postas no centro da discussão.
De cada exposição, destacamos um item,
que como uma encruzilhada nos remete a
vários caminhos e possibilidades de reflexão
e ação:
31 Um mito é uma narrativa de caráter simbólico, relacionada a uma dada cultura. O mito procura explicar a realidade, os fenômenos naturais, as origens do mundo e do homem por meio de deuses, semideuses e heróis. http://pt.wikipedia.org/wiki/Mito Acesso em 23/07/2011.
Somos “metamorfoses
ambulantes”. Metamorfoses
polifônicas, polissêmicas,
policromáticas
em dissonâncias e
consonâncias constantes e
assustadoramente belas e
complexas.

38
visões de mundo – lugares – autoestima
– estimas – memórias – marcas – nome
– iniciais – ciclos – traumas – alegrias –
tristezas – superações – histórias – redes
(familiares, apoio, solidariedade, afetivas)
– tradições – aprendizagens – dobra – li-
nhagens – ancestralidade – afetos – religio-
sidade – obstáculos – sexualidade – racis-
mos – preconceitos – dificuldades – saúde/
doença – ausências – mágoas – resistências
– forças – legados – filosofias – vitórias –
escutas – saberes – falas – passado entrela-
çado com o presente – inserções – mudan-
ças – maternidade/paternidade – ganhos/
perdas – cobranças – ritmos – estilos
– tempos – sonhos – ética – manifestações
artístico/culturais – pertenças/pertenci-
mentos – mudanças e permanências – eu/
eus – parcerias...
POnTOS DE aTEnçãO:
Como uma tentativa de reflexão, diante de
várias possibilidades e caminhos, após a es-
cuta e observações de inúmeras narrativas,
alguns pontos são passiveis de atenção:
1. Multiculturalidade como narrativa
Uma vez ouvi de Fernando Lebeis, professor
de Cultura Popular, este dito: Se tem nome
existe. As múltiplas culturas ganham vida,
existência, pelas narrativas de quem as pro-
duz, de quem as cria e alimenta. A palavra,
o verbo que se faz carne, ideia, existência e
habita entre nós e em nós. Narrativas que
apresentam mundos e mundos, pessoas,
possibilidades que, tecidas umas nas e com
as outras, carregam sementes de invenções/
reinvenções de existências. A Ciência (no
singular e no plural) é narrativa, o conheci-
mento é narrativa, a explicação do mundo é
narrativa, o que vimos, o que sentimos, com-
preendemos e somos é narrativa. As espe-
cializações são narrativas, as disciplinas são
narrativas. As imagens televisivas são narra-
tivas. Neste sentido, a palavra, a expressão,
a marca de cada um(a) de nós é narrativa.
Nossa presença no mundo é narrativa e este
emaranhado de narrativas, construídas em
rede, não hierarquizadas, em diálogo, sem
começo, sem meio e sem fim, nos convida
a pensar outras narrativas que possam tecer
uma ainda não narrada história da educação
da diversidade, das diferenças, dialógica, in-
clusiva.
2. naturalização do historicamente e
socialmente construído
O acesso a narrativas, quer sejam lineares
ou não, o acesso ao pensamento do Ou-
tro, à lógica do Outro, o contato com ou-
tras narrativas, além das nossas e das que
validamos, convidam-nos a sair do campo
da naturalização e entrar no campo do his-
toricamente e socialmente construído. De
acordo com o modo como vemos o mundo,
as cosmogonias se alteram, se criam e se re-
criam ao longo do tempo, da história e das

39
sociedades. A vida é mudança e transforma-
ção constante de um modo incapturável.
3. Processos institucionalizados e insti-
tuintes
Se a Vida é mudança, transformação, meta-
morfose, como se explicam “as verdades”?
Talvez, numa tentativa inglória de assentar
a poeira, de controlar o incontrolável, como
uma espécie de dissonância entre narrativas
do visto, sentido e vivido, nos instituímos
rotulando, etiquetando, normatizando, re-
gulando, legalizando tentando, como disse,
talvez, controlar a força instituinte da vida.
4. Relações de poder
Obviamente não estamos voltados apenas para
o caos ou para o princípio do prazer, pois vive-
mos em grupo, em sociedade, mediados pela
comunicação, por coletividades. Também não
podemos ficar presos(as) à bipolaridade ou ao
espectro da dicotomia: prazer-realidade; vida-
morte; branco-negro, homem-mulher, sim-
não, isto ou aquilo... A Vida é muito mais que
isto. Por outro lado, sabemos que o instituído
se consolida nas relações de poder estabele-
cidas em confrontos, negociações, conflitos,
mortes, guerras, silenciamentos... A vida social
é tensionada pelas relações marcadas pelo po-
der no seu sentido mais amplo e universal, ou
seja, todos nós temos e exercemos poder.
5. Lugares sociais
Só que, num processo de dissonância que
consolida narrativas em que alguns se
acham valendo mais, tendo mais poderes
que outros, sobretudo no que se refere aos
poderes de dominação, de existência, de
cidadania, de vida, podemos dizer que as
relações de poder marcam lugares sociais.
Lugares onde algumas narrativas são legiti-
madas, acolhidas, ecoadas em detrimento
de outras, consolidando-se assim desigual-
dades, exclusões, distorções...
6. cotidianos x dominantes
Partindo do pressuposto de que todos têm
e exercem o poder, nos voltamos para o co-
tidiano, como lugar de acontecimentos, do
‘aqui-agora’, de relações, encontro, confron-
tos, desencontros... Cotidiano como lugar
das práticas, das experimentações, das vi-
vências, das narrativas e, ao mesmo tempo,
campo das potências, campo de práticas e
relações de dominação da potência, da nar-
rativa, do poder do outro, seja este outro
gente na sua diversidade. Natureza na sua
diversidade, seres vivos na sua diversidade,
conhecimento na sua diversidade.
7. Pontos de vista diferentes
Trouxemos o poeta Ricardo Reis, um mito
Ioruba, palavras e expressões apreendidas
num encontro, convite a pesquisar imagens
e histórias como da Vênus negra, do homem
vitruviano, do osso de Ishango, para que

40
possamos pensar que, diante da diversidade,
vemos pontos de vistas diversos, diferencia-
dos, nem sempre em disputa, muitas vezes
complementares, outras vezes dissonantes,
outras vezes abomináveis, outras vezes in-
compreendidos, outras vezes reprimidos,
mas presentes, vivos, a despeito das rela-
ções de dominação.
8. Diversidade
Vivemos um momento de desassossego, sa-
ímos da zona de conforto do pensamento
único, da ilusão da unidade, da universidade
para a diversidade, a multiplicidade, do sim-
bólico para o diabólico. Símbolo, em grego,
(...) seria a união de duas palavras “sin”
(junto, perto, ao lado) + “bolós” (levar,
movimentar, trazer, bailar), que numa
leitura imediata quer dizer: trazer para
junto. Assim, todo símbolo tem por fun-
ção trazer o que representa. (...) Também
está presente nas diversas culturas a re-
alidade diabólica. Não se trata de uma
personificação do mal, como faz uma fé
mais simplória e menos depurada. Mas
sim de um movimento oposto ao do sím-
bolo. Do grego, diabólico seria a junção
de “dia” (longe, distante, fora de) + “bo-
lós” (levar, movimentar, trazer, bailar),
ou seja, dividir, separar, levar para longe.
Assim, toda atitude de divisão, de sepa-
ração, é uma atitude diabólica32.
9. Diversos olhares, narrativas, concep-
ções e vivências
Canções, poemas, múltiplas linguagens...
Representações do tempo...
Manifestações culturais, artísticas,
esportivas, religiosas...
A Vênus Negra (Venus hotentote)33.
O homem vitruviano34.
Osso de Ishango35.
32 Fonte: http://pt.shvoong.com/humanities/174491-simb%C3%B3lico-diab%C3%B3lico/#ixzz1T0Qp37qj Acesso em 24/07/2011.
33 Saartjie “Sarah” Baartman (1789-1815) foi a mais famosa de, pelo menos, duas mulheres hotentotes usadas como atrações secundárias de circo na Europa do século XVIII sob o nome de vénus Hotentote. http://pt.wikipedia.org/wiki/Saartjie_Baartman Acesso em 24/07/2011.
34 É um desenho famoso que acompanhava as notas que Leonardo da Vinci fez ao redor do ano 1490 num dos seus diários. Descreve uma figura masculina desnuda separadamente e simultaneamente em duas posições sobrepostas, com os braços inscritos num círculo e num quadrado. A cabeça é calculada como sendo um oitavo da altura total. Às vezes, o desenho e o texto são chamados de Cânone das Proporções. http://pt.wikipedia.org/wiki/Homem_Vitruviano_(desenho_de_Leonardo_da_Vinci). Acesso em 24/07/2011.
35 O osso de Ishango é uma ferramenta de osso que data do Paleolítico Superior, aproximadamente entre Homem Vitruviano e 20.000 a.C. Este objeto consiste num longo osso castanho (mais especificamente, a fíbula de um babuíno) com um pedaço pungente de quartzo incrustado num dos seus extremos, talvez utilizado para gravar ou escrever. A princípio pensava-se que fora utilizado para realizar contagens, já que o osso tem uma série de traços talhados divididos em três colunas, que abrangem todo o comprimento da ferramenta, mas alguns cientistas sugestionaram que as agrupações dos traços indicam uma compreensão matemática que vai para além da contagem. http://pt.wikipedia.org/wiki/Osso_de_Ishango Acesso em 24/07/2011.

41
Essas imagens e suas legendas e referências,
por si, já nos falam de multiculturalidade.
Mas, sendo um texto que pretende dialogar
com educadoras(es), explicamos que nossa
intenção, ao apontá-las, sem rigor meto-
dológico, é sinalizar que para onde olhar-
mos, em qualquer campo do saber, estamos
diante da diversidade, da multiplicidade, do
diverso no universo. Estamos diante do in-
capturável da vida e do desafio de educação
para o não sabido.
aLERTaS
O reconhecimento
da diversidade como
foco, como base,
não elimina as dis-
torções causadas
pelas relações de
dominação e de hie-
rarquização das di-
ferenças. Reconhe-
cer as diferenças não significa respeitá-las,
sequer saber ou querer aprender a lidar com
elas de modo dialógico e inclusivo. O ma-
chismo, o racismo, o elitismo, a intolerância
religiosa, a homo e lesbofobia, dentre outras
manifestações de apartação do Outro, pres-
supõem o reconhecimento da existência do
Outro, da diferença, da diversidade, só que
pressupõem também a existência de um pa-
drão a ser seguido, perseguido, buscado, co-
piado, desejado, padrões de negação ou não
aceitação do Outro, de negação da vida, do
respeito à vida...
Trabalhar na perspectiva da diversidade não
é algo simples e fácil. Leva-nos a romper
com a ideia enraizada de homogeneidade.
Por exemplo, ainda existe, na escola, a ilu-
são de turmas homogêneas (por nível de
aprendizagem, por faixa etária, por classe
social...).
Tensionar o discurso da igualdade. Não so-
mos todos iguais,
somos diferentes,
mas em termos de
direito humano, so-
cial, político, somos
iguais (em tese).
Contudo, numa so-
ciedade estratifica-
da, hierarquizada,
excludente, as de-
sigualdades sociais
são evidentes, desigualdades manifestas nos
dados oficiais, desigualdade de gênero, de
etnia...
Tudo isto nos tira do ilusório conforto do
“JÁ SEI”, nos convidando a estudar, ler o
mundo, abrir os poros para novas formas
de aprender além dos livros, sem prescindir
deles, convida-nos a criar e a correr riscos
para trilhar caminhos nunca antes navega-
dos... Camões e Fernando Pessoa: navegar é
preciso, viver não é preciso:
Trabalhar na perspectiva
da diversidade não é
algo simples e fácil.
Leva-nos a romper com
a ideia enraizada de
homogeneidade.

42
Navegadores antigos tinham uma
frase gloriosa:
“Navegar é preciso; viver não é
preciso”36.
Quero para mim o espírito [d]esta
frase,
transformada a forma para a casar
como eu sou:
Viver não é necessário; o que é neces-
sário é criar.
Não conto gozar a minha vida; nem
em gozá-la penso.
Só quero torná-la grande,
ainda que para isso tenha de ser o
meu corpo e a (minha alma) a lenha
desse fogo.
Só quero torná-la de toda a humani-
dade;
ainda que para isso tenha de a per-
der como minha.
Cada vez mais assim penso.
Cada vez mais ponho da essência
anímica do meu sangue
o propósito impessoal de engrande-
cer a pátria e contribuir
para a evolução da humanidade.
É a forma que em mim tomou o
misticismo da nossa Raça37.
E neste campo de imprecisão e precisão
(necessidade), ficam-nos ainda questões, in-
quietações cotidianas que compartilhamos:
Se somos todos diferentes, como lidar com es-
tas diferenças no cotidiano escolar e na televi-
são? Como proceder diante da diversidade no
cotidiano escolar? E na televisão?
Não temos respostas, lamentavelmente, te-
mos trilhas, pistas, indícios e sinais
a)‘Remembrar’ os conhecimentos. Edgar
Morin já nos convida a isto:
É necessário promover grande re-
membramento dos conhecimentos
oriundos das ciências naturais, a fim
de situar a condição humana no mun-
do dos conhecimentos derivados das
ciências humanas, para colocar em
evidência a multidimensionalidade e
a complexidade humanas, bem como
integrar (na educação do futuro) a
contribuição inestimável das huma-
nidades, não somente a filosofia e a
história, mas também a literatura, a
poesia, as artes (...)38.
36 “Navigare necesse; vivere non est necesse” – em latim, frase de Pompeu, general romano (106-48 a.C.), dita aos marinheiros, amedrontados, que recusavam viajar durante a guerra. Cf. Plutarco, in Vida de Pompeu.
37 Fernando Pessoa. Navegar é preciso. http://www.revista.agulha.nom.br/fpesso05.html em 24/07/2011.
38 Edgar Morin. Sete saberes necessários à educação do futuro. Unesco.

43
Contudo, buscaremos inspiração num ou-
tro mito africano, agora egípcio, que nos foi
apresentado no documentário do Salto para
o Futuro “Africanidades Brasileiras e educa-
ção” e que ilustra nosso momento de agre-
gar, conhecer, interligar histórias, culturas,
conhecimentos, humanidade:
O mito de Osíris39
O mito de Osíris é conhecido graças a
várias fontes, sendo a principal o relato
de Plutarco (século I) De Iside et Osiride
(Sobre Ísis e Osíris). Alguns textos egíp-
cios, como os Textos das Pirâmides,
os Textos dos Sarcófagos e o Livro dos
Mortos, narram vários elementos do
mito, mas de uma forma fragmentária
e desconexa.
Osíris é apresentado como filho de Geb
e Nut, tendo como irmãos Ísis, Néftis e
Seth. É, portanto, um dos membros da
Enéade de Heliópolis. Ísis não era apenas
sua irmã, mas também a sua esposa.
Osíris governou a terra (o Egipto), tendo
ensinado aos seres humanos as técnicas
necessárias à civilização, como a agri-
cultura e a domesticação de animais.
Foi uma era de prosperidade que, contu-
do, chegaria ao fim.
O irmão de Osíris, Set, governava apenas
o deserto, situação que não lhe agrada-
va. Movido pela inveja, decide engendrar
um plano para matar o irmão. Auxilia-
do por setenta e dois conspiradores, Set
convidou Osíris para um banquete. No
decurso do banquete, Set apresentou
uma magnífica caixa-sarcófago que pro-
meteu entregar a quem nela coubesse.
Os convidados tentam ganhar a caixa,
mas ninguém cabia nesta, dado que Set
a tinha preparado para as medidas de
Osíris. Convidado por Set, Osíris entra
na caixa. É então que os conspiradores
trancam-na e atiram-na para o rio Nilo.
A corrente do rio arrasta a caixa até ao
mar Mediterrâneo, acabando por atin-
gir Biblos (Fenícia).
Ísis, desesperada com o sucedido, parte
à procura do marido, procurando obter
todo o tipo de informações dos encon-
tros pelo caminho. Chegada a Biblos, Ísis
descobre que a caixa ficou inscrustrada
numa árvore que tinha, entretanto, sido
cortada para fazer uma coluna no pa-
lácio real. Com a ajuda da rainha, Ísis
corta a coluna e consegue regressar ao
Egipto com o corpo do amado, que es-
conde numa plantação de papiros.
Contudo, Seth encontrou a caixa e, fu-
rioso, decide esquartejá-lo em catorze
39 http://pt.wikipedia.org/wiki/Os%C3%ADris Acesso em 24/07/2011.

44
pedaços; o corpo é espalhado por todo
o Egipto. Em alguns textos do período
ptolemaico, teriam sido dezesseis ou
quarenta e duas partes. Quanto ao sig-
nificado destes números, deve referir-se
ao fato de que o catorze é o número de
dias que decorre entre a lua cheia e a lua
nova e o quarenta era o número de pro-
víncias (ou nomos) em que o Egipto se
encontrava dividido.
Ísis, auxiliada pela sua irmã néftis, partiu
à procura das partes do corpo de Osíris.
Conseguiu reunir todas, com excepção
do pênis, que teria sido devorado por um
ou três peixes, conforme a versão. Para
suprir a falta deste, Ísis criou um falo ar-
tificial com caules vegetais. Ísis, Néftis e
anúbis procedem então à prática da pri-
meira mumificação. Ísis transforma-se
em seguida num milhafre que, graças
ao bater das suas asas sobre o corpo de
Osíris, cria uma espécie de ar mágico que
acaba por ressuscitá-lo; ainda sob a for-
ma de ave, Ísis une-se sexualmente a Osí-
ris e desta cópula resulta um filho, o deus
Hórus. Ísis deu à luz este filho numa ilha
do Delta, escondida de Set. A partir de
então, Osíris passou a governar apenas o
mundo dos mortos. Quanto ao seu filho,
conseguiu derrubar Set e passou a reinar
sobre a Terra.
b)Transdisciplinar o conhecimento
Ideias como o tear, o tecer redes, o bricolar...
o diálogo, os encontros cognoscentes.Trago
uma frase do professor Ubiratan D’Ambrosio
acerca da transdisciplinaridade, para poten-
cializar este desafio que a nós, educadoras e
educadores, se coloca:
O essencial na transdisciplinaridade re-
side numa postura de reconhecimento
de que não há espaço e tempo culturais
privilegiados que permitam julgar e hie-
rarquizar, como mais correto ou mais
certo ou mais verdadeiro, complexos de
explicação e convivência com a realida-
de que nos cerca. A transdisciplinarida-
de repousa sobre uma atitude aberta,
de respeito mútuo e mesmo humildade,
com relação a mitos, religiões e sistemas
de explicações e conhecimentos, rejei-
tando qualquer tipo de arrogância e pre-
potência. A transdisciplinaridade é, na
sua essência, transcultural. Exige a par-
ticipação de todos, vindos de todas as re-
giões do planeta, de tradições culturais
e formação e experiência profissional as
mais diversas40.
Trago, já que dialogo com educadoras(es)
no seu sentido amplo, a história de Ananse41
como ilustração e consequências deste des-
membramento:
Houve um tempo em que na Terra não ha-
via histórias para se contar, pois todas per-
tenciam a Nyane, o Deus do Céu. Kwaku
Ananse, o Homem Aranha, queria comprar
as histórias de Nyame, o Deus do Céu, para

45
contar ao povo de sua aldeia, então, por
isso, um dia, ele teceu uma imensa teia de
prata que ia do céu até o chão e por ela
subiu.
Quando Nyame ouviu Ananse dizer que
queria comprar as suas histórias, ele riu
muito e falou: – O preço de minhas histó-
rias, Ananse, é que você me traga Osebo,
o leopardo de dentes terríveis; Mmboro, os
marimbondos que picam como fogo, e Mo-
atia, a fada que nenhum homem viu.
Ele pensava que, com isso, faria Ananse de-
sistir da ideia, mas esse apenas respondeu:
– Pagarei seu preço com prazer, e ainda lhe
trago Ianysiá, minha velha mãe, sexta filha
de minha avó.
Novamente o Deus do Céu riu muito e fa-
lou: – Ora, Ananse, como pode um velho
fraco como você, tão pequeno, tão peque-
no, pagar o meu preço?
Mas Ananse nada respondeu, apenas des-
ceu por sua teia de prata que ia do Céu
até o chão para pegar as coisas que Deus
exigia. Ele correu por toda a selva até que
encontrou Osebo, o leopardo de dentes ter-
ríveis. – Aha, Ananse! Você chegou na hora
certa para ser o meu almoço. – O que tiver
de ser será – disse Ananse. Mas primeiro
vamos brincar do jogo de amarrar? O le-
opardo, que adorava jogos, logo se interes-
sou: – Como se joga este jogo? – Com cipós,
eu amarro você pelo pé com o cipó, depois
desamarro, aí é a sua vez de me amarrar.
Ganha quem amarrar e desamarrar mais
depressa, disse Ananse. – Muito bem, ros-
nou o leopardo, que planejava devorar o
Homem Aranha assim que o amarrasse.
Ananse, então, amarrou Osebo pelos pés, e
quando ele estava bem preso, pendurou-o
amarrado a uma árvore dizendo: –Agora
Osebo, você está pronto para encontrar
Nyame, o Deus do Céu.
Aí, Ananse cortou uma folha de bana-
neira, encheu uma cabaça com água
e atravessou o mato alto até a casa de
Mmboro. Lá chegando, colocou a folha
de bananeira sobre sua cabeça, der-
ramou um pouco de água sobre si, e o
resto sobre a casa de Mmboro, dizendo:
– Está chovendo, chovendo, chovendo,
vocês não gostariam de entrar na mi-
nha cabaça para que a chuva não estra-
gue suas asas? – Muito obrigado, Muito
obrigado!, zumbiram os marimbondos,
entrando para dentro da cabaça que
Ananse tampou rapidamente.
O Homem Aranha, então, pendurou a
cabaça na árvore junto a Osebo dizendo:
40 Ubiratan D’Ambrosio.Transdisciplinaridade e a proposta de uma nova universidade. http://vello.sites.uol.com.br/meta.htm Acesso em 24/07/2011.
41 http://pt.wikipedia.org/wiki/Ananse Acesso em 24/07/2011.

46
– Agora, Mmboro, você está pronto para
encontrar Nyame, o Deus do Céu.
Depois, ele esculpiu uma boneca de ma-
deira, cobriu-a de cola da cabeça aos
pés, e colocou-a aos pés de um flam-
boyant onde as fadas costumam dan-
çar. À sua frente, colocou uma tigela de
inhame assado, amarrou a ponta de um
cipó em sua cabeça, e foi se esconder
atrás de um arbusto próximo, seguran-
do a outra ponta do cipó e esperou. Mi-
nutos depois chegou Moatia, a fada que
nenhum homem viu. Ela veio dançando,
dançando, dançando, como só as fadas
africanas sabem dançar, até aos pés do
flamboyant. Lá, ela avistou a boneca e
a tigela de inhame. – Bebê de borracha.
Estou com tanta fome, poderia dar-me
um pouco de seu inhame?
Ananse puxou a sua ponta do cipó para
que parecesse que a boneca dizia sim
com a cabeça; a fada, então, comeu
tudo, depois agradeceu: – Muito obriga-
da, bebê de borracha.
Mas a boneca nada respondeu, e a fada,
então, ameaçou: – Bebê de borracha, se
você não me responde, eu vou te bater.
E como a boneca continuasse parada,
deu-lhe um tapa ficando com sua mão
presa na sua bochecha cheia de cola.
Mais irritada ainda, a fada ameaçou de
novo: – Bebê de borracha, se você não
me responde, eu vou lhe dar outro tapa.
E como a boneca continuasse parada,
deu-lhe um tapa ficando, agora, com as
duas mãos presas. Mais irritada ainda,
a fada tentou livrar-se com os pés, mas
eles também ficaram presos. Ananse, en-
tão, saiu de trás do arbusto, carregou a
fada até a árvore onde estavam Osebo e
Mmboro, dizendo: – Agora, Moatia, você
está pronta para encontrar Nyame, o
Deus do Céu.
Aí, ele foi à casa de Ianysiá, sua velha
mãe, sexta filha de sua avó e disse: –
Ianysiá, venha comigo, vou dá-la a Nya-
me em troca de suas histórias.
Depois, ele teceu uma imensa teia de prata
em volta do leopardo, dos marimbondos e
da fada, e uma outra que ia do chão até o
Céu e por ela subiu carregando seus tesou-
ros até os pés do trono de Nyame. – Ave
Nyame! – disse ele. – Aqui está o preço
que você pede por suas histórias: Osebo, o
leopardo de dentes terríveis, Mmboro, os
marimbondos que picam como fogo, e Mo-
atia, a fada que nenhum homem viu. Ainda
lhe trouxe Ianysiá, minha velha mãe, sexta
filha de minha avó.
Nyame ficou maravilhado, e chamou to-
dos de sua corte dizendo: – O pequeno
Ananse trouxe o preço que peço por mi-

47
nhas histórias, de hoje em diante, e para
sempre, elas pertencem a Ananse e serão
chamadas de histórias do Homem Ara-
nha! Cantem em seu louvor!
Ananse, maravilhado, desceu por sua teia
de prata levando consigo o baú das histó-
rias até o povo de sua aldeia, e quando ele
abriu o baú, as histórias se espalharam pe-
los quatro cantos do mundo vindo chegar
até aqui.
Destaco este item, pois acreditamos que a
vida precisa ser colocada à frente dos conhe-
cimentos, das disciplinas, dos meios de co-
municaçao, das técnicas, das ferramentas,
do status. Estes só têm sentido se estiverem
a favor e não contra a existência, qualquer
existência.
8) Rever conceitos e valores
Há muito tempo ouço educadores dizerem
que os/as estudantes oriundos/as das classes
populares não têm valores, não têm cultu-
ra ou estas são menores. Esta escuta sensí-
vel ao que docentes dizem sobre discentes,
como as/os avaliam, como as/os tratam, tem
me despertado interesse, seja em qual dos
lados se encontrem as/os docentes ou como
transitem neste espectro que vai da desqua-
lificação total ao respeito total a estas/es
estudantes. Com esta escuta, aprendi que o
cotidano escolar é mais complexo e amalga-
mado do que imaginamos, não sendo pos-
sível separar o joio do trigo, pois em cada
um de nós existem joio e trigo. Aprendi tam-
bém, nestas buscas de inclusão, a ver e rever
valores e conceitos pertencentes a grupos
não hegemônicos na sociedade e na escola.
A compreensão e o aprendizado destes va-
lores como pedagógicos e didáticos podem
ajudar-nos a enfrentar o cronificado quadro
de produção e reprodução de desigualdades
na nossa sociedade. Conhecer quem somos e
de onde viemos, o que nos constitui cultural-
mente, pode ser de grande valia.
9) Reaprender a aprender
Como docentes, diante de perspectivas mul-
ticulturais e transdisciplinares, inovadoras
e inclusivas, é inevitável reaprendermos a
aprender, buscarmos o prazer do conhecer
e reconhecer o mundo.
Por exemplo, ou a título de ilustração, esta
capacidade de voltar atrás para reconstituir
algo que ficou pendente, para que possa-
mos seguir carregadas(os) energeticamente,
com a energia vital equilibrada, não é nova,
povos africanos, os acã da África ocidental
(notadamente os asante de Gana), nos ofe-
recem os Adinkras, um entre vários sistemas
de escrita africanos. Os adinkras representam
ideias expressas em provérbios. Além da repre-
sentação grafada, são estampados em tecidos
e adereços, esculpidos em madeira ou em pe-
ças de ferro para pesar ouro42.
10) Redescobrir o humano em nós e nas
outras pessoas

48
(…) um ser racional e irracional, capaz
de medida e desmedida; sujeito de afeti-
vidade intensa e instável. Sorri, ri, chora,
mas sabe também conhecer com objeti-
vidade; é sério e calculista, mas também
ansioso, angustiado, gozador, ébrio, ex-
tático; é um ser de violência e de ternu-
ra, de amor e de ódio; é um ser invadi-
do pelo imaginário e pode reconhecer o
real (...); que secreta o mito e a magia,
mas também a ciência e a filosofia; que
é possuído pelos deuses e pelas Ideias,
mas que duvida dos deuses e critica as
Ideias; nutre-se dos conhecimentos com-
provados, mas também de ilusões e de
quimeras 43.
Poderíamos trazer aqui várias outras pesso-
as para fortalecer este item:
Bell Hooks, com sua perspectiva de trazer o
amor para nossas vidas:
Quando nós, mulheres negras, expe-
rimentamos a força transformadora
do amor em nossas vidas, assumimos
atitudes capazes de alterar completa-
mente as estruturas sociais existentes.
Assim, poderemos acumular forças para
enfrentar o genocídio que mata diaria-
mente tantos homens, mulheres e crian-
ças negras. Quando conhecemos o amor,
quando amamos, é possível enxergar
o passado com outros olhos; é possível
transformar o presente e sonhar o fu-
turo. Esse é o poder do amor. O amor
cura44.
Maria Beatriz Nascimento, em um trabalho
sobre Quilombo (1993)45:
A filosofia bantu, da força vital, perma-
neceu até hoje no modo de ser do brasilei-
ro. A aparente aceitação das dificuldades
baseia-se justamente naquela filosofia,
que impõe a que se desempenhe a vida,
fortalecendo-a no corpo físico e na mente
como “instrumento de luta”. Assim, as
religiões afro-brasileiras de origem ban-
tu ou nagô (etnias da África Ocidental)
sincretizaram-se para fornecer aos seus
adeptos o princípio desta força que fun-
ciona como ‘máquina-de-guerra’ exis-
tencial e física. Marcando-se, como no
quilombo ancestral, por ritos iniciáticos,
o fortalecimento do indivíduo como um
território que se desloca no campo geo-
gráfico, incorporando um paradigma
vivo e atuante no território americano
fundado pelos seus antepassados escra-
vos e quilombolas. Agindo nos seus locais,
42 http://ipeafro.org.br/home/br/acoes/17/17/adinkra/ Acesso em 24/07/2011.
43 Edgar Morin, op cit.
44 Por Bell Hooks - “O amor cura” http://primeiropovo.blogspot.com/2009/06/por-bell-hooks-o-amor-cura.html Acesso em 24/07/2011.
45 Mimeografado.

49
seja no “terreiro” místico, nas comunida-
des familiares, nas favelas, nos espaços
recreativos (manifestando a música de
origem africana, afro-americana ou afro-
brasileira), os povos africanos da América
provocam mudanças nas relações raciais
e sociais.
Elisa Lucinda, com sua ‘Libação’46:
(...)
A vida não tem ensaio
mas tem novas chances.
Viva a burilação eterna, a possibilidade:
o esmeril dos dissabores!
Abaixo o estéril arrependimento
a duração inútil dos rancores.
Um brinde ao que está sempre nas
nossas mãos:
a vida inédita pela frente
e a virgindade dos dias que virão!
Preferimos, contudo, parar de encher este
bornal, que para se construir me possibili-
tou aprender mais sobre esta temática, com
a questão que permanece:
46 http://www.elisalucinda.com.br/bau/libacao.htm Acesso em 24/07/2011.
como, numa perspectiva inclusiva, não hierárquica, sem racismo, sem machismo, trabalhar
com a alteridade, a multiculturalidade, no cotidiano escolar? E, no caso deste texto, tendo a
televisão como parceira?

50
3.4 “Isso vem do começo do mundo!” – DADos e AnotAções soBre A CulturA populAr
Carlos Rodrigues Brandão47
Alessandra Fonseca Leal48
É da água, é do fogo; é do princípio do mundo.
Antônio Silvério – mestre ferreiro49
aLGuMaS PaLavRaS iniciaiS
A primeira parte do título deste texto pode
parecer estranha, mas tem a sua razão de
ser. O fato de que esteja entre aspas também.
Quando perguntamos a alguém sobre a ori-
gem e a autoria de uma música, de um “can-
torio” de rituais tradicionais do catolicismo
popular, como uma Folia de Santos Reis, ou
um Terno de Congos ou de Moçambiques,
um conto antigo, uma lenda ou mesmo uma
receita de doce caseiro, não é raro receber,
como resposta, que não se sabe por comple-
to quem é o autor. A seguir, alguém sempre
remete a origem dessas produções culturais
a tempos imemoriais. “Isso vem do começo
do mundo”. Uma fórmula algo mais realista
e próxima é também costumeira: “Isso veio
do tempo dos nossos antigos”. Pode mesmo
acontecer que uma forma de oração, um
canto ou uma sequência de dança devocio-
nal, como a da Função de São Gonçalo, seja
atribuída a um ser sacralizado, que pode ir
do santo cuja dança celebra a sua memória
à própria divindade.
Em outras situações – e elas são múlti-
plas, variadas e frequentes – a autoria de
algo a que, de modo geral, denominamos
como folclore, tradições populares, cultura(s)
popular(es), e, de alguns anos para cá, patri-
mônio cultural, patrimônio cultural imaterial,
costuma ser apontada uma autoria nomi-
nada, individual, familiar, ou coletivamen-
te corporada. Alguém já falecido há longo
ou há pouco tempo, mas cujas criações de
autoria são atestadas e comunitariamente
reconhecidas, ou alguém ainda vivo. Um
“mestre de Folia do Divino Espírito Santo”,
um notável “capitão de terno de moçambi-
47 Antropólogo, professor visitante da Universidade Federal de Uberlândia, como bolsista senior da CAPES. Coordenador do Projeto Etnocartografias do Rio São Francisco.
48 Mestranda em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia.
49 Entrevista concedida para o livro coordenado por Olavo Romano: Mestres Minas Ofícios Gerais – resgate cultural do artesanato mineiro – Araxá, publicado pelo SEBRAE-MG, Belo Horizonte, em 2000 (página 29).

51
ques”, um folgazão violeiro e improvisador
de quadras da dança (ou “folga”, ou “fun-
ção”) de São Gonçalo. De igual maneira, to-
ques de viola, músicas sertanejas, criações
artesanais de palha, madeira ou barro, recei-
tas de cura popular patrimonial, receitas de
“comidas típicas” oscilam, de Sul a Norte do
Brasil, entre o anonimato absoluto, a auto-
ria mítica e a autoria humana reconhecida e
certificada.
Assim também, criações populares de todos
os tipos e padrões podem ser atribuídas, al-
gumas vezes, à criação, ao “dom”, à pos-
se ou mesmo à propriedade de uma pessoa
única, de um par de autores, de uma família,
de uma descendência familiar – “começou
com o pai de meu avô e segue comigo que
estou ensinando aos meus filhos” – e outras
vezes a uma parentela ampliada, a uma con-
fraria profana ou religiosa, ou mesmo a uma
comunidade.
Na verdade, quando estudamos a história
da arte em todo o mundo e ao longo das
eras, vemos que o reconhecimento de uma
autoria e os direitos devidos a esta autoria
reconhecida variavam muito. Bach e outros
músicos anteriores à sua época, ou posterio-
res a ela, nem sempre assinavam as partitu-
ras de suas músicas. Livros e folhetos do que
veio a ser o romance moderno circulavam
entre elite e povo sem qualquer nome de au-
tor. O mesmo acontecia em alguns tempos e
lugares com obras de artes plásticas.
Este texto não versa sobre a dimensão
mais própria e diretamente antropológica
da questão do patrimônio cultural imate-
rial. Isto será feito em um outro momento
e em dimensões mais amplas. Ele trata da
sua dimensão mais sociopolítica. Ou seja,
procura dar conta de definir, relacionar e
compreender alguns conceitos situados en-
tre a cultura popular e o patrimônio cultu-
ral imaterial. E isto será realizado em outro
momento através de uma talvez enfadonha,
mas necessária reconstrução da trajetória
que, iniciada na UNESCO e em processo em
inúmeras nações em todo o mundo e, de
maneira especial, em nosso caso, no Brasil,
gerou e segue gerando propostas, projetos e
políticas. Lembremos, no entanto, que aqui
mesmo, no Brasil de agora, há um crescente
interesse por este intervalo entre a cultura
popular e o patrimônio cultural imaterial. Vá-
rios documentos governamentais de âmbito
federal, estadual ou mesmo municipal têm
sido editados. E vários artigos, escritos tan-
to por profissionais vinculados a entidades
culturais governamentais, quando a institui-
ções acadêmicas ou mesmo a organizações
não-governamentais relacionadas à arte e
cultura, têm sido escritos e colocados em
diálogo.
1. DO FOLcLORE à cuLTuRa
POPuLaR
Recuemos alguns passos... Sabemos já que
uma parte bastante significativa disto, a que

52
se dá agora o nome de patrimônio cultural
imaterial, recebeu em outros tempos – nem
tão passados assim – e segue recebendo até
hoje nomes como: antiguidades, tradições
populares, folclore (folk-lore), cultura tradi-
cional (primitiva, iletrada, rústica, camponesa
etc.), cultura patrimonial, cultura popular.
Da parte do que poderíamos, por uma con-
trovertida oposição, chamar de cultura erudi-
ta, cultura letrada, cultura acadêmica, cultura
hegemônica ou mesmo cultura dominante, o
reconhecimento de que “as gentes do povo”
também são criadoras e possuem formas pró-
prias ou apropriadas de cultura é tardio. Ele
surge em algumas áreas da Europa no século
XVIII, mas torna-se tema de pesquisa e teoria
apenas ao longo do século XIX. O romantismo
tem aí um lugar muito importante.
O reconhecimento da existência e da plura-
lidade de culturas populares vem associado
ao reconhecimento – sob as mais divergen-
tes interpretações – de que tal fato se deve
a desníveis sociais que acompanham a pró-
pria trajetória das sociedades autoprocla-
madas como civilizadas. Mas é o interesse
pelo exótico entre o ancestralmente orien-
tal e o primitivamente selvagem que sugere
a alguns pioneiros europeus o estudo das
culturas “outras” de seus próprios mundos
sociais. Foi necessário ao europeu letrado
“descobrir” primeiro que os selvagens das
Américas e da África possuíam culturas, con-
sideradas primitivas, para se admitir que os
camponeses de suas nações também possu-
íam as suas culturas tradicionais, populares.
Desde então é presente, ainda, e depende,
como sempre, das diferenças de olhares e de
teorias, uma interminável discussão sobre os
fundamentos e o grau de autonomia das di-
versas formas de realizações de culturas po-
pulares. O que não deverá parecer algo sem
sentido, se nos lembrarmos que o debate
sobre a substância e o significado da própria
cultura é até hoje – e hoje mais do que nunca
– uma questão aberta entre os estudiosos, a
começar pelos próprios antropólogos.
Chama a atenção o fato de que dois historia-
dores europeus, muito conhecidos no Brasil,
recorrem a um mesmo estudioso anterior,
para lembrar que mais do que uma separa-
ção em camadas superpostas, ou mais do que
uma “dominação” relativa ou absoluta das
culturas eruditas sobre as populares, o que
parece ter havido sempre é uma relação de
circularidade entre atores, autores e padrões
ou sistemas de e entre culturas. O autor lem-
brado é Mickhail Bakhtin, e os historiados
que o recordam nas páginas introdutórias de
seus respectivos livros são Carlo Ginzburg e
Peter Burke50. Não serão os únicos.
50 Ver o prefácio à edição italiana de O queijo e os vermes, de Ginzburg e os três primeiros capítulos da parte 1: Em busca da cultura popular, de Cultura popular na idade moderna, de Peter Burke.

53
Deve chamar também a nossa atenção o fato
de que diante das intermináveis incertezas
a respeito do tema de seu estudo, logo no
primeiro parágrafo do prólogo, Peter Burke
opte por definir a cultura popular pelo que
ela não é.
Quanto à cultura popular, talvez seja
melhor de início defini-la negativamen-
te, como uma cultura não-oficial, a cul-
tura da não-elite, das “classes subalter-
nas, como chamou-as Gramsci51.
Retornemos ao Brasil. Durante anos que
vão pelo menos de nossos escritores e raros
estudiosos de um romantismo em versão
brasileira aos primeiros escritores regiona-
listas, o interesse pelas diferentes criações
de culturas populares coube aos primeiros
folcloristas. É com as suas pesquisas pionei-
ras que uma outra face do que se cria como
cultura de Norte a Sul do Brasil começou a
tomar uma forma sistemática. Entre Cecília
Meireles, Mário de Andrade, Câmara Cascu-
do e Alceu Maynard de Araújo, para ficarmos
apenas em quatro nomes dentre uma quan-
tidade apreciável de outros homens e mu-
lheres que tanto no passado, nos meados de
século XX, quanto até hoje, produziram e se-
guem elaborando estudos que apenas uma
compreensão empobrecida de seu trabalho
poderia classificar como passadista ou não
científico52. Comissões estaduais de folclore e
a Comissão Nacional do Folclore seguem rea-
lizando um trabalho nem sempre visível, mas
ainda de extrema relevância a respeito de cul-
turas dos povos do país.
Por volta dos anos 1960, uma nova pro-
posta a respeito da cultura popular surge
no Brasil e em pouco tempo difunde-se
por uma vasta área da América Latina. É
importante lembrar o que representaram
os movimentos de cultura popular dos anos
1960 para compreendermos o intervalo
existente entre o fecundo trabalho dos
folcloristas e também dos pesquisadores
dos “estudos de comunidade”, no Brasil,
dos movimentos de estudo e militância da
e através da cultura e, deles, aos temas
e dilemas de nossos dias, no que toca à
cultura popular.
Segundo os termos próprios dos documen-
tos “daquele tempo”, a vocação para o tra-
balho de transformar e significar o mundo
em que se vive, e em que se reproduz, é a
mesma vocação de transformar e significar
o próprio ser humano. Ele envolve uma prá-
tica biologicamente coletiva e socialmente
cultural. Realiza-se como uma ação social-
mente necessária e motivada.
51 Peter Burke, op. cit. p. 15.
52 O SESC editou recentemente em um volume único, com cinco CDs, os registros sonoros da “missão cultural” de Mário de Andrade em suas viagens de pesquisa pelo Brasil.

54
A própria sociedade em que o indivíduo
converte-se em uma pessoa humana é uma
realização de sua cultura, no sentido mais
amplo que é possível atribuir a esta palavra.
De igual maneira, tudo o que envolve a iden-
tidade e a própria consciência humana, aqui-
lo que permite ao ser humano não apenas
conhecer, como os animais, mas conhecer-se
conhecendo – o que lhe faculta transcender
simbolicamente o mundo da natureza de que
é parte e sobre o qual age – é uma construção
social que acompa-
nha, ao longo de sua
história, o acontecer
do trabalho humano
ao ‘sair-de-si’, unir-se
a outros e agir sobre
o seu mundo e sobre
si mesmo.
A principal crítica
aos estudiosos das
culturas tradicionais
no início dos anos 1960 não era muito dife-
rente daquela que, muitos anos antes, Karl
Marx fizera aos filósofos de seu tempo. Foi
grande o esforço para compreender modos
de vida e formas de ser, sentir, viver, criar e
pensar de camponeses, pescadores e outras
categorias de pessoas e de grupos humanos
criadores de nossas “tradições populares”.
Mas também homens e mulheres subalter-
nos, “dominados” (palavra frequente então)
e pertencentes às classes populares. Era che-
gado o tempo de fazer essas culturas, que
agora recebiam outros nomes, como “subal-
ternas”, “oprimidas”, “alienadas”, “domi-
nadas”, não apenas falarem de si e de seus
mundos, através de seus contos e cantos,
mas dizerem de modo agora crítico e con-
tundente algo sobre a sua condição social.
Era preciso torná-las – e aos seus atores/au-
tores – conscientes (outra palavra cara e fre-
quente, então) de sua própria condição, mas
também de seu poder. Era urgente transpor
para um plano político aquilo que até então
havia sido estuda-
do e compreendido
como algo apenas
residualmente cul-
tural.
Assim, fundada em
ideologias e asso-
ciada à “frente de
luta” e a movimen-
tos entre reforma-
dores e revolucio-
nários da sociedade nacional, uma outra
cultura popular pretendeu ser um corpo de
ideias e práticas renovadoras e questionado-
ras em vários planos. Usando a mesma ex-
pressão corrente na Europa desde o século
XIX, a proposta dos movimentos de cultura
popular (MCPs) dos anos iniciais da década
de 1960 redimensiona o valor original da cul-
tura popular, tal como pensada, antes, sob o
nome de folclore. Culturas de segmentos do
povo brasileiro.
A própria sociedade em que
o indivíduo converte-se em
uma pessoa humana é uma
realização de sua cultura,
no sentido mais amplo que
é possível atribuir a esta
palavra.

55
A oposição social entre modos sociais de
participação na cultura é o que explica a
existência e o modo de realizar-se da cultura
popular. No interior de sociedades desiguais
e excludentes, esta é uma das dimensões de
universalização da cultura que é negada, a
partir de suas diferenças assumidas, mas
não de suas desigualdades impostas. E não
raro são justamente aqueles que não a pra-
ticam – e, muitas vezes, limitam-se a estu-
dá-las, compreendê-las, classificá-las, agir
“sobre” elas – que
criam a própria ideia
de culturas populares,
entre outras. Nos ter-
mos dos movimentos
de cultura popular,
o povo deveria ser
compreendido como
autor, ator e consu-
midor de sua própria
experiência cultural,
aquela que traduz a
sua existência de criador.
Mas de um criador subalterno, subordinado.
Ao mesmo tempo em que “reflete” a origi-
nalidade de seu próprio modo de vida, uma
cultura popular é, também ela, subalterna.
E aqui é fácil encontrar o eco da forte pre-
sença do pensamento de Antônio Gramsci,
um autor e militante bastante lido e citado,
inclusive, por Paulo Freire, talvez o principal
porta-voz dos movimentos de cultura e de
educação popular dos anos 1960.
Ao lado do domínio político direto exercido
pelas diversas instituições do poder sobre a
vida social, existe um controle que é exercido
pela “cultura dominante” sobre uma múlti-
pla “cultura dominada”. De muitos modos
e através de diversos artifícios de comuni-
cação e de inculcação de palavras, valores e
ideias, realiza-se um “trabalho” contínuo de
bloqueio e cooptação das diferentes “mani-
festações populares”, de tudo aquilo que “o
povo vive e cria”, que pudesse vir a expres-
sar a sua condição
de classe e um ho-
rizonte de eman-
cipação popular. O
domínio da cultu-
ra erudita sobre a
popular seria um
processo. Ele mobi-
lizaria recursos, ca-
nais, meios, pesso-
as especializadas,
grupos de controle,
de propaganda, de educação. Ele inovaria
meios, recursos e tecnologias, ampliaria e
testaria com frequência crescente as suas
estratégias de comunicação. Assim, agiria
em nome de um absorver, retraduzir, e esva-
ziar invasoramente os domínios e formas de
expressão das criações patrimoniais do povo.
Assim sendo, os diferentes setores das classes
populares reproduzem, como sendo sua, uma
cultura “culturalmente” mesclada e situada
fora do eixo da identidade das classes popu-
Nos termos dos
movimentos de cultura
popular, o povo deveria
ser compreendido como
autor, ator e consumidor
de sua própria experiência
cultural, aquela que traduz
a sua existência de criador.

56
lares. Uma cultura politicamente dominada
e externa ao processo político de gestão do
poder. Uma cultura, enfim, simbolicamen-
te alienada e colocada fora do eixo de uma
consciência crítica53. Dentro desta situação,
não sendo conscientizado pela sua própria
cultura, o povo não poderá sê-lo por outro
qualquer meio usual na conjuntura de do-
minação. E, no entanto, somente a partir da
ação conscientizada e organizada das clas-
ses populares é legítimo imaginar a possibi-
lidade de um projeto de libertação de todas
as esferas de domínio na sociedade de clas-
ses. E, compreendia-se, então, que uma das
frentes de luta neste sentido seria, propria-
mente, politicamente cultural. E seria, ain-
da, culturalmente educativa. Daí o lugar ati-
vo de movimentos e de processos de cultura
popular e a sua associação com instituições
dedicadas à educação popular.
2. Da cuLTuRa POPuLaR aO
PaTRiMôniO cuLTuRaL
Temos hoje uma lembrança fragmentada e
fugidia do que foram os nossos estudiosos
folcloristas, como Mário de Andrade e Câma-
ra Cascudo, tanto quanto cientistas sociais
em algum momento dedicados a estudos de
criações populares, como ninguém menos
do que Florestan Fernandes e Maria Isaura
Pereira de Queirós. Temos também uma es-
quecida memória do que representaram, em
seu tempo, os movimentos de cultura popu-
lar e seus derivados: as experiências inova-
doras de educação popular; o alvorecer do
cinema novo no Brasil; o teatro do oprimido,
de Augusto Boal; as iniciativas dos centros
populares de cultura espalhados por quase
todo o Brasil de então. Diversas experiên-
cias, depois severamente reprimidas pelos
governos militares, a partir mesmo de 1964,
de que, de um modo ou de outro, todas as
atuais alternativas de políticas culturais ino-
vadoras são herdeiras. Em boa medida, fora
preciosas exceções, os estudos realizados a
respeito da história ou “de histórias” sobre
formas patrimonial-populares de criação e
vivência de cultura são marcados por cruza-
mentos ideológicos (não raro sob o disfarce
de serem científicos), ou fazem concessões
indevidas ao um certo “espírito de época”.
De tal sorte que são raros os casos em que
uma visão completa e envolvente está por
ser realizada.
Dada a brevidade deste estudo, dentre os
diferentes acontecimentos importantes na
“área da cultura” queremos recordar aqui
apenas quatro. Eles talvez sejam os mais
relevantes em uma era que vai do final dos
anos 1960 até o presente momento.
O primeiro envolve um lento e muito varia-
do processo de autorreconhecimento e, em
53 Talvez o livro em que esta ideia aparece com maior vigor, de acordo com os termos, críticas e propostas dos anos 1960, seja o livro escrito pelo educador Paulo Freire, quando já no exílio no Chile: Pedagogia do Oprimido.

57
alguns casos de organização de unidades,
grupos, e até mesmo associações locais ou
mesmo regionais de cultura popular. Criado-
res individuais e/ou corporados de modali-
dades de culturas patrimoniais reconhecem-
se, aproximam-se por iniciativa própria ou
com diferentes tipos de ajudas “de fora” .
Aqui e ali surgem pequenas unidades sociais
em nome de artis-
tas e artesãos popu-
lares, de unidades
de rituais popula-
res, como as Com-
panhias de Santos
Reis ou as Associa-
ções de Congos e
de Moçambiques,
dos festejos de São
Benedito ou de
Nossa Senhora do
Rosário. O trabalho
criador popular dei-
xa de ser folclorica-
mente “anônimo”
e os seus criadores
– autores e/ou ato-
res – identificam-se
e são reconhecidos.
Este processo acompanha um outro e é in-
dissociável dele. Falamos de todo um neoa-
contecer que não raro ocupa manchetes de
jornais. Desde povoações de morros do Rio
de Janeiro, antes chamadas de “Favela da Ro-
cinha” e agora autoidentificadas como “Co-
munidade da Rocinha”, até populações dos
“fundos do sertão” ou dos ermos da Amazô-
nia, vemos comunidades indígenas, quilom-
bolas, vazanteiras, veredeiras, de “fundo de
pasto”, em pouco tempo, passarem de aglo-
merados tão escondidos quanto possível
“dos poderosos”, a comunidades populares
organizadas, a unidades sociais de teor polí-
tico-cultural, desde o
âmbito de ação local
até as redes regionais
ou mesmo nacionais,
formando categorias
étnicas, profissionais
ou territoriais de ati-
va luta por seus direi-
tos. E não apenas o
direito de salvaguar-
da de suas terras e
territórios, mas de
todo um modo pe-
culiar de vida. Uma
cultura, ou um entre-
cruzamento de cultu-
ras.
Populações, povoa-
ções, comunidades estão agora com um pé
fincado na terra de suas mais arcaicas e va-
lorizadas “tradições” e o outro fixado, cada
vez mais, em tudo aquilo que é novo, ativa-
mente presente e participante, presencial e
virtual, político e formador de novas alter-
nativas de empoderamento e representativi-
dade.
Populações, povoações,
comunidades estão agora
com um pé fincado na
terra de suas mais arcaicas
e valorizadas “tradições”
e o outro fixado, cada vez
mais, em tudo aquilo que é
novo, ativamente presente
e participante, presencial e
virtual, político e formador
de novas alternativas
de empoderamento e
representatividade.

58
Mais do que isto. Pessoas e grupos territo-
riais, étnicos e culturais que começam agora
a ‘falar-por-si-mesmos’, a produzirem e leva-
rem a congressos acadêmicos ou ao Con-
gresso Nacional as suas próprias palavras.
Podemos acreditar que a composição social
de comissões locais, estaduais e nacionais
“de cultura” – assim como as “de saúde”,
“de educação” ou “de meio ambiente” – so-
frerão, em pouco tempo, urgentes e justas
mudanças.
O segundo acontecimento traz de volta as
ideias não apenas de Mickhail Bakhtin, lem-
bradas por Ginzburg e Burke, a que nos refe-
rimos anteriormente, mas de vários outros
estudiosos da cultura, que antes e depois
dele tratam de estabelecer, ao mesmo tem-
po, as fronteiras entre as diferentes moda-
lidades de culturas e as contínuas quebras,
rupturas e mútuas incursões entre “um lado
e o outro”. De um lado, assistimos a um di-
álogo, ora necessário e fecundo, ora arbitrá-
rio e ameaçador, entre diferentes criadores e
agentes de/entre culturas. Entre o erudito e
o popular – ou o folclórico e suas variações
– de antes, há um alargamento de mútuos
territórios culturais e de fronteiras no inte-
rior da própria ideia de “popular”. A fórmula
MPB, “música popular brasileira” bem tra-
duz este acontecer54.
De um lado, o florescimento de um grande
número de ‘artistas-de-fronteiras’, algumas
vezes autoassumidos como “músicos de ra-
ízes”. Situados aquém e além de possíveis
linhas culturais divisórias (se é que elas exis-
tem) entre Elomar, Dorothy Marques e Mil-
ton Nascimento ou Gilberto Gil, eles levam
a um ponto mais próximo do “propriamente
popular” um intercâmbio entre recriações ou
“interpretações de empréstimo” de músicas
ou de formas de cantar e dizer já bastante co-
nhecidas desde décadas bem passadas. Um
renascer da viola caipira em mãos de músi-
cos como Renato Andrade, Paulo Freire (o
outro), Ivan Vilela ou Pereira da Viola é uma
outra clara e feliz expressão de como o “cai-
pira” pode, em pouco tempo, transitar para
o modernamente “sertanejo” e, dele, ou para
além dele, para uma música que nem por ser
“de viola” deixa de aspirar a fronteira entre o
popular e o francamente erudito.
De outro lado, há a invasão da mídia e da
“massa” sobre qualidades artísticas tradi-
54 Entre nós uma diferença entre o “folclórico” e o “popular” nunca foi claramente resolvida. Afortunadamente, pensamos nós. Em Buenos Aires, em uma loja de artigos musicais, Astor Piazola poderá oscilar entre música erudita e/ou popular. Carlos Gardel e seus CDs de tango estarão na seção de música popular. Já Jorge Cafrune estará na estante de música folclórica. Por outro lado, esta pequena passagem do músico e pesquisador Eduardo Gramani estabelece outras fronteiras: Ao contrário do que se observa com outros instrumentos “brasileiros” que são utilizados na música folclórica, a rabeca quase não participa da chamada “música popular”, mantendo sua atuação restrita (com algumas exceções), às festas religiosas e folclóricas da região. Rabeca, o som inesperado, pesquisa de Eduardo Gramani e organização editorial de Daniella Gramani, também responsável pela publicação em 2002, sem indicação de local. A citação está na página 9, na introdução. Resta perguntar a razão pela qual o autor colocou “música popular” entre aspas e não fez o mesmo com folclórico.

59
cionais das culturas populares. É quando,
em uma direção, é considerado como “raí-
zes” e, em outra, como “sertanejo”, tornado
“country”. É também a transformação for-
çada e forjada de rituais populares em es-
petáculos, desde os “concursos de Folias de
Santos Reis” ao espetáculo “global” do Boi
Bumbá de Parintins. Muito já foi escrito so-
bre os dois acontecimentos, que quebram o
intercâmbio entre fronteiras culturais deste
tipo, em uma ou noutra direções, e ele me-
recerá apenas uma breve lembrança aqui.
O terceiro acontecimento é a “descoberta”
do universo das culturas populares de par-
te de outros estudiosos e pesquisadores que
não são folcloristas e outros interessados
em nossas “tradições populares”. Depois
das incursões francamente pioneiras de
sociólogos, como Maria Isaura Pereira de
Queirós e Florestan Fernandes, lembrados
linhas acima, pelo menos dos anos 1970 em
diante – justamente quando desapareceram
os antecedentes movimentos de cultura po-
pular – em todo o país há um vertiginoso
e durante longo tempo crescente interesse,
primeiro de antropólogos, depois de soció-
logos, historiadores, linguistas e, mais tarde
ainda, até mesmo de neoestudiosos ou espe-
cialistas nos diferentes ramos e campos da
comunicação social, pelas mais diferentes
“manifestações” culturais populares. Das
Folias de Santos Reis ao Carnaval Carioca,
passando pela Capoeira e o Candomblé, o
Cordel e as Estórias de Trancoso, invenções
patrimoniais populares, religiosas ou profa-
nas, são de vários modos re-visitadas e disto
resulta uma produção acadêmica, ou não,
bastante grande e variada.
Finalmente, o quarto acontecimento talvez
seja o que aqui nos interessa mais de per-
to. Justamente quando silenciam ou falam
em surdina as suas vozes de protesto e de
ação política – os MCPs e seus herdeiros de
causa – surgem, sobretudo da parte de agên-
cias governamentais direta ou indiretamen-
te vinculadas à “questão cultural”, as mais
diferentes modalidades de propostas, ações
e políticas culturais. Este, em uma dimen-
são delimitada aqui de propósito, é o objeto
mais próximo deste escrito. Para nos aproxi-
marmos dele teremos que realizar uma es-
pécie de viagem de fora para dentro ou, se
quisermos, do universal para o nacional. Ou,
ainda, da UNESCO e instituições de foro in-
ternacional derivadas, para o Ministério da
Cultura do Brasil. Por enquanto são encon-
tros e ‘documentos-de-encontros’ produ-
zidos em imensa maioria por “gente como
nós”, entre ministérios e universidades.
Mas, do lado “de lá”, do lado daqueles em
nome de quem nos reunimos e falamos, co-
meçam a se elevar vozes que nos desafiam
com a pergunta: “até quando...?”
Entre estas alternativas, algumas experiên-
cias do passado próximo e do presente pa-
recem apontar para horizontes promissores
nesta difícil empreitada que é lidar sem dis-
torcer com as culturas populares, sobretudo
no difícil intervalo entre elas e a educação.

60
Uma experiência passada foi a do Projeto
Interação entre a educação e os diferentes
contextos culturais, levada a efeito pela FU-
NARTE no coração dos anos 1980.
Uma outra, recente e em pleno curso, é a
do Salto para o Futuro. Através dela realiza-
se, passo a passo e sempre de maneira ex-
perimental e transformável, a construção de
vias de mão dupla nas relações entre a esco-
la (dentro e fora da sala de aulas) e as cultu-
ras populares (dentro e fora das escolas). Se
podemos pensar que a educação, a escola e
as salas de aula de crianças e jovens são cada
vez mais (para o bem e para o mal) perpassa-
das e invadidas pelas mais diversas influências,
vindas ou não de um acesso cada vez mais fácil
e perigosamente desmesurado de todas as mí-
dias, por que não lançar mão delas e de seus
mais fecundos momentos e instrumentos para
estabelecer um diálogo entre “o que se apren-
de na escola” e “o que se aprende com a vida”?
Um refrão popular transformado em mar-
chinha de carnaval diz que “inspiração não
se aprende na escola”. Pode ser verdade. E
não seria, se a educação escolar aprender
a inspirar-se mais em formas e alternativas
dialógicas e criativas do que em ‘ensinar-e-
aprender’. No entanto – e agora muito mais
para o bem do que para o mal – aquilo que é
obra dos mais diferentes homens e das mais
diversas mulheres inspiradamente criadoras
de nossas culturas não deve apenas “entrar
na escola pela porta da frente”, como deve
fazer dela também uma sua outra “casa de
cultura”.
REFERênciaS
BRANDÃO, Carlos Rodrigues e Raiane Assump-
ção. A cultura rebelde. Escritos sobre a educa-
ção popular ontem e agora. São Paulo: Editora
e Livraria Instituto Paulo Freire, 2009.
BURKE, Peter. Cultura popular na idade moder-
na. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
FÁVERO, Osmar. Cultura popular e educação po-
pular – memória dos anos sessenta. 2ª edição.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2009.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 2005.
GRAMANI, Eduardo. Rabeca, o som inesperado.
Organizado por Daniella Gramani. Produção
Cultural de Curitiba, 2002.
GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes. São
Paulo: Companhia das Letras, 1987.
QUINTAS, José da Silva. O difícil espelho – limi-
tes e possibilidades de uma experiência de cul-
tura e educação. Brasília: Edições do Patrimô-
nio/IPHAN, 1996.
ROMANO, Olavo. Mestres Minas Ofícios Gerais –
resgate cultural do artesanato mineiro – Araxá.
Belo Horizonte: SEBRAE -MG, 2008.

61
3.5 pArA o sAlto, De umA eDuCADorA
Eleonora Gabriel55
Recebi um convite para festar com o progra-
ma Salto para o Futuro. Em 2011, o progra-
ma completou vinte anos de empenho para
trazer aos educadores e ao público em geral
não só experiências pedagógicas bem suce-
didas, mas, sobretudo, a esperança de que,
apesar de tudo, podemos criar uma escola
feliz, afetiva, conectada com o global, ilu-
minando o local, seu espaço, tempo e suas
gentes.
Participei de vários programas com funções
diferentes, mas sempre conversando sobre
cultura popular brasileira.
Se na minha escola de terceiro grau eu não
tivesse sido sensibilizada para essa sabedo-
ria, para essa cultura que – de tão íntima
– nem sempre a valorizamos como tal, pos-
sivelmente eu não estaria nessa festa, re-
fletindo sobre a valorização de cada um de
nós, como criadores, e o que isso pode signi-
ficar na construção de pessoas mais críticas,
guerreiras, sem perder as raízes e, por isso,
sem perder a ternura.
Falo de expressões humanas que vêm da
vida, de casa, das ascendências que passam
de mão em mão, de boca em boca e nos
constituem como sabedores de algo, que se
fosse ouvido, visto, tocado, saboreado em
seus gostos e cheiros pelas instituições de
ensino, o caminho do conhecimento seria
perfumado de brasilidade.
Tive a oportunidade de construir este aro-
ma lendo Paulo Freire, ouvindo Carlos Ro-
drigues Brandão, Cascia Frade e outros mes-
tres acadêmicos que desenvolveram teorias
e ações inspiradas na pesquisa em campo,
isto é, próximos às pessoas, trocando com
elas saberes e emoções, que é como tento
atuar.
Conheci o programa Salto para o Futuro
por causa dos convites, e as séries que tive
55 Mestre em Ciência da Arte/UFF. Especialista em Folclore Brasileiro-UFRJ, licenciada em Educação Física-UFRJ, professora adjunta da Escola de Educação Física e Desportos-UFRJ. Coordenadora e diretora artística da “Companhia Folclórica do Rio-UFRJ”. Em 2012, a Companhia completou 25 anos.

62
oportunidade de assistir me ensinaram uma
infinidade de coisas, mesmo não sendo es-
pecificamente da minha área.
A primeira vez que fui convidada a participar
do Salto foi numa série sobre Educação Físi-
ca. Eu deveria escrever um texto sobre Rit-
mos e Expressões Culturais, baseado no PCN
da área. E agora? Apesar de desenvolver, há
alguns anos, na época, e até hoje comple-
tando vinte e quatro anos, um projeto aca-
dêmico intitulado Companhia Folclórica do
Rio-UFRJ, que realiza atividades de pesqui-
sa, ensino e extensão sobre dança, teatro e
músicas folclóricas brasileiras, “deu aquele
gelo na barriga”! Mais uma vez, a alegria
e a participação coletiva de meu povo, fa-
zendo arte, me salvaram. Era Carnaval e eu
tinha acabado de assistir ao desfile de Esco-
las de Samba Mirins. Encantada com o que
havia visto e ouvido, fiquei me perguntando
se os professores daquelas crianças sabiam
que elas se expressavam daquele jeito, com
aquela força de fala, de linguagem. E por aí
foi:
Num país em que pulsam a capoeira, o
samba o bumba-meu-boi, o maracatu, o
frevo, o afoxé, a catira, o baião, o xote,
o xaxado, entre muitas outras mani-
festações, é surpreendente o fato de a
Educação Física, durante muito tempo,
ter desconsiderado essas produções da
cultura popular como objeto de ensino
e aprendizagem (PCN 3º e 4º ciclos do
Ensino Fundamental - Educação Física,
p. 71).
Aliás, escrever o que se sente, o que se vive,
tem sido para mim um método para come-
çar uma escrita, que me leva a buscar funda-
mentações teóricas e construir um discurso.
Depois desta exigência que tive a sorte de
receber, continuei, mais estimulada, a pen-
sar sobre como poderia estar trazendo para
meus alunos, futuros professores ou artis-
tas da Escola de Educação Física e Dança
da UFRJ, e para outros, a possibilidade de
enxergar a cultura popular nos seus luga-
res de moradia, trabalho, nas suas histó-
rias pessoais, nas suas comemorações, com
olhos curiosos sobre si e sobre o outro. No
primeiro momento, todos achavam que não
viviam nada disso, mas descobrimos, juntos,
que é só querer investigar que muita histó-
ria será revelada. Os resultados são até hoje
surpreendentes e conseguimos desvelar ou-
tros lados das famílias, dos bairros e de si,
que nos são tão naturais que não percebe-
mos como cultura, como saber. E percebe-
mos como pode ser importante incentivar
em cada um de nós este conhecimento, que
pode ser o mote de processos de ensino e
aprendizagem mais conectados com a vida
real de educandos e educadores. Vale repetir
os dizeres do mestre:
(...) a educação ou a ação cultural para
a libertação, em lugar de ser aquela alie-

63
nante transferência de conhecimento,
é o autêntico ato de conhecer, em que
os educandos – também educadores –
como consciências “intencionadas” ao
mundo, ou como corpos conscientes, se
inserem com os educadores – educandos
também – na busca de novos conheci-
mentos, como consequência do ato de
reconhecer o conhecimento existente
(FREIRE, 1984, p. 99).
Vejamos dois exemplos, todos, por coin-
cidência, ligados a Folias de Reis, manifes-
tação popular muito frequente no Rio de
Janeiro e invisível para a maioria da popu-
lação. Há poucos anos, a Secretaria Estadu-
al de Cultura do Rio de Janeiro organizou
um Encontro de 30 Folias da cidade, coisa
rara, que precisa ser retomada! Nosso grupo
da UFRJ ficou encarregado de apresentar o
evento. Fazendo parte daquele momento de
pura arte e devoção brasileira, havia um Pa-
lhaço de Folia, dançando de forma exemplar
e versejando como gente grande. Era um
menino de oito anos, mulato de cabelo para
o alto e oxigenado, isto é, um garoto como
tantos outros alunos de escolas públicas de
comunidades da cidade maravilhosa. Eu lhe
perguntei: – Palhaço Casquinha (este perso-
nagem geralmente tem apelidos), você gosta
de fazer parte da Folia de Reis?
Ele respondeu: – Gosto sim! Eu, curiosa: – O
pessoal da sua escola sabe que você é Palhaço
e que recita tão bem? Ele disse: – Não. Eu: –
Por quê? Ele: – Ninguém me perguntou! Como
tantos outros, esse pequeno artista e folião,
talvez, tenha dificuldade em ser alfabetiza-
do, em organizar o discurso, em ser discipli-
nado etc. e tal. A escola perde esse potencial.
A outra história é que a Companhia Folcló-
rica do Rio-UFRJ organizou um Encontro de
Reisados, convidando grupos de Pastoris
e Folias de Reis. Uma aluna universitária,
quando chegou ao local da festa, veio me fa-
lar, muito emocionada, pois tinha estudado
numa escola todo o Ensino Fundamental e o
Ensino Médio, e seu filho está nesta escola
agora, e convivera durante todo esse tempo
(e seu filho convive) com “Seu Zé”, zelador
do estabelecimento. E estava vendo-o ali,
fardado, cantando, organizando o grupo de
Folia, um Mestre. Ela disse: – Como eu nun-
ca soube disso? Como minha escola nunca me
contou? Ninguém deve saber, meu Deus! A es-
cola não conhece os talentos de sua comu-
nidade e não identifica e valoriza seus agen-
tes culturais e suas criações. Mas isso não
precisa ser eterno!
Vivemos num supermercado cultural da al-
deia global, que inventa desejos homogêne-
os de estilos, lugares e imagens, buscando
uma massificação, que auxilia a dinâmica
incontrolável do capitalismo e a hegemonia
imperialista, o que para os povos dos países
do Terceiro Mundo ou em desenvolvimen-
to, historicamente desvalorizados por seus
próprios governos, representa o perigo da

64
globalização. Aquela velha história de va-
lorizarmos tudo o que vem de fora e não a
nós mesmos, o que desvincula, mais ainda,
as identidades de seus tempos, lugares, his-
tórias e tradições. O mundo de hoje parece
menor, com certeza, mais interconectado, o
que tem efeito direto sobre as identidades
culturais, influenciando todos os sistemas
de representação de si e do coletivo. Urge
que nós nos (re)conheçamos valorosos! Sen-
do assim, temos a
chance de nos sen-
tirmos pessoas iden-
tificadas umas com
as outras e, ao mes-
mo tempo, distintas
das demais. Assim,
a identidade e a al-
teridade (referente
ao que é do outro),
a similaridade e a
diversidade marcam
o sentimento de per-
tencer ao todo, sen-
do particular.
Difícil saber quem somos se não aprende-
mos na escola o valor cultural e artístico de
nossa formação, que reuniu, e continua reu-
nindo, vários jeitos, conhecimentos e mo-
dos de fazer. E esta mistura de gentes pode
ser nosso grande potencial, potencial criati-
vo, que cria formas de comunicação e arte,
formas de cultura. Somos no plural, preci-
samos cada vez mais criar modos de educar
para a diferença, para a diversidade de nossa
vida, nossa família, nossos alunos, nossa es-
cola, nossa cidade, nosso estado e país.
O Salto para o Futuro me convidou para ou-
tras participações.A última foi em 2011, no
programa sobre DANÇA, coordenado por
Isabel Marques, e pude falar sobre dança
popular e educação, sobretudo o FESTIVAL
FOLCLORANDO, que a Companhia Folclórica
do Rio-UFRJ organi-
za e reúne dezenas
de trabalhos de pes-
quisa e montagem
artística realizados
por crianças e ado-
lescentes da rede
pública e privada
de ensino e projetos
sociais do Estado do
Rio de Janeiro. A ou-
tra oportunidade foi
em 2009, no novo
formato do progra-
ma, quando fui en-
trevistada sobre o papel das universidades
na valorização da Cultura Popular. Falando
também sobre os saberes do povo e sobre
educação, estavam comigo, em entrevis-
tas individuais: Tião Rocha, que realiza um
trabalho em Minas Gerais, de repercussão
internacional, e outro educador represen-
tante do Instituto Paulo Freire. Aquela pro-
fessora assustada da primeira participação
estava ali, depois de alguns anos, compac-
O mundo de hoje parece
menor, com certeza, mais
interconectado, o que
tem efeito direto sobre
as identidades culturais,
influenciando todos os
sistemas de representação
de si e do coletivo. Urge que
nós nos (re)conheçamos
valorosos!

65
tuando com duas celebridades da educação
brasileira. Que salto o Salto para o Futuro
me ajudou a realizar!
Em 2005, tive a oportunidade muito es-
pecial de organizar uma série chamada
“Linguagens Artísticas da Cultura Popu-
lar”, que teve o objetivo de dialogar com
os professores sobre experiências em sala
de aula e em outros ambientes educacio-
nais, na realização de atividades pedagógi-
cas inspiradas nas linguagens artísticas da
cultura popular brasileira: artes plásticas,
dança, teatro, música e literatura. Enfoca-
mos a importância de que essas expressões
fizessem parte dos currículos da Educação
Infantil à universidade, como disciplinas
e/ou estratégias de ensino, valorizando
a ideia de que todos nós somos criadores
culturais e que aprendemos durante toda
uma vida saberes “oficiais” e, também, os
gerados nas famílias e na sociedade, como
já refletimos anteriormente. Nessa série,
tentamos entender a cultura popular como
cultura dinâmica, presente no meio rural
e urbano, que junta tradição e atualidade
sempre em transformação, um encontro
entre tempos e espaços, com essência de
brasilidade, juntando o local com o global,
o velho e o novo, completando um com o
poder do outro, como diz Carlos Rodrigues
Brandão (1993), e mostrando a importância
de trazermos, para dentro das Instituições
de ensino, os mestres populares.
É claro, que eles, os mestres populares, ti-
nham que estar presentes e ter voz. Pessoas
que levam toda uma existência se dedicando
para que esse conhecimento tradicional con-
tinue sendo transmitido e se dinamizando,
juntando os tempos da ancestralidade e da
contemporaneidade que, muitas vezes, são
invisíveis a instituições acadêmicas e pou-
co valorizados pela sociedade. No primeiro
programa da série, professores que formam
professores discutiram a importância do de-
senvolvimento da arte popular na educação,
seus valores artísticos, culturais, educacio-
nais e políticos. No segundo, os profissio-
nais de educação que realizam projetos com
linguagens artísticas no dia a dia da sala de
aula. No terceiro, representantes de grupos
artísticos desenvolvidos dentro dos espaços
educacionais: a busca de talentos e a arte
popular construindo conhecimento, alegria
e cidadania. No quarto, mestres populares
e trabalhos sociais dentro da escola e em
comunidades, a herança cultural de descen-
dentes transgredindo histórias. E no último,
a escola abre a porta da frente para a cultura
popular urbana e se integra à comunidade,
desmarginalizando e incluindo suas expres-
sões artísticas.
Tentamos reforçar, nessa série, a impor-
tância social das manifestações que levam
nossas crianças e nossos jovens a criar for-
ças de participação coletiva, repensando,
artisticamente, várias questões, inclusive a

66
brasilidade. E como as escolas e outros es-
paços de educação podem incluir toda esta
criação e recriação de arte em seus conte-
údos, disciplinas e projetos pedagógicos.
Como sabemos, a arte tem sido importan-
te alicerce de muitos trabalhos com crian-
ças e adolescentes, principalmente viventes
em comunidades de risco social, que, em
sua maioria, pertencem às nossas escolas
e a outros espaços educacionais públicos.
A arte contra a violência e a desvalia! Ex-
pressões multiculturais que colorem nossos
jeitos de ser, pensar e agir, demonstrando a
necessidade de falarmos de inclusão, de di-
versidade, de educar para a diferença, tão
natural entre tantos povos que compõem o
povo brasileiro, abrindo as possibilidades de
trançarmos arte e cultura popular na educa-
ção, pensando em identidades e cidadania
brasileiras. Pluralidade que cria arte, cul-
tura, solidariedade, regras de convivência,
ética, pertencimento, autoestima, respeito
à riqueza patrimonial identitária, com cara
de Brasil, que precisa entender-se valoriza-
do para enfrentar o maravilhoso e perigoso
mundo globalizado.
Revelo aqui o que alguns autores dos textos
que dão base às discussões dos programas
nos presentearam. Busque, no site do pro-
grama, as publicações eletrônicas. Estamos
no primeiro programa de 2005, 20/03 a 01/04,
Linguagens Artísticas da Cultura Popular.
Peço licença aos mestres participantes para
usar e abusar de suas palavras complemen-
tando esta festa! Reproduzo integralmente
parte de dois discursos que, de alguma for-
ma, reafirmam pensamentos já ditos aqui e
que eu não conseguiria reescrever com tan-
ta força.
Delcio José Bernardo, jongueiro de Angra
dos Reis-RJ, é servidor público, formado em
Comunicação Social, com Pós-Graduação:
Raça, Etnia e Educação no Brasil – Niterói-
RJ, Faculdade de Educação – Programa de
Ensino Sobre o Negro na Sociedade Brasi-
leira, Universidade Federal Fluminense-UFF,
nascido em Mambucaba, 4º Distrito de An-
gra dos Reis, Rio de Janeiro, um dos berços
do Jongo em nosso Estado. Jongo, citado
no texto de Delcio, como sendo “Dança de
origem africana que chegou ao Brasil por
intermédio dos Bantos, grande família etno-
linguística, dos negros que viviam na região
do Congo-Angola e que foram os primeiros
escravizados a chegar no Brasil” (BERNAR-
DO, 2005, p. 52). Ele conta:
Impulsionado por minha mãe, come-
cei, em 1974, com nove anos de idade, a
frequentar as aulas no Colégio. [...] Foi
um verdadeiro choque, era como se eu
nunca tivesse vivido nada antes, toda
história era relacionada a um grupo ao
qual eu não conhecia. Na escola nunca
se falou de jongo, capoeira, candomblé,

67
ou qualquer outra manifestação cultu-
ral ou religiosa ligada ao povo negro. A
impressão era de que essas manifesta-
ções não existiam. [...] Foi na escola que
conheci de perto o preconceito.[...] Tem
um momento importante que gosto de
recordar, trata-se de uma conversa com
um jovem de 18 anos da Comunidade
quilombola de Santa Rita do Bracuhy,
ao qual solicitei que convidasse seu pai,
um senhor de 80
anos para falar
para um grupo
de jovens sobre
a sua experiên-
cia de vida na-
quela comuni-
dade. Para meu
espanto, o rapaz
me disse o se-
guinte: ‘Meu pai
não sabe falar,
não, ele tem ver-
gonha, acho que
ele não sabe a história daqui’. Conhecen-
do o pai do rapaz, eu mesmo fiz o con-
vite, o que foi aceito de imediato. Para
surpresa do jovem, o pai deu uma belís-
sima aula de história sobre a comuni-
dade, com muita vitalidade e confiança
em uma comunidade mais forte e mais
unida. Desculpando-se por sua timidez e
falta de leitura, finalizou dizendo, ‘fico
muito feliz de ver tantos jovens lutan-
do por um Bracuhy melhor, isso é muito
bom porque nós lutamos com o braço, a
força e a coragem, vocês têm tudo isso
e mais a leitura e o estudo para debater
com os grandões’ […] (BERNARDO, 2005,
p. 46 e 50).
A Companhia Folclórica do Rio-UFRJ tem
comprovado isso, realizando o Encontro
com Mestres Populares na UFRJ, em 2010,
na terceira edição. Este evento é um espa-
ço de encontro,
em igualdade, do
saber acadêmico
com o saber po-
pular. Convidamos
integrantes de gru-
pos tradicionais e
seus mestres e re-
alizamos, em três
dias, palestras que
falem sobre temá-
ticas pertinentes à
situação do mestre
de manifestações
tradicionais frente às políticas públicas, pro-
pomos momentos de discussão para que os
grupos coloquem questões locais e oficinas
com mestres que dão um banho de habilida-
de em ensinar, o que fazem por toda a vida.
E o encontro se faz, a deusa Minerva (símbo-
lo da UFRJ) recebe uma umbigada bem fir-
mada do mestre popular e saem dançando,
tocando e cantando a alegria dessa parceria.
Abrir as portas da escola para a cultura, tra-
Abrir as portas da escola
para a cultura, tradicional
e contemporânea, da
comunidade de que ela faz
parte é estar interagindo,
interpenetrando,
transgredindo e criando
uma Escola Viva.

68
dicional e contemporânea, da comunidade
de que ela faz parte é estar interagindo, in-
terpenetrando, transgredindo e criando uma
Escola Viva. “A escola necessita escorrer para
a rua. Por sua vez, a rua quer e precisa inva-
dir a escola”, diz Carlos Henrique Martins,
também participante da série, descrevendo
uma situação mais comum:
Grosso modo, é como se a cultura esti-
vesse contida em uma mochila que de-
vesse ser deixada na porta da escola e,
ao ultrapassar os seus muros e portões,
o aluno tivesse de abandonar sua baga-
gem de conhecimentos e estivesse apto
a receber outros novos que nem sempre
lhe dizem respeito ou despertam seus
interesses [...]. Há um enorme potencial
cultural trazido pelos alunos e que é si-
lenciado por conta da necessidade, ou
até mesmo da obrigatoriedade, que a
maioria dos professores têm em cumprir
com exigências institucionais relaciona-
das aos conteúdos voltados para a série
e para as disciplinas específicas (MAR-
TINS, 2005, p.57 e 53).
Na UFRJ realizamos o Festival Folclorando (já
citado) que é uma mostra de trabalhos rela-
tivos à cultura popular que se desenvolvem
em escolas e projetos sociais. Cada ano re-
cebemos mais crianças e adolescentes, em
2011 foram mais de seiscentas. Em 2010,
a data coincidiu com uma prova proposta
pelo município, e uma escola, que participa
desde a primeira edição, solicitou ao órgão
competente o adiamento do teste ou mu-
dança de horário para aquelas turmas que
iriam apresentar trabalhos no Festival. A res-
posta foi que as escolas que gostam de rea-
lizar essas “atividades charmosas” deveriam
entender que isso não pode interferir nas
atividades do calendário curricular. Calma,
companheiros, não podemos desistir!
Ensina o educador Carlos Rodrigues Bran-
dão:
A educação que tanto revê os seus cur-
rículos ganharia muito em qualidade
se [...] ousasse reencontrar um sentido
menos utilitário e mais humanamente
integrado e interativo em sua missão de
educar pessoas. [...] Ensinar a pensar e
sensibilizar o pensamento entretecendo
a matemática e a música, a gramática e
a poesia, a filosofia e a física. Um outro
passo estaria na redescoberta do valor
humano e artístico das criações popu-
lares. Mas seria então necessário trazê-
las para a escola e para a educação, não
como fragmentos do que é pitoresco e
curioso, ou como um momento de apren-
dizado de hora de recreio. Ao contrário,
o que importa é reaprender com a arte,
com o imaginário e com a sabedoria do
povo – dos vários povos do povo – outras
sábias e criativas maneiras de viver, e de
sentir e pensar a vida com a sabedoria e
a sensibilidade das artes e das culturas
do povo (BRANDÃO, 2005, p.22).

69
Nestes 34 anos de Magistério, sendo 32 na
UFRJ, dos quais 25 atuando na Companhia
Folclórica do Rio-UFRJ, não estou tão sonha-
dora como antes, mas continuo mantendo
minha poesia e acreditando que os momen-
tos de educação que alguns de nós criam e
executam têm, sim, o potencial da transfor-
mação social. E a gente vai afirmando, ques-
tionando, desconstruindo e construindo.
Um certo tipo de amor? Não há Educação
sem amor (Paulo Freire). Acho que a gente
que escolhe esta missão amorosa tem es-
perança de que a vida possa ser melhor. É
preciso encontrar outras vozes e corações
que compactuem com essa força de estu-
do, ação e coragem. O Salto me proporciona
isso, o encontro, que vira trança, que vira
ciranda, uma rede que tece com fios de luz
real e brilhante. E sempre me diz: Vamos?
Como vocês viram, recordando a minha his-
tória, posso declarar que o programa Salto
para o Futuro, da TV Escola, transforma a
grande mídia em fonte de saber e me de-
safiou e auxiliou na busca de ser uma pro-
fissional mais consciente e corajosa. Viva o
Salto! Viva a parceria da Educação e a Cultu-
ra Popular Brasileira!
Para completar, apresento a vocês um exemplo de PESQUISA SOBRE SI. Cada educador(a) pode
adaptar e construir a sua, junto com sua comunidade acadêmica. Além de estreitar laços afeti-
vos, a gente se entende como um ser cheio de histórias e talentos, que pertence a algum grupo
social, ou a mais de um grupo, e que é responsável por isso e pela memória que está sendo
construída agora no presente e que vai saltar para o futuro. E, sobretudo, é muito divertido
observar como somos diversos e muito parecidos também!
PESquiSa SOBRE Si
*companhia Folclórica do Rio-uFRJ
nome: FOTO:
E-mail e telefone:
Bairro:
idade:

70
A ideia é cada um construir uma árvore ge-
nealógica e suas curiosidades culturais, isto
é, contar em texto e imagem:
1) As nacionalidades e naturalidades de
vocês, dos pais, avós, bisavós e ir até
onde conseguirem pesquisar.
2) Lembrar e/ou perguntar o que cada
uma dessas pessoas de sua vida e você
gostavam de brincar ou brincam.
3) Lembrar e/ou perguntar o que cada
uma dessas pessoas de sua vida e você
gostavam de dançar ou dançam.
4) Lembrar e/ou perguntar o que sua fa-
mília ou amigos faziam ou fazem nas
festas de Natal, Carnaval ou Junina.
5) Contar alguma outra curiosidade
como: alguém que faz um prato gos-
toso em determinada época do ano ou
comemoração, lembrança de alguma
música ou hábito especial, um costu-
me religioso ou lúdico, uma supersti-
ção etc.
6) Procurar encontrar, na cidade ou no
bairro onde nasceu, ou vive ou traba-
lha, e/ou na sua escola, alguma mani-
festação ou festa da cultura popular:
uma Folia de Reis, algum artesão, uma
Escola de Samba, um bloco de Carna-
val, uma Festa Junina, um grupo de Hip
Hop, ou Funk, ou Forró, ou Pagode, um
grupo de devotos religiosos, um grupo
de migrantes de outro país ou de outro
estado ou cidade brasileira etc.
No primeiro momento, a gente acha que
não vive nada disso, mas é só querer pes-
quisar sobre si que muita história vai brotar.
Tem dado bons resultados e as pessoas, ge-
ralmente, se surpreendem com as descober-
tas e se sentem criadoras de cultura. Uma
cultura muito íntima que, de tão natural,
muitas vezes, não é valorizada como tal.
Se você não estiver em contato com nin-
guém da família, busque amigos, vizinhos.
O importante é se divertir com a sua própria
história e como ela está refletida no seu jei-
to de ser... ou não.
7) Conte um talento seu.
8) Fale sobre seus desejos profissionais.
REFERênciaS
BERNARDO, Delcio José. “Jongo: uma didá-
tica a caminho da escola”. In: Boletim Salto
para o Futuro - Linguagens Artísticas da Cultu-
ra Popular. Rio de Janeiro: TV Escola, março
2005.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Cultura na Rua.
São Paulo: Papirus, 1989.
______. O Que é Folclore. Brasília-DF: Editora
Brasiliense, 1993.

71
______ “Viver de criar cultura, cultura popu-
lar, arte e educação”. In: Boletim Salto para o
Futuro - Linguagens Artísticas da Cultura Po-
pular. Rio de Janeiro: TV Escola, março 2005.
FREIRE, Paulo. Ação Cultural para a Liberda-
de. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.
GABRIEL, Eleonora. “Escorrego mas não caio é
o jeito que o corpo dá” - as danças folclóricas
como expressão artística de identidade e ale-
gria. Niterói: UFF. Dissertação de Mestrado
em Ciência da Arte-IACS, 2003.
______ “Linguagens Artísticas da Cultura Po-
pular”. In: Boletim Salto para o Futuro- Lin-
guagens Artísticas da Cultura Popular. Rio de
Janeiro: TV [Escola, março 2005.
MARTINS, Carlos Henrique dos Santos. “Cul-
tura popular urbana e educação: o que a es-
cola tem a ver com isso?”. In: Boletim Salto
para o Futuro - Linguagens Artísticas da Cultu-
ra Popular. Rio de Janeiro: TV Escola, março
2005.

72
3.6 um rápIDo BAlAnço
Ana Waleska P. C. Mendonça56
56 Doutora em Educação – PUC-Rio.
A proposta de produzir um texto que resga-
tasse a memória dos anos de participação no
programa Salto para o Futuro pareceu-me,
de início, uma empresa meio nebulosa... Por
onde começar? De que ponto partir?
Resolvi empreender uma consulta ao meu
“currículo Lattes”, que, bem ou mal – na
maior parte das vezes com muita má vonta-
de – somos obrigados (as), pobres acadêmi-
cos (as), a preencher e a manter atualizado,
na medida do possível. Habituada a vê-lo
como um instrumento de cobrança, desta
vez, no entanto, ele assumiu o papel de fon-
te de informações e acabou configurando o
meu ponto de partida.
Por sorte, lá estavam registradas as minhas
participações no programa, com o ano de
participação e a respectiva temática. Aí vão
elas:
• 1999 – “Porque não me ufano do meu país?”
(da série “Debates Contemporâneos: outros
500”);
• Ainda em 1999, o especial do Dia do Pro-
fessor: “Educação: dos jesuítas ao ano
2000”;
• 2001 – “O Direito à Educação”;
• 2005 – “Formação Contínua de Professo-
res”;
• 2007 – “Educandos e Educadores: seus di-
reitos e o currículo”.
O que depreender dessa listagem? Que fio
condutor buscar? Foram essas questões, afi-
nal, que se constituíram em guias da refle-
xão e que procuro socializar com esse texto.
PaRTiciPanDO DO PROGRaMa
No primeiro programa de que participei,
buscava-se proceder a uma espécie de balan-
ço, significativamente empreendido no con-
texto das comemorações dos 500 anos da
chegada dos portugueses a estas terras que
viriam a constituir o que chamamos hoje de
Brasil. Um dado sintomático: começamos a

73
contar a nossa história com a “descoberta”
dos portugueses, mesmo que o termo apon-
te para a existência anterior da terra e do
povo que a habitava. Uma história construí-
da num olhar retrospectivo e que foi buscar
até uma certidão de nascimento: a famosa
Carta de Caminha, que ajudou na elabora-
ção da imagem sempre recorrente de um
país rico e imenso, mas cuja realização está
sempre postergada para o futuro...
No entanto, o próprio título da mesa: “Por
que não me ufano do meu país?” apontava
para uma visão meio depreciativa dessa his-
tória, que servia também como um provoca-
tivo, já que a proposta, a partir dessa leitu-
ra não muito complacente, era pensar nos
“outros 500”, a história servindo como base
para a projeção de um novo futuro para o
país, que se pretendia rompesse com a line-
aridade do passado. Perceber que essa histó-
ria passada não é tão linear assim, resgatar
propostas e experiências não muito bem su-
cedidas, porque tantas vezes interrompidas,
pareceu-me uma contribuição imprescin-
dível para que essa projeção de um novo e
diferente futuro tivesse alguma concretude.
O especial que se seguiu foi uma enorme
aventura, no sentido literal do termo. Além
de entrevistada e meio consultora, também
participei ao vivo de várias partes do pro-
grama. E como a opção foi gravá-lo em dis-
tintos locais que, de alguma forma, recrias-
sem o ambiente da temática ou do período
cronológico de que estávamos falando, isso
implicou várias excursões pela cidade na
Kombi da TVE, com a equipe de filmagem.
Filmamos na PUC, no Paço Imperial, no Arco
do Telles, no Museu da República e no belís-
simo prédio do MEC, espécie de síntese do
nosso modernismo, e surpreendentemente
tão mal tratado, indicando o duplo e persis-
tente descaso dos nossos governantes com a
nossa cultura e com a nossa educação.
Além disso, entrei, pela primeira vez em
uma sala de edição. Foi interessante viven-
ciar essas etapas tão diferentes da elabora-
ção do programa: as longas horas de grava-
ção e, depois, a montagem, o que implica
selecionar e recortar, com base em critérios
diversificados e de ordem igualmente muito
diferenciada. Estes têm a ver com a estética
do programa, com a sua coerência interna,
com os objetivos que se quer atingir, com
o(s) público(s) a que o programa se dirige, as
restrições de ordem financeira e até política.
A experiência se constituiu para mim, sem
dúvida, numa significativa aprendizagem.
O resultado final foi fantástico (sem falsa
modéstia, já que o grande mérito foi do di-
retor, Otávio Bezerra). Sem que soubésse-
mos, de antemão, quem eram os demais en-
trevistados, creio que os depoimentos que
constituíram o fio do programa acabaram
por compor um todo coerente, que refletia
uma visão muito próxima do significado que
atribuíamos à história e dos desafios que ela

74
coloca para projetarmos no futuro a educa-
ção que queremos.
O programa “rodou mundo”. Reapresenta-
do várias vezes, constantemente, recebia
um retorno de algum aluno, ex-aluno ou de
pessoas as mais inesperadas: “vi a senhora
na televisão, professora”. Ia conferir e era
ele, o especial dos 500 anos... Na forma de
fita de vídeo, usei-o muitas vezes, como ma-
terial didático, inclusive uma delas em uma
apresentação para uma plateia bem diversi-
ficada, dentro da “Mostra PUC”, seguindo-
se um bate-papo,
com outro dos entre-
vistados, o professor
Antonio Edmilson
Rodrigues, colega
do Departamento de
História.
O enorme sucesso
do programa reafir-
mou-me o interesse que a história desperta,
quando abordada de forma significativa, e
a sua importância para equacionarmos as
questões atuais da nossa educação.
As três últimas temáticas, lançando-lhes um
olhar retrospectivo, parecem-me constituir
um conjunto: o direito à educação, por um
lado, a formação do professor, por outro e,
na conjunção dos dois temas, direitos de
educadores e de educandos e o currículo.
Por certo, não me recordo em detalhes do
que falei nesses programas, mas parece-me
evidente a convergência dos temas. Para
garantir a efetivação do direito à educação,
é preciso atender aos direitos do educador,
principal instrumento de concretização do
primeiro. São direitos do educador ter um
salário digno, ter condições adequadas de
trabalho e até garantia de formação contí-
nua e permanente, condição que lhe é cons-
tante e contraditoriamente cobrada.
Considerando os mais de dez anos passados
do primeiro desses programas (2001), acho
que avançamos
bastante no que se
refere ao direito à
educação das crian-
ças. As estatísticas
nos mostram que
conseguimos co-
locar praticamen-
te quase todas na
escola, ao menos
no período de escolaridade obrigatória, e
vamos aumentando progressivamente esse
tempo. Mas permanece o desafio de garan-
tir a aprendizagem efetiva das crianças e as
recentes avaliações do MEC confirmam que
há muito ainda a avançar nessa direção.
Qualquer melhoria nesse sentido passa ne-
cessariamente pelo professor e pelo currí-
culo. Aliás, prioritariamente pelo professor,
até porque é ele quem operacionaliza o cur-
rículo.
Para garantir a efetivação
do direito à educação,
é preciso atender aos
direitos do educador,
principal instrumento de
concretização do primeiro.

75
Em artigo que escrevi recentemente para
o Jornal dos Economistas, chamava atenção
para a centralidade dessa questão. Ressalta-
va, entre outras coisas, que já nem mais for-
mamos inicialmente professores na medida
de nossas necessidades:
Os cursos de licenciatura, especialmente
em determinadas áreas, deixaram de ser
atrativos e o número de professores que
se formam é absolutamente insuficien-
te para atender à demanda. Na origem
dessa crise o desprestígio da profissão,
face, entre outras coisas, aos baixíssi-
mos salários (MENDONÇA, 2010).
E completava, afirmando que o foco das po-
líticas educativas deveria, necessariamente,
ser o professor, salário, qualificação e con-
dições de trabalho constituindo o tripé que
deveria orientar tais políticas.
Não podendo fugir ao vício de historiadora,
trazia, por fim, as palavras de Anísio Teixeira
que, há mais de 40 anos, apontava para a
imensa urgência de um efetivo investimento
no preparo do magistério em face do cres-
cimento vertiginoso e avassalante do sistema
escolar. E insistia:
Essa conjuntura, que é a de fazer o difí-
cil e fazê-lo em grande escala e depressa,
obriga-nos a planejar a formação do ma-
gistério no Brasil em termos equivalentes
aos de uma campanha para formação de
um exército destinado a uma guerra já
em curso (TEIXEIRA, 1969, p. 240).
Fazer o difícil e fazê-lo em grande escala –
parece-me que a lição do mestre ainda não
foi aprendida e o desafio permanece, com
o agravante de que a urgência é ainda mais
premente e que os resultados, em educação,
só se fazem sentir a médio prazo.
uMa REFLExãO FinaL: a
uTiLiDaDE Da HiSTóRia
Nessa parte final, peço licença para trazer as
palavras igualmente abalizadas de Antonio
Nóvoa (2004), historiador da educação por-
tuguês, e referência também no Brasil, que,
ao prefaciar o primeiro volume de uma cole-
tânea de História da Educação, pergunta-se
pela sua utilidade.
Lamentando-se por um certo desprestígio
dessa disciplina específica nos dias de hoje,
dentro do campo da educação – embora dis-
ciplina fundadora do mesmo – o autor colo-
ca-se a pergunta: “para que serve a história
da educação?”. Destaco algumas das respos-
tas que encaminha:
“11) Para cultivar um saudável ceticismo,
em um mundo que endeusa acritica-
mente tudo o que é novo;
12) Para pensar os indivíduos como pro-
dutores de história, servindo esta para
nos colocar diante de um patrimônio
de ideias, projetos e experiências;
13)Para explicar que não há mudança sem
história e que a mudança imaginada

76
a partir de um não-lugar, sem raízes e
sem história, é mera ilusão (NÓVOA,
2004).”
E em outro texto seu, o autor advertia:
O mínimo que se exige de um historiador
é que seja capaz de refletir sobre a his-
tória da sua disciplina, de interrogar os
sentidos vários do trabalho histórico, de
compreender as razões que conduziram
à profissionalização do seu campo aca-
dêmico. O mínimo que se exige de um
educador é que seja capaz de sentir os
desafios do tempo presente, de pensar a
sua ação nas continuidades e mudanças
do trabalho pedagógico, de participar cri-
ticamente na construção de uma escola
mais atenta às realidades dos diversos
grupos sociais. A História da Educação só
existe a partir desta dupla possibilidade,
que implica novos entendimentos do tra-
balho histórico e da ação educativa (...)
(NÓVOA, 1996, p. 417).
A certeza de que a história é útil, sim, e
muito, para a educação e para o educador,
e a atitude proposta por Nóvoa, acima, que
aponta para a possibilidade de que esta per-
mita novos entendimentos da ação educati-
va, é que vêm pautando, ao longo do tempo,
a minha atuação profissional e que funda-
mentaram, sem dúvida, a minha colabora-
ção com o programa.
Nessa certeza estaria o fio condutor que
explica (ou pode explicar) a participação de
uma historiadora da educação, que tem por
ofício a reconstrução incessante do passa-
do, num programa que se intitula Salto para
o Futuro...
BiBLiOGRaFia
MENDONÇA, Ana Waleska P. C. A Tragédia
do Ensino Público no Rio de Janeiro. Jornal
dos Economistas, n. 253, agosto de 2010, p.
12-13.
NÓVOA, António. História da educação: Per-
cursos de uma disciplina. Análise Psicológica,
4 (XVI), 1996, p. 417-434.
________. Prefácio. In: STEPHANOU, Maria
e BASTOS, Maria Helena Câmara (orgs). His-
tórias e memórias da educação no Brasil, v. I.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.
TEIXEIRA, Anísio. Escolas de Educação. RBEP,
v. 51, n. 114, abril/jun. 1969, p. 239-259.