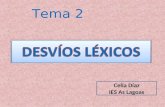Los Desvíos de Calibán. Emancipación y Lenguaje en Reinaldo Arenas. Laura Maccioni
-
Upload
claudia-gilman -
Category
Documents
-
view
148 -
download
1
description
Transcript of Los Desvíos de Calibán. Emancipación y Lenguaje en Reinaldo Arenas. Laura Maccioni
12/2007
CLASCentro de Estudios Latinoamericanos Universidad de Aarhus - Dinamarca
DILOGOS LATINOAMERICANOS
Centro de Estudios Latinoamericanos
Universidad de Aarhus Dinamarca
12/2007
Consejo EditorialAnne Magnussen, Steen Fryba Christensen, Anne Marie E. Jeppesen, Jan Gustafsson, Helene Balslev Olsen, Ken Henriksen Director Responsable Ken Henriksen Montaje y coordinacin editorial Anna-Karin Holst Johannsen
Centro de Estudios Latinoamericanos CLAS Universidad de Aarhus Byg. 463, Jens Chr. Skovsvej 5 DK - 8000 Aarhus C Dinamarca Fax: (45) 89426455
Dilogos Latinoamericanos se publica dos veces por ao y los artculos son de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no reproducen necesariamente el pensamiento de la Revista.
Copyright: Dilogos Latinoamericanos y autores Imprenta: Universidad de Aarhus Indexada en HAPI(Hispanic American Periodicals ndex) On line: RedALyc - http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/index.jsp ISSN 1600-0110
Dilogos Latinoamericanos 12
NDICEInterdependncias entre educao, tica e cidadania para uma formao emancipadora e libertadora Alvori Ahlert Um pedao da frica do outro lado do Atlntico: O terreiro de candombl Ile lya Mi Osun Muiywa (Brasil) Petrnio Domingues Tal Brasil, qual Amrica? A Amrica Brasileira E a cultura ibero-americana Maria de Ftima Fontes Piazza Los desvos de Calibn: Emancipacin y lenguaje en Reinaldo Arenas Laura Maccionii Memories, Identity and Indigenous/National Subjectivity in Eastern Peru Hanne Veber Resea Pancho Villa e a Revoluo Mexicana Waldir Jos Rampinelli
1 22 42 68 80
103
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007
Interdependncias entre educao, tica e cidadania para uma formao emancipadora e libertadoraAlvori Ahlert* The present text defends the interdependence of education, ethics and citizenship. Each belongs to the rest as they are the three dimensions of the human being, each interdependent in the search for emancipation and freedom. This text is about the discussion of an ethics of the human being which seeks the defense of life and the production of actions and policies opposed to the ethics of the marketplace, as well as a citizenship which is not fulfilled by means of decree but expresses an active participation capable of leading education to confront actual social, political and economic realities which demand justice and political, social and economic equality. In this way, ethics and citizenship find their privileged place in education. An education which constitutes itself in ethical and political action through active citizenship where all are responsible for all. Keywords: Education, ethics, citizenship, participation.
Introduo Os reveses impostos pelas polticas neoliberais nos pases em desenvolvimento recolocaram na ordem do dia os temas da tica e da cidadania para impulsionar uma participao mais efetiva das sociedades nos rumos polticos, econmicos e sociais de seus pases. E isso pressupe que se d tica e cidadania o lugar privilegiado da educao. Assim, nosso propsito em discutir a educao como um instrumento para a emancipao e libertao inscreve-se numa perspectiva tico-cidad, pois uma formao para a cidadania demanda uma reflexo sobre as questes da tica e da cidadania o processo de ensino e da aprendizagem na formao escolar. Com esta pesquisa, buscamos investigar as interdependncias entre educao, tica e cidadania para a construo de uma sociedade efetivamente democrtica. Partimos de uma concepo de educao enquanto esforo do ser humano em se auto construir como ser humano. atravs da educao que o ser humano se constitui num ser capaz de existir no mundo e de se
1
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 relacionar com este mundo e seu entorno social e natural, com liberdade e autonomia responsveis. o fazer-se ser humano, atravs de uma luta diria individual e coletiva - a humanizao; uma luta que, segundo Freire (1987: 55), exige responsabilidade total. Uma luta que no significa apenas passar para a liberdade de comer, mas para a liberdade de criar e construir, admirar e se aventurar. Paulo Freire torna-se, assim, referncia para o ponto de partida da construo de nosso caminho investigativo. Com ele, confessamos que No h ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda no conheo e comunicar ou anunciar a novidade. Pensar certo, em termos crticos uma exigncia que os momentos do ciclo gnoseolgico vo pondo curiosidade que, tornando-se mais e mais metodicamente rigorosa, transita da ingenuidade para o que venho chamando curiosidade epistemolgica. A curiosidade ingnua, de que resulta indiscutivelmente um certo saber, no importa que metodicamente sem rigor, a que caracteriza o senso comum. O saber de pura experincia feito. Pensar certo, do ponto de vista do professor, tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessria superao quanto o respeito e o estmulo capacidade criadora do educando. Implica o compromisso da educadora com a conscincia crtica do educando cuja promoo da ingenuidade no se faz automaticamente. (Freire, 2003: 32-33) Isto, por sua vez, requer um desengessamento da pesquisa de seus critrios dogmticos, sem, no entanto, negar a necessidade de rigor e formao sofisticada para a pesquisa. O pesquisador americano, alm de muitas vezes cair em banalizao imitativa colonialista, propende a disseminar uma viso curta de processo cientfico, atrelado ao empirismo e ao positivismo, fazendo sucumbir apuros tcnicos a ingenuidade ou a dubiedades polticas. Esta crtica foi fartamente realizada pela pesquisa participante. Facilmente acontece que investimentos em pesquisa desse teor no conseguem ir alm de acumular alguns perfis estatsticos, irrelevantes no contexto histrico, o que tem contribudo para dissociar sempre mais o processo de saber do processo de mudar. O que mais se sabe como coibir mudanas (Brando, 1982 e 1984; Demo 1984). Todavia, libertar a pesquisa
2
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 do exclusivismo sofisticado no pode lev-la ao exclusivismo oposto da banalizao cotidiana mgica. (Demo, 1997: 12) Por isso, acreditamos que a questo metodolgica demanda formas de compreenso, de entendimento e de aplicabilidades mais flexveis. Deve-se entender o mtodo como um caminho ou caminhos adequados para alcanar os objetivos aos quais se props o pesquisador/educador. uma espcie de guia terico para o conhecimento e interveno em uma realidade determinada. um caminho que se constri em uma prtica social permanente. Por isso, mtodo no significa uma imposio, mas uma proposio. a realidade do objeto que nutre de contedo a pesquisa. A realidade se coloca como material objetivo para o mtodo, permitindo construir uma teoria concreta que possibilite entender, explicar e atuar nesta realidade para transform-la. Mtodo a articulao entre teoria e prtica. Implica um conjunto de princpios e de valores ticos e, numa viso de homem, de mundo, de sociedade que inspiram e orientam a prtica. A prtica, por sua vez, questiona e enriquece com novos aspectos a teoria que embasa a ao numa relao dialtica entre a teoria e prtica. Assim, entendemos que o mtodo permite uma articulao sinergtica entre teoria e prtica, pressupostos ticos e polticos educacionais, contedos e conceitos com caractersticas grupais e pessoais de sujeitos bem concretos que interagem em condies conjunturais especficas. Depreende-se da que no existe um mtodo definitivo ou vlido em si mesmo, mas que os mtodos so gerados e recriados com profundos vnculos com as situaes, em constantes mudanas e nos diferentes momentos em que a pesquisa acontece. Como pesquisador de um tema, no se est fora do objeto. Nossa vida, nossa constituio humana, nossos desejos e frustraes, nossas angstias e realizaes fundem-se com o prprio objeto (enquanto objeto de utopia, de desejo) de nossa investigao. E isso nos coloca em confronto com o estatuto da anterioridade e da simultaneidade cultural. Tudo o que somos como pesquisadores e o que o nosso objeto conseqncia de algo que foi. E, ao mesmo tempo, o resultado de teorias e sistematizaes. A presente pesquisa inscreve-se no quadro referencial de pesquisa bibliogrfica e anlise documental. concebida como estudo de um tema (tica e cidadania) no marco referencial da educao. A educao, como ato do autoconstruir-se ser humano, desenvolveu-se a partir de vrios plos que a humanidade experienciou historicamente. Emergiu da a teoria da educao como uma cincia do fazer-se ser humano. Uma cincia que passou a ser chamada de pedagogia, vinculando-se aos problemas metodolgicos relativos ao como ensinar, ao o que ensinar, ao quando ensinar e a quem ensinar. A pedagogia transformou-se em teoria e a educao em prtica.
3
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 A educao , antes de tudo, uma prtica educativa. uma prtica geradora de uma teoria pedaggica. A educao, ao mesmo tempo em que produz pedagogia, tambm direcionada e efetivada a partir das diretrizes da pedagogia. (Guiraldelli Jr., 1991:9) Foi Wilhelm Dilthey (1833-1911) que estabeleceu a pedagogia como cincia humana (Geisteswissenschaft), designando-lhe a realidade educacional (Erziehungswirklichkeit) como objeto e a hermenutica, como linguagem destinada a interpretar a realidade (Verstehen), como mtodo (BECK, 1996, p.53-56). Esta teoria pedaggica evolui atravs de diferentes desdobramentos, da qual tomamos como referencial terico a pedagogia emancipatria e suas vertentes libertadoras de educadores brasileiros. Assim, as reflexes e anlises fundamentam-se nos referenciais da pedagogia emancipatria, que desenvolve uma cincia crtica da educao a partir da combinao da dialtica hegeliana, da dialtica marxista (Trivios, 1987: 49-74) e da hermenutica psicanalista da Escola de Frankfurt, desdobrada na Teoria da Ao Comunicativa, de Jrgen Habermas e de forma mais consistente, na postura educativa proposta por Paulo Freire e seus estudiosos brasileiros, como Mario Osorio Marques e Balduino Antonio Andreola, respectivamente. Citar e aproximar Habermas e Freire no pretende ser uma empreitada irresponsvel fazendo acreditar que entre estes dois pensadores existam somente semelhanas ou convergncias. Tambm no objetivo de nossa tese entrar nesta discusso. Apenas lembramos ao nosso leitor outros autores que vm preocupando-se com esta aproximao. Balduino Antonio Andreola, em sua Carta-prefcio a Paulo Freire, lamenta que o tempo no permitiu um dilogo histrico que aconteceria no ano de 1997 entre Freire e Habermas, e desafia para que se promova o dilogo entre suas obras. [...] lastimo, Paulo, que tua despedida inesperada tenha impedido um encontro j previsto com o filsofo Jrgen Habermas, por ocasio da viagem que farias a Alemanha, em 1997, para participar do Congresso Internaional de Educao de Adultos. Teria sido, com certeza, um dilogo histrico de alto nvel, entre dois pensadores de estatura internacional. Cabe a ns, pois, no fundarmos clubinhos ou capelas, mas promovermos o dilogo amplo e crtico entre as grandes teorias que, contra a mar do determinismo e do fatalismo inexorvel da economia de mercado, da especulao, da gannia e da excluso, querem contribuir para um novo projeto planetrio de convivialidade humana. (Andreola, 2000: 25) Jaime Jos Zitkoski promove este dilogo entre Freire e Habermas em um captulo de sua tese de doutorado, captulo no qual analisa as questes que
4
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 aproxima estes autores e tambm as suas principais diferenas. Conforme Zitkoski, as principais convergncias entre eles esto na defesa do paradigma emancipatrio que perpassa suas obras, na perspectiva dialgica de suas propostas (Pedagogia Dialgica e Teoria da Ao Comunicativa), na reviso crtica que ambos fazem do marxismo enquanto releitura da teoria de Marx luz dos tempos atuais, na reconstruo de uma nova racionalidade, na superao da alienao cultural, na reconstruo cultural para a emancipao e na orientao para a construo de alternativas polticas para a emancipao social. (Zitkoski, 2000: 122-166) Mas o autor tambm alerta para as diferenas entre ambos (Zitkoski, 2000: 167-173), especialmente no ponto de partida para as suas teorias. Enquanto Freire parte da realidade dos oprimidos e com eles e entre eles prope o dilogo a partir de suas realidades, Habermas parte da tradio filosfica ocidental, inspirado nas obras dos grandes filsofos dos quais herdeiro. Tambm tm divergncias sobre suas concepes de tica. As concepes de Freire increvem-se na tica da Libertao, especialmente aprofundada por Enrique Dussel. J Habermas fundamenta suas concepes de tica na tica do Discurso. A diferena entre tica da Libertao e tica do Discurso um tema polmico e ainda encontra-se em uma fase inicial das discusses que tero futuros desdobramentos no campo filosficopoltico da humanidade. O ponto nevrlgico dessa discusso est no aspecto das condies prticas para a realizao do dilogo e/ou da construo do entendimento e, por outro lado, na situao concreta de excluso da grande maioria da populao mundial. Ou seja, a tica da Libertao preocupa-se, por princpio, com as condies concretas para produzir a humanizao da sociedade, da cultura e da vida prtica das pessoas que hoje se encontram parcial, ou totalmente excludas, tanto do mercado econmico, quanto do acesso cultura e comunicao social emancipatria; enquanto a tica do Discurso preocupa-se, acima de tudo, em estabelecer teoricamente as condies ideais necessrias construo de processos de emancipao dos sujeitos sociais que se defrontam com situaes cada vez mais complexas em um mundo desafiador para a comunicao livre e desburocratizada. Portanto, a tica do Discurso supe que a racionalidade comunicativa j tenha atingido nveis satisfatrios de seu desenvolvimento concreto em nossas sociedades. (Zitkoski, 2000: 169-170) Neste contexto, tambm alertamos para a polmica entre Dussel e Habermas. Dussel tem confrontado sua tica da Libertao com a tica do Discurso de Habermas. O IV Seminrio Internacional: a tica do Discurso e a Filosofia Latino-Americana da Libertao, realizado na UNISINOS, So Leopoldo, em 1993, promoveu o debate sobre esta polmica entre autores como Karl-Otto Apel, Christoph Trcke, Franz Hinkelammert e o prprio Enrique Dussel (Sidekum, 1994).
5
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 tica e educao como prticas inseparveis Acreditamos na possibilidade de uma educao capaz de contribuir para a criao e difuso de uma concepo de sociedade contra-hegemnica ao sistema excludente. Mas para isso a educao precisa indignar-se eticamente, rebelando-se contra o engessamento mercadolgico da vida. Significa assumir Uma tica do ser e do ser-mais uma tica da pessoa, que abertura ao outro, ao mundo, ao cosmos, se contrapondo a uma tica do indivduo como (anti)tica do Ter, do ter-mais, do sempre-mais, da posse, do lucro, da ganncia, da depredao. (Anddreola, 2001: 27) Assim, a educao poder gestar uma nova possibilidade que corresponda ao projeto de emancipao da grande maioria que est margem das realizaes da modernidade, uma educao que supere a mera transmisso de conhecimentos, modeladora de conscincias a partir de fora, conforme Adorno (1995: 141). Esse tipo de educao, Freire (1987: 57-59) denunciou como educao bancria, uma educao narradora de contedos prontos, na qual o processo educativo empreendido um ato de depsito, de transferncia e transmisso de valores, de contedos e de saberes, calcado na rigidez da posio do educador como aquele que sabe, negando a educao e o conhecimento de busca do educando como sujeito. O processo educativo tem o compromisso de construir alternativas contra-hegemnicas ao neoliberalismo excludente. Precisa encontrar formas para resgatar e incorporar os valores ticos, a solidariedade, a fraternidade, o respeito s diferenas de crenas e etnias, de culturas e conhecimentos, o respeito ao meio ambiente e aos direitos humanos. Para Freire significa o desenvolvimento de De uma tica a servio das gentes, de sua vocao ontolgica, a do ser mais e no de uma tica estreita e malvada, como a do lucro, a do mercado. (Freire, 2000: 102) Todo o processo de construo de conhecimentos, de ensino-aprendizagem, de educao formal e informal, de educao tcnica e cientfica precisa incorporar urgentemente o imperativo tico para promover a incluso de todos e de tudo. Educao, alicerada em princpios ticos, um processo essencialmente coletivo no qual a aprendizagem e a construo do conhecimento efetivam-se atravs da inter-relao entre os sujeitos e entre esses com o todo da vida. Torna-se a educao um processo de conquistas que engendra a humanizao e a libertao do ser humano. Neste processo, A aprendizagem construo coletiva assumida por grupos especficos na dinmica mais ampla da sociedade, que, por sua vez, se constri a partir das aprendizagens individuais e grupais. As fases de aprendizagem individual, detalhadamente descritas pela psico e scio-gnese, tanto no nvel cognitivo (como em Piaget e Vygotski), quanto no nvel moral (como em Kolhberg) se relacionam determinadas pelas etapas da aprendizagem por parte
6
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 da sociedade ampla. Numa nova educao que se coloque no e desde o mundo da vida, direcionada para as aprendizagens relevantes e efetivas, que s elas contam, a aprendizagem coletiva da humanidade pelos homens se torna pressuposto fundante do que aprender, do quando e como. (Marques, 1993: 109-110). Para que isso se torne realidade, a educao precisa estar prenhe de uma tica universal de princpios gerais para a organizao de uma sociedade justa, fraterna e solidria, [...] da tica universal do ser humano. Da tica [...] que condena a explorao da fora de trabalho do ser humano, que condena acusar por ouvir dizer, [...] A tica de que falo a que se sabe afrontada na manifestao discriminatria de raa, de gnero, de classe. por esta tica inseparvel da prtica educativa, no importa se trabalhamos com crianas, jovens ou com adultos, que devemos lutar. (Freire, 1997: 17) Uma tica preocupada em identificar os princpios de uma vida que proporcione conscincia do sentido profundo de ser humano, que respeite e valorize as diferenas, que garanta o pleno desenvolvimento da vida humana, animal e vegetal no planeta todo. Ter que ser uma tica que transcenda a moral, que v alm dela. As bases e fundamentos de uma educao tica esto na tica da Libertao. Uma tica que exige a transformao de todas as estruturas que excluem o Outro, o pobre, o diferente. Uma tica que se sustenta no princpio-libertao construdo na teoria de Dussel. O princpio-libertao formula explicitamente o momento deontolgico ou o dever tico-crtico da transformao como possibilidade da reproduo da vida da vtima e como desenvolvimento factvel da vida humana em geral. Este princpio subsume todos os princpios anteriores. Trata-se do dever de intervir criativamente no progresso qualitativo da histria. O princpio obriga a cumprir por dever o critrio j definido; quer dizer, obrigatrio para todo o ser humano embora freqentemente s assumam esta responsabilidade os participantes da comunidade crtica das vtimas transformar por desconstruo negativa e nova construo positiva as normas, aes, microestruturas, instituies ou sistemas de eticidade, que produzem a negatividade da vtima. (Dussel, 2002: 564) Tambm na tica do Discurso h contribuies para a construo de uma educao tica. Ela se associa ao esforo de uma educao dialgica (Freire), construtivista (Piaget) e scio-interacionista (Vygotski), na exigncia radical de incluso de todos os seres humanos, respeitados em suas diferenas mltiplas,
7
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 atravs da intersubjetividade e dos inter-relacionamentos numa comunidade universal, numa comunidade de comunidades. A tica do Discurso vem ao encontro dessa concepo construtivista da aprendizagem na medida em que compreende a formao discursiva da vontade (assim como a argumentao em geral) como uma forma de reflexo do agir comunicativo e na medida em que exige, para a passagem do agir para o Discurso, uma mudana de atitude da qual a criana em crescimento e que se v inibida na prtica comunicacional quotidiana no pode ter um domnio nativo. (Habermas, 1989: 155) Uma educao tica tem o desafio de refletir criticamente sobre as moralidades. Seu papel emerge do mundo da prtica, das interaes sociais, buscando a humanizao da vida de todos e de tudo, por isso tica libertao. Da o papel da educao, sobretudo a escolar, pois [...] precisamente na adolescncia que se tomam as opes bsicas pr ou contra a libertao.(Segundo, 1978: 116) Est nas mos de professores e alunos a construo deste mundo tico, desta proposta de libertao. Professores e alunos so os sujeitos diretos e imediatos do ensino-aprendizagem.(Marques, 1994: 88) Essa a possibilidade do poder local, de a educao poder emergir em toda a sua diversidade. A tica no processo educativo compreende-se como um processo aberto de construo e reconstruo infinita diante das necessidades que a vida humana universal e seu ambiente determinam, superando, assim, os determinismos do cognitivismo, do paradigma da conscincia. uma tica implcita em todo o processo educativo, formal ou informal. Da mais tenra idade at o fim da vida, todo o processo de aprendizagem e construo do conhecimento traz, no seio de sua realizao, um desenvolvimento humano tico preocupado com a universalidade da vida de todos os seres humanos. Esta tica pergunta constantemente sobre como se deve agir, sobre as normas e conjunto de valores, sem trazer qualquer prejuzo a nenhum ser humano e a nenhuma vida na consolidao do bem estar de toda a comunidade. Colocada no cerne da unidade da razo prtica, se refere ao discurso da elucidao e regulamentao da vida em comum, ou da identidade coletiva que respeite e deixe espaos para a multiplicidade dos projetos individuais de vida. Sustenta Habermas que, como as teorias cientficas, as questes normativas so suscetveis de exame crtico racional, no interior de processos argumentativos, isto , de discursos cuja validao se assegure pela razo comunicativa numa situao dialgica livre de coaes e pela motivao de todos os envolvidos, no sentido de alcanarem o entendimento entre eles num espao conjugado de cooperao e solidariedade. (Marquez, 1996: 11)
8
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 Mas para que ela se realize na sua totalidade e para todos, pressupe-se a criao maximizada de estruturas capazes de, como diz Prestes: [...] promover a capacidade discursiva daqueles que aprendem; promover condies favorveis a uma aprendizagem crtica do prprio conhecimento cientfico; inocular a semente do debate, considerando os nveis de competncia epistmica dos alunos; promover a discusso pblica dos alunos; promover a discusso pblica sobre os critrios de racionalidade subjacentes s aes escolares, seja atravs dos conhecimentos prevalentes no currculo, seja pela definio de polticas pblicas que orientam a ao pedaggica; estimular processos de abstrao reflexionante, que permitam trazer a nveis superiores a crtica da sociedade e dos paradoxos de racionalizao social e, a partir da, realizar processos de aprendizagem, no s no plano cognitivo, como tambm no plano poltico e social; promover a continuidade de conhecimentos e saberes da tradio cultural que garantam os esquemas interpretativos do sujeito e a identidade cultural. (Prestes, 1996: 107) Isso significa que uma educao imbricada com valores ticos preocupa-se em construir conhecimento em prol da humanizao e da realidade da vida; supera o individualismo e o egosmo da moral liberal e estimula a cooperao e a solidariedade entre as novas geraes, buscando no passado os momentos de ruptura com as morais de dominao e se alimentando da fora tica com que os povos lutaram pela manuteno e melhoramento da vida. Seu esforo busca uma sinergia, uma coordenao dos vrios rgos que compem as sociedades humanas em favor da defesa da vida digna dentro de uma perspectiva planetria. A cidadania como exerccio prtico educativo da tica Tal como a tica, tambm a cidadania hoje um termo muito em voga. As trs ltimas dcadas permitiram o crescimento do debate das grandes questes sociais voltadas para a construo de mais cidadania. Entretanto, proporcionalmente velocidade com que se popularizou o termo cidadania tornou-se refm do discurso das elites, que tm mantido o poder com toda a astcia que lhes prpria. Elas incorporaram o termo aos seus discursos de promessa para enganar o povo e o manter sob o domnio de seus interesses. O melhor vis que seus tericos encontraram para camuflar seus interesses foi atravs da educao, transformando-a na terapia para a cura dos males da excluso. A cidadania uma das grandes questes da educao, mas esta concepo traz justamente o perigo de uma abstrao deste conceito. (Cf. Ferreira, 1993: 6) Da a necessidade de construir uma definio para um consenso mnimo sobre seu significado no contexto educacional, para que
9
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 esse conceito permita significar os valores e objetivos necessrios para a sua vivncia. As razes da cidadania esto na sociedade grega, mais especificamente na cidade grega.i Cidadania significava viver e participar da vida da cidade; viver e participar da associao de pequenos ncleos de vida: a famlia, a fratria, a tribo. Na sociedade grega, a democracia era direta, no havia representantes do povo, cada cidado tinha acesso s assemblias onde podia argumentar a favor de suas posies. Mas, o conceito de cidadania ampliou-se para alm da questo de viver a cidade. O cidado passou a se ligar ao Estado; com essa ligao ampliaram-se os direitos e os deveres para o cidado. Foram os romanos que deram uma definio, um significado jurdico ao termo. Moura Ramos, citado por Libneo, afirma que A cidadania (o status civitatis dos romanos) o vnculo jurdicopoltico que, traduzindo a pertena de um indivduo ao Estado, o constitui perante este num particular conjunto de direitos e obrigaes [...] A cidadania exprime assim um vnculo de carter jurdico entre um indivduo e uma entidade poltica: o Estado. (Libneo, 1995: 18) A modernidade, inaugurando a nova sociedade da democracia burguesa, vinculou a cidadania com os direitos de liberdade de pensamento, de religio, de comrcio, de produo, de propriedade privada. Individualizando a pessoa, alienando-a dos outros pares, a burguesia pde limitar o alcance da cidadania. Marx, ao tratar da Questo Judaica, mostra que a Declarao dos Direitos do Homem, de 1793, reduz a questo da cidadania a questes polticas. O assunto torna-se ainda mais incompreensvel ao observarmos que os libertadores polticos reduzem a cidadania, a comunidade poltica, a simples meio para preservar os chamados direitos do homem. (Marx, 1989: 58) Leia-se, portanto, direitos do homem burgus. Para o autor, o homem egosta da sociedade civil burguesa o homem natural. A revoluo poltica, a mera defesa da questo poltica apenas dissolve a sociedade civil sem revolucionar o mundo das necessidades, do trabalho, dos interesses privados. Para o liberalismo e o neoliberalismo, a cidadania est centrada no princpio individualista onde cada qual cuida dos prprios interesses. J para a crtica marxista, a cidadania requer a responsabilidade de uns pelos outros. Comparato, no prefcio do livro de Pinsky, caracteriza a diferena entre a perspectiva capitalista e a socialista. Para o socialismo, muito ao contrrio, constitui rematado absurdo imaginar que a harmonia social pode resultar de uma concorrncia de egosmos. Sem o respeito ao princpio de solidariedade (solidum, em latim, significa a totalidade), isto , sem que cada cidado seja, efetivamente, responsvel pelo bem-estar de todos, jamais se chegar a construir uma sociedade livre e igualitria. (Comparato, 1999: 12)
10
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 As idias acima expostas evidenciam que a cidadania no se d por decreto. A cidadania no pode ser visualizada como algo dado, pois seus pressupostos so a histria e a filosofia. Ela se permite ver, notar, conceituar, quando vivida, exercida pelo cidado.(Cf. Ferreira, 1993: 19) Cidadania implica uma luta ferrenha dos seres humanos para serem mais seres humanos; significa a luta pela busca da liberdade, da construo diria da liberdade no encontro com o outro, no embate pelos espaos que permitam a vivncia plena da dignidade humana. A cidadania compe-se de um conjunto de direitos fundamentais para a existncia plena da vida humana: direitos civis, que significam o domnio sobre o prprio corpo, a livre locomoo, a segurana; direitos sociais, que garantam atendimento s necessidades humanas bsicas, como: alimentao, habitao, sade, educao, trabalho e salrio dignos; direitos polticos, para que a pessoa possa deliberar sobre sua prpria vida, expressar-se com liberdade no campo da cultura, da religio, da poltica, da sexualidade e, participar livremente de sindicatos, partidos, associaes, movimentos sociais, conselhos populares, etc. (Cf. Manzini-Covre, 1998: 1115) Braga, discutindo a qualidade de vida urbana e cidadania, resume bem um conceito atual de cidadania necessria. O socilogo britnico T. H. Marshall, em seu conhecido ensaio Classe Social e Cidadania, definiu a cidadania como um conjunto de direitos que podem ser agrupados em trs elementos: o civil, o poltico e o social, os quais no surgiram simultaneamente, mas sucessivamente, desde o sculo XVIII at o sculo XX. O elemento civil composto daqueles direitos relativos liberdade individual: o direito de ir e vir, a liberdade de imprensa e pensamento, o discutido direito propriedade, em suma, o direito justia (que deve ser igual para todos). O elemento poltico compreende o direito de exercer o poder poltico, mesmo indiretamente como eleitor. O elemento social compreende tanto o direito a um padro mnimo de bem-estar econmico e segurana, quanto o direito de acesso aos bens culturais e chamada vida civilizada, ou seja, o direito no s ao bem estar material, mas ao cultural. (Braga, 2002: 2) Na mesma medida, a cidadania exige o exerccio de deveres para que os prprios direitos se efetivem. Isto significa que cada indivduo deve fomentar a busca e a construo coletiva dos direitos; o exerccio da responsabilidade com a coletividade; o cumprimento de regras e de normas de convivncia, produo, gesto e consumo estabelecidos pela coletividade; a busca efetiva de participao na poltica para controlar seus governos eleitos dentro de princpios democrticos. Teixeira e Vale (2000: 24-27) do uma definio de cidadania que no permite uma abstrao terica. Entendem que a cidadania no pode estar desvinculada das reais condies sociais, polticas e econmicas que constituem a sociedade. Para uma cidadania efetiva, renem algumas categorias indispensveis para o exerccio da cidadania que implica, em
11
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 primeiro lugar, a participao organizada para que as pessoas no sejam objetos da ao, mas, sujeitos da prtica poltica da comunidade at a do Governo Federal. Por isso, ela conquista e, como tal, torna-se o prprio processo emancipatrio. A emancipao do ser humano um processo contnuo de transformao da sociedade de excluso. Segundo Adorno, [...] uma democracia com o dever de no apenas funcionar, mas operar conforme seu conceito, demanda pessoas emancipadas. Uma democracia efetiva s pode ser imaginada enquanto uma sociedade de quem emancipado. Numa democracia, quem defende ideais contrrios emancipao, e, portanto, contrrios deciso consciente independente de cada pessoa em particular, um antidemocrata, at mesmo se as idias que correspondem a seus desgnios so difundidas no plano formal da democracia. (1995: 141-142) A vivncia da democracia exige uma crescente organizao da sociedade civil para possibilitar e aprofundar a participao de todas as pessoas. A democracia vai alm da democracia representativa que tem mantido no poder as elites dominantes. A histria da democracia brasileira, pautada na democracia representativa, tem permitido o controle do Estado sobre a populao, quando a verdadeira democracia a democracia direta na qual o Estado est sob o controle da populao. O exerccio mais efetivo deste processo democrtico tem sido o oramento participativo, que vem sendo praticado em vrias cidades e Estados do Pas; trata-se de decises polticas para a aplicao de recursos e distribuio de renda, conforme as necessidades das comunidades organizadas atravs de conselhos populares. O que se trata de democratizar radicalmente a democracia, de criar mecanismos para que ela corresponda aos interesses da ampla maioria da populao e de criar instituies novas, pela reforma ou pela ruptura, que permitam que as decises sobre o futuro sejam decises sempre compartilhadas. (Genro, 2001: 18) Tal proposta permite uma nova relao com as questes tradicionais referentes s outras duas categorias fundamentais da cidadania: os direitos e deveres, j anteriormente tratados. Levando a um crescendo, entra em cena uma nova categoria, que a questo do saber. Dominar os contedos da cultura e construir novos conhecimentos a partir deles, para dentro do contexto das necessidades das populaes, significa ter na educao seu principal instrumento, e no resgate dos valores humanitrios como a solidariedade, a conscincia do compromisso para com o bem-estar de todos e a fraternidade e a reciprocidade, a urgncia mais fundamental.
12
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 Sobre a inseparabilidade entre tica e cidadania no processo educativo Aqui compartilhamos um fato que aconteceu imediatamente aps as provas do Exame Nacional do Ensino Mdio -ENEM. Em dilogo com uma pessoa que havia participado das provas do ENEM e que no dia seguinte demonstrava um relativo desnimo, questionamos sobre sua expectativa em relao prova. Ela mostrou sua frustrao com os possveis resultados, pois acreditava que o tema da redao certamente haveria de comprometer seu desempenho. Disse ela: O tema da redao foi sobre poltica, e eu no gosto de poltica. Este exemplo mostra uma tendncia que est presente na sociedade brasileira. Ainda faz-se da poltica um tabu. Conseqentemente, sua discusso est muito ausente do processo de formao da Educao Bsica. Isso decorre de uma separao ideolgica de dois termos inseparveis: cidadania e poltica. As elites tm evitado falar da relao entre estas categorias. Assim, a poltica no tem encontrado seu lugar no processo educativo. Muitas vezes os lemas e planos pedaggicos governamentais falseiam esta inseparabilidade, fazendo com que a cidadania esteja acima ou nada tenha a ver com a poltica. Entretanto, Ferreira (1993: 5) afirma que [...] a prtica educativa sempre traz em si uma filosofia poltica, tenha o educador conscincia disso ou no. Tambm para Freire, [...] no possvel separar poltica de educao, o ato poltico pedaggico e o pedaggico poltico. (2000: 127) J a nova LDB Lei Federal n 9394/96: [...] nomeia o Ensino Fundamental como educao bsica e que tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formao indispensvel para o exerccio da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.(Brasil, 1998a: 41) Segundo a LDB, essa formao se d atravs de vrias formas: I o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios bsicos o pleno domnio da leitura, da escrita e do clculo; II a compreenso do ambiente natural e social, do sistema poltico, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; III o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisio de conhecimentos e habilidades e a formao de atitudes e valores; IV o fortalecimento dos vnculos de famlia, dos laos de solidariedade humana e de tolerncia recproca em que se assenta a vida social. (Brasil, 2000: 30)
13
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 De certa forma, toda a educao tem como objetivo integrar a pessoa ao conjunto da sociedade, isto , visa socializao, inclusive nos moldes das tendncias crticas e transformadoras, pois, como lembra Ferreira (1993: 10), [...] a luta pela definio dos fins da educao inscreve-se na luta de classes como luta por hegemonia. Neste contexto, a referida autora tece suas crticas a Dermeval Saviani que estaria escorregando para o idealismo ao propor uma educao para a cidadania pensando-a somente a partir de duas estruturas: o resgate dos contedos para todas as crianas e a educao centrada na disciplina e na organizao de idias. A cidadania, enquanto conquista e construo, requer muito mais do que o domnio dos contedos. Ferreira (1993: 12-18) ainda analisa a leitura crtica hermenutica de Giroux, que aponta para a necessidade de uma leitura e interpretao das teorias educacionais. As trs grandes linhas por ele analisadas so a racionalidade tcnica, a racionalidade hermenutica e a racionalidade emancipatria. A racionalidade tcnica trabalha com os princpios epistemolgicos do positivismo. Os desajustes e a no-integrao do aluno so vistos como anomia. A educao passa a ser vista como correo de comportamentos, disciplina e enquadramento social. Neste contexto defendese uma eticidade na qual se trabalha a harmonia social e a eliminao dos conflitos. Busca-se um constante aprimoramento das tcnicas pedaggicas que so vistas como soluo para a integrao, so as linhas que trabalham com a idia de que existe um consenso social. Trabalhando com uma perspectiva fenomenolgica, a racionalidade hermenutica considera central o binmio: intencionalidade/significao. A hermenutica liga-se leitura dos signos dando a significao dos fatos. O consenso significa um acordo de conscincias, a partir da compreenso dos fatos, o que faz da educao um dilogo unificador da sociedade, devendo ela considerar os valores e as motivaes dos alunos. Giroux aponta para os erros dessa abordagem, pois ela permanece na conscincia individualista da modernidade, perde de vista a questo ideolgica do processo educativo e as relaes de poder nele implicadas. A deficincia da racionalidade hermenutica estaria na no discusso das questes polticas concernentes ao processo educativo. A nointerveno passa a ser interveno, uma ao poltica real e definida, porm, ocultada. A educao nesta perspectiva acredita e busca na formao da cidadania, a participao do aluno na criao de uma sociedade justa e igual, mas no discute as condies e as relaes de poder em que se do as interrelaes pedaggicas. A terceira grande linha deseja ir alm da abordagem hermenutica, centrando a sua crtica nas relaes sociais. Para Giroux, conforme Ferreira (1993: 12-18), a emancipao se d atravs da dialtica da crtica e da ao na sociedade. Uma conscincia construda criticamente assume o compromisso de fazer histria. Neste contexto, a educao deve ter um fundamento poltico e normativo para proporcionar o engajamento no processo formador. J a ausncia de princpios emancipadores faz da
14
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 educao um processo de adaptao, de enquadramento social, onde o consenso se d sob a orientao das classes dominantes, atravs da coordenao exercida por um Estado paternalista. Por outro lado, a emancipao requer cidadania ativa, inconformada, indignada, que luta para conquistar uma sociedade efetivamente democrtica. O consenso social deve ser construdo pela disputa dos projetos polticos, sociais e econmicos. Assim, a cidadania passa pelas disputas polticas para desmascarar as inverdades e permitir o embate das questes valorativas. Trata-se de um consenso construdo pelo conjunto dos sujeitos envolvidos no processo poltico e pedaggico. Para Ferreira (1993: 12-18), esta viso traz resqucios do idealismo, no considerando suficientemente as relaes entre o ser humano e as condies materiais. Entretanto, acredita-se que ela refora a dimenso da inseparabilidade entre educao, cidadania e poltica. Assim como a palavra e a liberdade so construes educativas atravs das quais [...] o ser humano se constitui num ser capaz de existir no mundo e relacionar-se com este mundo e seu entorno social e natural com liberdade e autonomia responsveis, (Ahlert, 2001: 103-104) tambm a cidadania no pode ser outorgada ou cedida, mas deve ser uma conquista. Nestas tarefas os educadores tm um papel fundamental, o de provocar alunos e alunas a conquist-las. Neste sentido, Streck questiona a intencionalidade poltica conservadora de fazer passar a idia de que a educao prepara para a cidadania. Para ele, esta viso d uma conotao abstrata ao processo educativo, pois cinde os dois termos, dando-lhes significados prprios e estanques. Assim, fundamentando-se em Freire e Arroyo, afirma que [...] no existe num primeiro momento uma preparao para a cidadania para depois poder exerc-la. Educao sempre exerccio de cidadania como prtica de liberdade. O pressuposto bsico para isso reconhecer a aluna e o aluno como co-cidad e co-cidado que, em todos os estgios do desenvolvimento e em todas as modalidades de educao, so parte dos processos sociais de excluso e de incluso. (Streck, 2001b: 58) A educao para a cidadania, embora historicamente polmica, pressuposto para viver a democracia, pois o Estado uma disputa de classes a partir de interesses opostos. necessrio impedir que as classes dominadoras se perpetuem no poder no Estado. Por isso necessrio preparar o cidado para que ele possa ter capacidade participativa e decisria no processo democrtico. O Estado de direito, fundado no respeito a uma constituio, no define necessariamente o pior dos sistemas. A democracia, num sentido ainda a definir, pode ser a organizao mais eficaz da comunidade, a fim de lutar contra a violncia que a ameaa, interna como externamente. A vida no Estado pode ser pensada
15
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 como participao nessa luta, participao nada suprflua. (Canivez, 1991: 12) E isso pressupe uma educao que habilite o cidado a participar das aes polticas que organizam a vida no Estado. Da a justificativa para a educao do cidado para uma democracia participativa. Consideraes finais Vimos que a questo da cidadania implica na discusso sobre o modo com que a pessoa se insere na comunidade e da sua relao com o fenmeno poltico. Para Canivez, existem duas formas representativas da cidadania na atualidade: A primeira ope a cidadania ao Estado: insiste na liberdade dos indivduos ou das comunidades, em oposio ao Estado, considerado como um poder externo sociedade e que a ela se impe. A segunda enfatiza a tradio, a identidade e a continuidade da nao. A cidadania e, sobretudo, o acesso cidadania, depende ento da adeso a uma certa maneira de viver, de pensar ou de crer. (Canivez, 1991: 15) A dimenso da cidadania como pertencimento ao Estado coloca a questo do conceito deste no seu duplo significado, conforme as duas grandes teorias de sociedade construdas ao longo da modernidade. Por um lado, a viso liberal entende que a sociedade, como um conjunto de relaes sociais e de trabalho e troca, tem capacidade de auto-organizar-se. No necessitaria o Estado interferir continuamente na organizao dos indivduos constituintes da comunidade social. Ao Estado caberia a fiscalizao e a fixao de leis e regras para garantir a propriedade e a livre concorrncia. De outro lado, encontra-se a crtica marxista que, lendo a realidade concreta, materialista, de sua poca, identifica o Estado como um ente acima dos cidados. Este Estado um instrumento privativo da classe burguesa hegemnica e sua funo est em manter jurdica, ideolgica e concretamente as relaes de produo e consumo da sociedade capitalista, fazendo o papel de regulador e defensor dos interesses privados dos detentores dos meios de produo atravs das foras armadas, da justia e do sistema educacional. Entretanto, Canivez (1991: 16-17) lembra que h questes que so comuns s duas teorias, como a viso do Estado enquanto mquina estrutural que de fora impe regras s relaes sociais. Ambas as teorias tm na extino do Estado a utopia de uma sociedade completamente livre. A cidadania em uma comunidade poltica submete-se a uma autoridade legal fora da famlia ou casta. O indivduo livre cidado, sujeito apenas autoridade e no mais a algum em particular. Esta comunidade poltica de cidados j no possui mais sua unidade exclusivamente na dominao de uma tradio. Agora, ela provm do embate de interesses de tradies e classes diferentes.
16
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 Para Canivez, na sociedade moderna, [...] o cidado uma espcie de consumidor e o Estado um prestador de servios. (Canivez, 1991: 27) Trata-se, obviamente, de uma definio burguesa. Nesta viso os direitos a serem exercidos tm como condio a prtica de um conjunto de deveres. Quanto dimenso poltica da cidadania, Canivez (1991: 31) sustenta na concepo moderna de Eric Weil, que entende a cidadania como um Estado no qual cada cidado, no seu conjunto de responsabilidades e liberdades, pode candidatar-se ao cargo de governante. Portanto, ser eleitor e elegvel. Essa definio, por sua vez, implica uma prtica educativa prpria. Se todos os cidados so iguais em direitos e deveres, ento, para o exerccio destes, necessitam das mesmas condies de formao, apropriao e construo do saber. Deve ter acesso a uma educao que o habilite na condio de um governante em potencial. J a ao poltica, Canivez (1991: 140-141)fundamenta-a na teoria poltica de Hannah Arendt, para quem a Repblica o Estado no qual o cidado um participante da res publica coisa pblica. No sentido moderno, [...] o Estado a organizao da comunidade em instituies, todas elas solidrias: o governo, o parlamento, a administrao, a organizao do povo em corpo eleitoral so instituies estreitamente dependentes umas das outras. O Estado no , portanto, uma associao de indivduos ligados por um contrato, como para Rousseau, mas uma organizao de instituies que agem junto. (Canivez, 1991: 148) No Estado, o cidado toma parte das decises que comprometem a comunidade e que devem ser construdas atravs de assemblias comunitrias e assemblias representativas constitudas pelos eleitos das comunas. Este exerccio participativo exige capacitao dos instituintes. Assim, para que esta democracia moderna se efetive, faz-se necessria a existncia de cidados ativos, ou seja, de uma sociedade na qual todos os seus integrantes tm capacidades e habilidades para serem governantes nas mais variadas instncias e nveis em que se desdobram as funes do Estado. Essa capacitao do cidado requer, portanto, uma educao que forma cidados ativos. Conforme Canivez, Arendt entende a educao como uma ao essencialmente conservadora, e quando no for conservadora se tornar reacionria. Aqui, porm, trata-se no de uma educao que conserva um status quo burgus, no qual as elites econmicas e polticas mantm os privilgios educacionais diferenciados para seus filhos. Educao conservadora, na teoria arendtiana, aquela que [...] conserva a herana de saber e de experincia recebida do passado e transmiti-la s novas geraes. (Canivez, 1991: 141) O Estado, como organizao da vida da comunidade, exige da educao uma significao fundamentalmente poltica. Sua funo concernente democracia busca a socializao e a educao moral dos
17
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 indivduos que fazem a comunidade. Trata-se de uma educao em valores universais. Mas isso no significa uma educao apenas adaptativa. Canivez v na educao a funo [...] de levar o indivduo a pensar e, sobretudo, a compreender porque isso exigido e, conforme o caso, por que isso, que de fato se exige dele, no exigvel. (Canivez, 1991: 150-151) No Estado moderno, onde o governo a mola propulsora da poltica administrativa e das polticas publicas, geralmente, o cidado passivo. Ele elege seus governantes e, posteriormente, relaciona-se apenas como opinio pblica de presso pr ou contra as aes polticas e administrativas empreendidas pelos governantes. No entanto, a democracia possibilita o exerccio da cidadania ativa. Para Canivez, [...] o cidado ativo aquele que exerce responsabilidades polticas, em um nvel qualquer de hierarquia de um partido ou na das funes pblicas. Essas responsabilidades podem ser definidas por um status (como so as do deputado ou ministro). Elas tambm podem ser informais (assim como as dos conselheiros privados, como os que assessoram todos os homens polticos). O cidado ento tanto mais ativo quanto mais prximo estiver dos centros de deciso. Em outras palavras, tanto mais ativo quanto mais participar do governo. (1991: 154) Esta participao requer uma capacidade organizativa da cidadania. Depende do cidado refletir sobre as questes econmicas, polticas e sociais, construir opinio sobre essas questes, manifestar-se e participar do debate e das decises sobre os grandes temas que a organizao democrtica requer. Esta cidadania demanda um sistema escolar que eduque o cidado. Em uma democracia, a escola deve educar cidados ativos. No deve preocupar-se em ensinar aos indivduos como defender seus interesses materiais, sociais e profissionais. No deve tambm trein-los para as lutas polticas, para a competio pelo poder, para as manobras partidrias. Seu papel, em outros termos, no inici-los vida poltica. Essa iniciao, que passa pela participao em debates, assemblias, campanhas de todo tipo, incumbncia dos partidos. [...] Decerto no deve orientar as preferncias partidrias dos cidados, mas deve dar-lhes a cultura e o gosto pela discusso, que lhes permitiro compreender os problemas, as polticas pretendidas, e debater sobre isso. (Canivez, 1991: 157) Na perspectiva da cidadania, ser que em nossos programas acadmicos procuramos estes comportamentos e atitudes? Como lidamos com as vaidades pessoais e nos perguntamos se somos humanistas de fato ou humanistas de ocasio?
18
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 Fundamentada em Eric Weil, Canivez, a autora da citao acima, v na instituio escolar a tarefa e a possibilidade da formao do cidado capacitado para o dilogo argumentativo sobre os temas fundamentais para a democracia, como a Constituio, o direito, o Estado, a informao, a comunicao, a justia. Por isso, este lugar da educao um lugar prprio da poltica. A educao para a cidadania uma educao poltica. Em sntese, a democracia a organizao de uma comunidade ou de comunidades humanas cuja normatizao e organizao das relaes esto assentadas sobre um conjunto de leis constitucionais consensualmente construdos. Ela pressupe a condio de cada indivduo participar do processo democrtico mediante a escolha de lderes e governantes (cidadania passiva) ou postular funes de governante e ou participar da discusso e deciso das polticas pblicas a serem executadas pelo Estado (cidadania ativa). Essa cidadania ativa somente possvel quando os cidados desenvolvem, atravs da educao, as capacidades de julgar as questes pertinentes do Estado para alm das particularidades e interesses individuais. Esta educao deve assentar-se sobre o princpio do dilogo para que, via argumentao, se produza um consenso entre todos os concernidos. Trata-se da busca de um consenso de sentido estreito, onde todos os temas relevantes uma vida democrtica e inclusiva sejam discutidos e decididos pela participao de todos os cidados. Notas:*
Doutor em Teologia, rea Religio e Educao pelo IEPG/EST, RS, Mestre em Educao nas Cincias, pela UNIJU, RS, Professor Adjunto da UNIOESTE, membro do GEPEFE e do Grupo de Pesquisa Cultura, Fronteira e Desenvolvimento Regional. [email protected] , [email protected], [email protected] Aqui importante observar que quando falamos de cidadania grega esto citados apenas os cidados. Entre eles havia democracia. Porm, a sociedade no prottipo de cidadania, pois Vale lembrar que Atenas, nos tempos de seu maior desenvolvimento, possua noventa mil cidados livres, entre homens, mulheres e crianas; enquanto isso, o nmero de escravos para ambos os sexos alcanava a soma de 365 mil pessoas. Alvori AHLERT. A eticidade da educao: o discurso de uma prxis solidria/universal, p. 27 .
i
Bibliografia:ADORNO, Theodor W. 1995. Educao e emancipao. Trad. Wolfgang Leo Maar. Rio de Janeiro: Paz e Terra. AHLERT, Alvori. 1996. Modernidade: das sementes ao nascimento. Iju, RS: UNIJU. (Cadernos do Mestrado). AHLERT, Alvori. 2003. A eticidade da educao: o discurso de uma prxis solidria/universal. 2 ed. Iju, RS: UNIJU. (Coleo - Fronteiras da educao). ANDREOLA, Balduino Antonio. 2000. Carta-prefcio a Paulo Freire. In: FREIRE, Paulo. Pedagogia da indignao: cartas pedaggicas e outros escritos. 3. ed., So Paulo: Editora UNESP.
19
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007
ANDREOLA, Balduino Antonio. 2001. tica e solidariedade planetria. Estudos Teolgicos. So Leopoldo, v. 41 (2): 18-38. BECK, Nestor Luiz Joo. 1996. Educar para a vida em sociedade: estudos em cincia da educao. Porto Alegre: EDIPUCRS. BRAGA, Robert. 2002. Qualidade de vida urbana e cidadania. Territrio e cidadania. Rio Claro, SP: UNESP, n.2, julho/dezembro, p. 2. BRASIL. Secretaria de Educao Fundamental. 1998a. Parmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: introduo aos parmetros curriculares nacionais. Braslia: MEC/SEF. BRASIL. Secretaria de Educao Fundamental. 1998b. Parmetros curriculares nacionais: terceiros e quartos ciclos: apresentao dos temas transversais. Braslia: MEC/SEF. BRASIL. 2000. LDB: Lei de iretrizes e bases da educao: Lei n. 9.394/96/. Apresentao Esther Pillar Grossi. 3 ed. Rio de Janeiro: DP&A. BRASIL. 2003. Constituio da Repblica Federativa do Brasil. 11 ed. Bauru, SP: EDIPRO.
CANIVEZ, Patrice. 1991. Educar o cidado? Campinas, SP: Papirus. COMPARATO, Fbio Konder. 1999. Prefcio. In: PINSKY, Jaime. Cidadania e educao. 3. ed. So Paulo: Contexto. DEMO, Pedro. 1996. Pesquisa e construo do conhecimento: metodologia cientfica no caminho de Habermas. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.DEMO, Pedro. 1997. Pesquisa: princpio cientfico e educativo. 5. ed. So Paulo: Cortez. DUSSEL, Enrique. 2002. tica da libertao na idade da globalizao e da excluso. 2. ed. Petrpolis: Vozes. FERREIRA, Nilda Teves. 1993. Cidadania: uma questo para a educao. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. FREIRE, Paulo. 1987. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra. FREIRE, Paulo. 2003. Pedagogia da autonomia: saberes necessrios prtica educativa. 26. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra. FREIRE, Paulo. 2000. Pedagogia da indignao: cartas pedaggicas e outros escritos. 3. ed. So Paulo: Editora UNESP. GENRO, Tarso e SOUZA, Ubiratan de. 2001. Oramento participativo: a experincia de Porto Alegre. 4. ed. So Paulo: Editora Fundao Perseu Abramo.
GHIRALDELLI Jr., Paulo. 1991. O que pedagogia. 6. ed. So Paulo: Brasiliense. HABERMAS, J. 1989. Conscincia moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.LIBNEO, Joo Batista. 1995. Ideologia e cidadania. So Paulo: Moderna. MANZINI-COVRE, Maria de Lourdes. 1998. O que cidadania. So Paulo: Brasiliense. (Coleo Primeiros Passos).
20
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007
MARQUES, Mario Osrio. 1993. Conhecimento e modernidade em reconstruo. Iju: Ed. da UNIJU. MARQUES, Mario Osrio. 1994. Por uma educao de qualidade. Contexto & educao. Iju: Ed. da UNIJU, 9 (34). p. 81-90. MARQUES, Mario Osorio. 1995. Aprendizagem na mediao social do aprendido e da docncia. Iju: Ed. da Uniju. MARQUES, Mario Osrio. 1996. A Eticidade da Cincia. Cincia & ambiente. Santa Maria: Ed. da UFSM e Iju: Ed. da UNIJU, n. 12, p. 7-15.
MARX, Karl. 1989. Manuscritos econmico-filosficos. Lisboa Portugal: Edies 70, p. 77-93.MARX, Karl. 1989. A conscincia revolucionria da histria. In: FERNADES, F. K. Marx e F. Engels Histria. So Paulo: tica, p. 146-181. PRESTES, Nadja Mara Hermann. 1996. Educao e racionalidade: conexes e possibilidades de uma razo comunicativa na escola. Porto Alegre: EDIPURCS. SEGUNDO, Juan Luis.1978. Libertao da teologia. So Paulo: Loyola. SIDEKUM, Antonio (org.). 1994. tica do discurso e filosofia da libertao, modelos complementares. So Leopoldo: Ed. UNISINOS. STRECK, Danilo R. 2001. Pedagogia no encontro de tempos: ensaios inspirados em Paulo Freire. Petrpolis: Rio de Janeiro. TEIXEIRA, Paulo Marcelo Marini e VALE, Jos Misael Ferreira do. 2000. Ensino de Biologia e cidadania: problemas que envolvem a prtica pedaggica de educadores. In: NARDI, Roberto (org.). Educao em cincias: da pesquisa prtica docente. So Paulo: Escrituras Editora. (Educao para a Cincia). TRIVIOS, Augusto Nibaldo Silva. 1987. Introduo pesquisa em cincias sociais: a pesquisa qualitativa em educao. So Paulo: Atlas. ZITKOSKI, Jaime Jos. 2000. Horizontes da refundamentao em educao popular. Frederico Westphalen: Ed. URI.
21
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007
Um pedao da frica do outro lado do Atlntico: o terreiro de candombl Ile Iya Mi Osun Muiywa (Brasil) iPetrnio Domingues* The purpose of this article is to draw a brief historical draft of one important So Paulo candombl cult house, the Ile Iya Mi Osun Muiywa, pointing out its principal initiatives on the religious, social, political and cultural field. This cult houses history is mixed up with the consolidation of the candombl in So Paulo itself. Its objective is also to point out the fact that this cult house has distinguished itself in the fight for the the povo de santos civil rights defense and for the end of the religious intolerance in Brazil. Keywords: candombl, African Brazilian Religions, African Brazilian, African Brazilian Culture.
Introduo A histria dos povos da dispora africana no Brasil ainda no foi contada devidamente. Durante dcadas, o discurso historiogrfico e antropolgico escamoteou ou secundarizou as tradies culturais e religiosas de um segmento que, oficialmente, representa quase metade da populao brasileira. Esta postura talvez estivesse relacionada ao racismo brasileira, o qual exclua ou inclua marginalmente as manifestaes da religiosidade negra no repertrio dos temas considerados de relevncia cultural. A produo cultural dos negros era representada pelo sensocomum de maneira folclrica, como algo fossilizado, enquanto objeto laboratorial ou pea morta de museu. As religies de matriz africana permaneciam, em alguns momentos, sendo definidas como seitas, expresso de uma religiosidade de segunda categoria, primitiva ou fetichista. Apesar da opresso racial, a populao da dispora africana demonstrou capacidade de luta e resistncia no Brasil. Negando o discurso etnocntrico, essa populao caracterizou-se pela produo de uma religio viva e dinmica, to complexa quanto a de qualquer outro grupo tnico. Um exemplo cabal desse processo o candombl, uma religio que sofreu perseguio policial no Brasil por mais de um sculo.2
22
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 Tradio milenar dos iorubs africanos, a religio dos orixs (candombl) foi (re)inventada do outro lado do Atlntico, a princpio, no ambiente do mundo escravista. Com o fim do cativeiro, a religio se expandiu no ambiente urbano e industrial. Neste novo contexto, a cidade de So Paulo foi um dos palcos que abrigou um pedao da frica tradicional.3 E dentre os vrios terreiros de candombl que surgiram nessa metrpole, um merece destaque especial, o Ile Iya Mi Osun Muiywa, dado sua importncia e longevidade. Por isso, o objetivo desse artigo resgatar alguns elementos da histria e memria desse terreiro, apontando suas principais iniciativas no campo religioso, social, poltico e cultural. A histria do Ile Iya Mi Osun Muiywa se confunde com a prpria consolidao do candombl em So Paulo. Pretende-se, outrossim, ressaltar o fato de que esse terreiro vem se notabilizando pela luta em defesa dos direitos civis do "povo de santo" e pelo fim da intolerncia religiosa no pas. Uma breve histria das religies afro-brasileiras Com a chegada do primeiro plantel de africanos escravizados ao Brasil, por volta de 1549, iniciou-se o processo de resistncia religiosa do negro em terra brasilis. Apesar da vigilncia e da estratgia de converso ao cristianismo, os africanos escravizados continuaram cultuando seus deuses. Dentre os primeiros registros de manifestaes de uma religiosidade afrobrasileira no perodo colonial (1500-1822), assinalam-se as prticas do Calundu, do Canger e do Acotund. (cf. Souza, 1986: 263-269; Mott, 1988: 87-117). No incio do Imprio (1822-1889), presume-se que foi fundado em Salvador o primeiro terreiro de candombl do pas, em seguida, surgiram outros, localizados sobretudo nessa cidade e no Rio de Janeiro. Em pesquisa recente, Luis Nicolau Pars procurou acompanhar o processo de constituio do candombl. Ele argumenta que, no perodo colonial, as pessoas incorriam em prticas religiosas de uma maneira relativamente individual e independente (com fins de cura e adivinhao, principalmente), depois elas passaram a formar as primeiras congregaes religiosas de carter familiar ou domstico at chegarem a organizar as congregaes extra-familiares: acredito que foi s num estgio mais tardio, provavelmente no incio do sculo XIX [no perodo do Imprio], que se consolidou uma rede social de congregaes extradomsticas. S quando essas congregaes, em nmero suficiente, comearam a estabelecer entre si interaes de cooperao, complementaridade e conflito, poderamos falar de uma comunidade religiosa afro-brasileira e do surgimento do Candombl (Pars, 2006: 119). O candombl foi uma herana cultural dos africanos escravizados de origem nag ou, como tambm conhecido, iorub.4 Alguns autores afirmam que os nags, no plano religioso, eram um dos grupos tnicos africanos mais desenvolvidos naquela poca. Edson Carneiro (1964: 174) assevera que,
23
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 "entre todos os povos negros chegados ao Brasil, talvez com a simples exceo dos mals, os nags (ou iorubs) eram, sem dvida, os portadores de uma religio mas elaborada, mais coerente, mais estabilizada. A sua concentrao na cidade de Salvador, em grandes nmeros, durante a primeira metade do sculo passado [XIX], deu-lhes a possibilidade de conservar, quase intactas, as suas tradies religiosas. Dessas tradies decorrem os candombls". Evidentemente, Edson Carneiro exagera na afirmao de que o grupo tnico nag era um dos mais evoludos e que sua religio foi mantida quase impoluta no Brasil, mas provavelmente so das tradies nags que decorrem os candombls. A abolio da escravatura, em 1888, e a instaurao da repblica, em 1889, permitiram que paulatinamente o candombl e seus derivados se expandissem por todo o pas. No Rio Grande do Sul e na Amaznia, eles passaram a ser conhecidos por batuque. No Maranho, so designados de Tambor de Mina. Em Pernambuco, Sergipe e Alagoas, tais cultos so conhecidos simplesmente por Xangs (Carneiro, 1964: 128; Prandi, 2005: 21). O Candombl em So Paulo O termo candombl, denominado primariamente kandombile, de origem banto e significa culto, louvor, reza, orao ou invocao. A introduo do candombl em So Paulo aconteceu no incio da dcada de 1960. Segundo Reginaldo Prandi (1991: 93), essa religio teve insero ali por meio de: pais-de-santo que vinham do Rio de Janeiro e da Bahia para iniciarem filhos religiosos de So Paulo, quando umbandistas iam ao Rio de Janeiro e Bahia para l se iniciarem no candombl; casos em que um pai ou me-desanto migrava para So Paulo j iniciado em seu Estado de origem e abria a terreiros de candombl; situaes em que o migrante j vinha "feito" no candombl, mas comeava sua carreira religiosa em So Paulo abrindo casa de umbanda, para, mais tarde, vir a tocar candombl e abandonar a umbanda; e, finalmente, atravs de filhos que j eram iniciados em So Paulo por mes e pais-de-santo tambm iniciados em So Paulo. Terreiro o templo onde se pratica o candombl. Tambm pode ser chamado de casa, roa ou em sua verso de origem iorub: il (casa) ou ax (fora vital).5 O mais antigo terreiro de candombl no Estado de So Paulo foi criado em Santos, em 1958, por um baiano, Seu Bob (Jos Bispo dos Santos). No entanto, o primeiro terreiro que teve seu registro em cartrio com o termo "candombl" foi o de Me Manod, em 1965 (cf. Prandi, 1991: 93). Cada terreiro de candombl uma famlia, cuja principal dirigente na hierarquia religiosa titulada de yalorix (ya = me + lorix = sacerdote do orix) e o principal dirigente titulado de babalorix (baba = pai + lorix = sacerdote do orix). Eles so os responsveis pelo culto aos orixs e detentores (e transmissores) do ax do terreiro. Quando esses sacerdotes investem o ax na iniciao de novos adeptos religio, amplia-se
24
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 a famlia religiosa, que passa a ser constituda de filhos ou filhas-de-santo, sobrinho ou sobrinhas-de-santo, neto ou netas-de-santo. J o termo "nao" uma aluso aos grupos tnicos dos africanos escravizados, trazidos para o Brasil e que aqui continuaram praticando sua religio de origem nas comunidades de terreiros. Dentre essas naes, as principais foram as dos banto, nag (ou iorub) e jeje. O candombl chamado angola tem uma origem banto (habitantes das regies de Angola, Congo e Moambique) e os deuses reverenciados denominam-se inquices, como Mutalamb, Matamba, Dandalunda, entre outros. J no candombl ef e ketu, de origem nag ou iorub (populao das regies conhecidas nos dias de hoje como Nigria e parte do Benin, ex-Daom), predomina o culto aos orixs, como Xang, Oxal, Ias, Iemaj, entre outros. E, finalmente, no candombl jeje, cultua-se os voduns, como Sob, Mavu Lissa, Olissa, divindades do grupo tnico fon (populao de algumas regies localizadas no Benin). A diferena de uma nao religiosa para outra passa pelas caractersticas do culto, dos alimentos, das roupas, da mitologia, da designao de suas divindades, do sistema de cores classificatrias dessas divindades (cf. Silva, 1995: 110), da maneira como se tocam os atabaques e da utilizao da lngua (que pode ser iorub, no candombl da nao ketu; quimbundo, da angola; e ewe, da nao jeje) utilizada nas cantigas rituais, rezas e saudaes. As principais naes de candombl que chegaram em So Paulo foram de origem angola, na primeira fase; ef, na segunda, e ketu, na ltima fase. Da nao angola, o nome mais lembrado , sem dvida, o de Joo da Gomia (Joo Alves Torres), um dos mais importantes babalorixs baianos que se estabeleceu no Rio de Janeiro nos anos 1950. Por meio de freqentes viagens a So Paulo, ele iniciou uma grande quantidade de pessoas no candombl. Do rito ef, um dos babalorixs mais lembrados Waldomiro de Xang (Waldomiro Costa Pinto), conhecido como Baiano. Com terreiro aberto em Caxias, no Rio de Janeiro, ele expandiu sua imensa famlia religiosa para So Paulo, por meio de consecutivas viagens para iniciar pessoas, dar as costumeiras obrigaes de senioridade e preparar aberturas de casas. Um outro importante divulgador do rito ef em So Paulo foi Alvinho de Omolu (lvaro Pinto de Almeida), irmo de santo de Waldomiro de Xang. No incio da dcada de 1960, ele se transferiu para a paulicia, permanecendo a por quase uma dcada, antes de regressar para o Rio de Janeiro. Do rito ketu, a linhagem precursora em So Paulo foi a de Nezinho de Ogum (Manuel Siqueira do Amorim), do terreiro Porto da Muritiba, no Recncavo Baiano, intimamente vinculado s famosas casas do rito ketu em Salvador, como a Casa Branca do Engenho Velho e o Gantois de Me Menininha. Apesar de possuir terreiro no Rio de Janeiro, Nezinho vinha constantemente a So Paulo, nas dcadas de 1960 e 1970, para tratar das coisas de orix. O modelo ketu , por sinal, considerado o mais puro ou autntico candombl, por isso desfruta de tanto prestgio entre o "povo de santo". Esta pureza ritual sempre afirmada em oposio umbanda, uma
25
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 religio marcada pelo sincretismo, prtica tambm criticada no candombl da nao angola. Alm do angola, ef e ketu, existem, em menor escala, outras modalidades de ritos no candombl paulista. Da nao jeje, na sua verso baiana, levantou-se terreiro do rito marrim. J na sua varivel maranhense, estabeleceu-se tambm a casa da nao mina, que cultua os voduns e os encantados (nome dos caboclos). Similarmente, foi introduzido no campo religioso afro-paulista a nao "bosso-alaqueto", uma releitura do ketu, de enraizada tradio iorub. Por fim, necessrio fazer meno existncia de terreiro afiliado ao xang pernambucano (uma modalidade regional do rito ketu). O Ile Iya Mi Osun Muiywa Nas primeiras dcadas de constituio do candombl em So Paulo, os adeptos eram geralmente oriundos da umbanda. A fundadora do Ile Iya Mi Osun Muiywa, Me Isabel de Omulu (Isabel Maria da Conceio de Oliveira), um caso tpico desse fenmeno. Nascida na cidade de Guariba/SP, em 1914, migrou para a capital paulista para ganhar a vida, estabelecendo-se no bairro da Casa Verde, que era um verdadeiro territrio negro na cidade de So Paulo na poca (cf. Rolnik, 1988). Viva precocemente, passou a sustentar sozinha seus seis filhos, trabalhando como empregada domstica. Proveniente de uma famlia catlica, logo aderiu s prticas umbandistas na nova cidade.6 Em 1956, fundou o terreiro de umbanda So Lzaro; alguns anos depois, a casa se tornou de candombl. Isabel Maria da Conceio de Oliveira (1914-2001) foi uma das primeiras umbandistas a se iniciar no candombl em So Paulo. Sua converso religio, em 1962, foi justificada como decorrncia de um grave problema de sade. Como informa sua filha carnal, Me Wanda: "o guia, o caboclo de Oy Tolu, que era o Seu Trs Pedras, chegou e falou assim para a minha me: Ou a Senhora sai da umbanda e entra no candombl, pra fazer sua cabea, ou a Senhora vai acabar ficando louca" (apud Prandi, 1991: 78). Me Isabel de Omulu, ento, seguiu a determinao da divindade e fez santo, isto , foi iniciada na nova religio em 1962, por Joo Alves Torres (1914-1971), o Joo da Gomia, em Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro, recebendo a dijina (nome religioso) Kateu. Esta dijina faz parte do ritual do candombl da nao angola, do qual Joo da Gomia foi um dos principais expoentes do pas. Em 1964, Wanda de Oliveira Ferreira, filha carnal de Dona Isabel, tambm foi iniciada por Joo da Gomia, passando a ser chamada Ode Ceci. J Gilberto Ferreira - que mais tarde tornou-se marido de Wanda de Oliveira - converteu-se da umbanda para o candombl fortuitamente, em 1961, no Rio de Janeiro. Naquele mesmo ano, foi confirmado og (mestre), numa casa de rito ef e, em seguida, transferiu-se para Santos.
26
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 Como j foi observado, o Ile Iya Mi Osun Muiywa inicialmente recebeu influncias do candombl de nao angola. Com a morte de Joo da Gomia, em 1971, operou-se uma guinada de naes no candombl em So Paulo. O angola declinou-se e o ef, mas, sobretudo, o ketu (ambas naes de origem iorub), se impuseram, iniciando o perodo de predomnio do candombl nag. Segundo Vagner Gonalves da Silva (1995: 86), "se por um lado o rito angola popularizou o candombl, atraindo aquelas populaes umbandistas que comeavam a se interessar por ele, principalmente atravs da figura do caboclo afro-amerndio que, de um certo modo, descia` em ambas as religies, por outro no enfatizou certos aspectos que justamente serviram de mote para os ef, cujo apelo s origens, raiz` e ao modelo puro` de culto acabaram constituindo um forte argumento para garantir o acesso ao controle legtimo do culto aos orixs". Entre as acusaes freqentes desferidas contra Joozinho da Gomia, est o de cultuar entidades estranhas ao candombl (como era o caso do caboclo).7 Com a morte desse babalorix, seus filhos e filhas tiveram que procurar uma nova filiao religiosa. Dona Isabel, pelo menos, passou a realizar suas obrigaes com Waldemiro Costa Pinto, conhecido como Waldomiro de Xang ou simplesmente Baiano, da nao ketu.8 A ento filha-de-santo Wanda seguiu o mesmo caminho da me, Dona Isabel, e realizou suas obrigaes religiosas de sete anos, tomando o ax pelas mos de Waldomiro de Xang. Em funo dessa mudana de nao religiosa, a ento filha-desanto, Wanda Ferreira, que era conhecida como Od Ceci, passou a ser chamada Wanda de Oxum. Perguntada como esse processo aconteceu, ela explica: Na nao ketu no existe dijina, isso pertinente ao culto Inkice, sendo eu recolhida em grupo (barco) com 11 pessoas, o meu zelador de santo precisava identificar cada iniciante e fui simplesmente apelidada de Od Ceci`. A casa do meu Babalorix era angola. Wanda de Oxum, portanto, ocorreu durante a minha obrigao de 7 anos (oi) e o babalorix Joozinho da Gomia tinha falecido, fiquei rf aos 6 anos de iniciada, por isso tirei a mo de vumi`9 e aps 17 anos, reiniciei as minhas obrigaes com o babalorix Waldomiro de Xang, pois j fazia parte do ax deste competente zelador-de-santo que deu prosseguimento aos atos com o falecimento de seu` Joozinho da Gomia, da tornei-me conhecida por Wanda de Oxum".10 Esses eventos marcaram a transio para o segundo perodo do terreiro, que passou a ser influenciado pelo rito de origem ketu. Como Baiano era ritualmente filho de Me Menininha, do Gantois da Bahia, Dona Isabel e Wanda - na qualidade de filhas de Baiano - passaram a ser ritualmente netas de Me Menininha. Assim, a linhagem do Ile Iya Mi Osun Muiywa tornou-se vinculada ao do Gantois, da Bahia, a mais famosa famlia-de-santo do pas na poca.
27
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 O terreiro, portanto, segue o rito ketu africanizado, com revalorizao do ef e angola. E como afirma Vagner Silva, a yalorix Wanda de Oxum personifica a trajetria do candombl paulista. Iniciada no rito angola, transferiu-se em seguida para ketu. Em 1970, "Waldomiro de Xang, seu pai adotivo, abandona o rito ef e passa para o Gantois, arrastando consigo toda sua filiao. Portanto, Wanda de Oxum carregar estas mltiplas identidades: filha de umbandista, raspada no rito angola, casada com um ef, adotada pelo queto da Muritiba atravs de Tia Rosinha e finalmente do Gantois. Nela se espelha tambm a trajetria do candombl em So Paulo" (Silva, 1995: 90). Ainda em 1971, Wanda de Oxum, como passa a ser conhecida, recebeu o cargo de Iya Kekere (me-pequena), assumindo, teoricamente, o segundo posto na hierarquia de comando religioso do terreiro, pois, na prtica, tornou-se a principal liderana, em virtude da idade j avanada de Dona Isabel. Nessa nova fase, ela revitalizou o Ile Iya Mi Osun Muiywa, implantando novos projetos e fazendo alianas externas com algumas personalidades pblicas. O terreiro passou a adquirir mais reconhecimento e Wanda de Oxum tornou-se figura respeitada por sua militncia em favor da causa negra (Ferreira, 2002). Em 1976, ela foi investida no posto de yalorix, outorgado por Waldemiro de Xang e Dona Rosinha de Xang, e prosseguiu dinamizando as atividades do terreiro. Em 1995, aumentaram suas responsabilidades frente do terreiro, devido o acometimento de uma grave doena em Dona Isabel. Em 2001, a fundadora da casa faleceu e a yalorix Wanda de Oxum, sua sucessora natural, foi oficializada, em 2002, no cargo de principal dirigente do Ile Iya Mi Osun Muiywa. Uma religio que prima pela oralidade No existem livros sagrados que ensinem as liturgias, os cdigos morais ou a organizao do poder no candombl. Nesta religio, se aprende tudo empiricamente, conforme indica Me Wanda: "o que eu aprendi dentro do candombl foi com a participao. No pelo livro que eu vou aprender. A gente aprende na participao".11 Herdeiros da cultura africana, o povo de candombl preserva a oralidade - em detrimento do registro escrito - como sua principal fonte transmissora de conhecimento, seja de seus princpios ou suas prticas religiosas, seja de seu passado secular. Da a necessidade de se lanar mo da histria oral para recuperar fragmentos desse passado, aparentemente perdido no tempo, posto que, na essncia, permanece guardado na memria dos mais velhos. Na avaliao de Raul Lody (1987: 12), "o segredo foi a melhor arma do candombl para conseguir manter tantos traos africanos, como palavras, msica e, principalmente, rituais religiosos, formas revitalizantes da continuidade e da manuteno do ax". Porm, cumpre reconhecer que uma das fontes no oficiais de conhecimento dos segredos da religio so os "cadernos de fundamentos", utilizados pelos
28
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 iniciados para anotar os ensinamentos que so adquiridos cotidianamente nas atividades religiosas. Nesses cadernos de formao, escreve-se detalhadamente sobre tudo que diz respeito aos procedimentos dos rituais, como rezas, frmulas de ebs e oferendas, receitas de banhos, utilizao de folhas sagradas e nomes dos odus e seus significados no jogo de bzios. Este instrumental foi amplamente utilizado por Me Wanda, que tinha o hbito de registrar tudo que aprendia de seu babalorix Joo da Gomia: "quando a gente ia para o Rio de Janeiro, que tinha ia, isso e aquilo, seu Joo [da Gomia] falava: senta, pega um caderno e marca tudo que voc est vendo, que a gente aprende. Eu tinha um caderno que eu marcava como seu Joo raspou uma ia, as cantigas. Tudo eu aprendi l".12 A africanizao do Candombl paulista Para legitimar sua religiosidade, os terreiros de candombl paulistas procuraram se investir de uma pureza original, a qual, em um primeiro momento, era encontrada na Bahia, mas, depois (no incio da dcada de 1980), passou a ser a prpria frica. Neste perodo, muitos sacerdotes realizaram peregrinaes frica, pagaram obrigaes e receberam ttulos honorficos nos templos da Nigria e do Benin. Este processo de retorno s origens conhecido como africanizao do candombl. Para Prandi (1991: 118), "africanizar significa tambm a intelectualizao, o acesso a uma literatura sagrada contendo os poemas oraculares de If, a reorganizao do culto conforme modelos ou com elementos trazidos da frica contempornea"; implica no aparecimento do sacerdote, na sociedade metropolitana, como algum capaz de superar uma identidade discriminada. A busca das razes ancestrais tambm fez parte dos planos do Ile Iya Mi Osun Muiywa. Para tanto, procurou-se de forma progressiva eliminar todo tipo de sincretismo que ainda persistia nas prticas rituais, centralmente, o culto ao caboclo e aos santos catlicos. Um marco desse processo foi a participao do terreiro na II Conferncia Mundial da Tradio e Cultura dos Orixs, realizada em Salvador, em 1983. Neste evento, foi aprovado um manifesto, decretando o fim do sincretismo no candombl em todo pas. Segundo Silva (1995: 278), o movimento de dessincretizao do candombl tornou-se oficial na II Conferncia Mundial da Tradio e Cultura dos Orixs, realizada em 1983, em Salvador, quando algumas das mais famosas mes-de-santo, liderada por Me Stella do Op Afonj, assinaram documento contra o sincretismo.13 Como signatrio desse manifesto, o Ile Iya Mi Osun Muiywa afastou do culto as influncias do catolicismo e das outras misturas, como as entidades espirituais amerndias. Dona Isabel, que ainda incorporava o esprito do caboclo Sete
29
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 Estrela, passou a ser discretamente repreendida, assim como sua postura de freqentar as missas e cultuar os santos catlicos. Quando yalorix Wanda de Oxum assumiu o terreiro, as diversas relquias e imagens dos santos catlicos foram removidas do altar sagrado das divindades. Cessou-se, igualmente, o culto a caboclo na casa, ou seja, eliminou-se, em definitivo, os resqucios da influncia catlica e umbandista. A palavra de ordem passou a ser resgatar as razes da religio, por isso o terreiro voltou suas atenes para o modelo de culto aos orixs praticado na frica. No bojo desse processo, Me Wanda realizou um antigo sonho: conhecer a frica. Ela teve a oportunidade de viajar para a Nigria, em 1986. Durante visita de cortesia ao Olasoko of Isoko (Rei da cidade de Isoko), este lhe concedeu o ttulo honorfico de Princes of Isoko (Princesa de Isoko). Nesta mesma viagem, Me Wanda visitou a cidade de Osogbo. No decorrer do cerimonial em homenagem a Oxum Osogbo (divindade protetora da cidade), ela foi reconhecida como filha dileta dessa divindade e teve seu nome, Oxum Muiywa, investido pela Ialode of Osogbo (sacerdotisa de Oxum na cidade de Osogbo). Foi a primeira vez na histria daquela cidade que uma pessoa de outro continente foi agraciada com esse ttulo (Ferreira, 2002), o que conferiu a Me Wanda o direito de introduzir o Oxum Osogbo no Brasil e cantar a seguinte cantiga: Osun iya mi o Osun sala mi fum mi Ninu odun, j ki n`rayo J ko na, mio gere Osun iwo, iya omi Osun Osogbo Ba, mio Iya Osun Muiywa Ba, mio. A viagem de Me Wanda frica foi outro marco para a casa porque, entre outros motivos, permitiu a adoo de alguns elementos do culto original aos orixs, tal como praticado pelos iorubs na Nigria. A partir daquele instante, a casa passou a estabelecer um intercmbio com os sacerdotes africanos, e o og Gilberto Ferreira voltou quatro vezes Nigria, de 1987 a 1990, procurando, sempre, aprofundar mais o conhecimento da cultura e religio dos orixs. O intercmbio com o exterior continuou nos anos seguintes. A casa, por sinal, j exportou a religio dos orixs para outros pases, com o og Gilberto Ferreira e alguns dos filhos-de-santo atuando, inclusive, nos Estados Unidos. Um dos frutos desse trabalho a iniciao de alguns estrangeiros na casa. Um caso ilustrativo envolveu o sacerdote de origem cubana, Ilari Oba (Willie Ramos). Em 2001, ele se submeteu ao tradicional ritual de bori no terreiro, sob a orientao da yalorix Wanda de Oxum. Aps aprender esse ritual - que praticamente foi perdido na dispora africana - Ilari o introduziu nos Estados Unidos e em Cuba, sendo, assim, o Ile Iya Mi Osun Muiywa um dos responsveis pela recuperao dessa tradio iorub naqueles dois pases.
30
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007
Uma breve descrio do terreiro Desde o perodo da escravido, as moradias dos negros, ainda que precrias, eram utilizadas tanto na realizao de festas religiosas quanto na construo dos altares sagrados das divindades. O uso do mesmo espao para a moradia dos negros e para o culto a seus deuses foi uma caracterstica dos primeiros templos das religies afro-brasileiras, preservada ainda nos dias de hoje (cf. Silva, 1994: 48). O Ile Iya Mi Osun Muiywa um desses casos. Localizado na rua Carlos Belmiro Correia, 226, no bairro da Casa Verde, zona norte da capital paulista, o terreiro tem o mesmo endereo da famlia de sua sacerdotisa, a yalorix Wanda de Oxum. Na rea contgua a sua casa, foi construdo o barraco, decorado com emblemas ligados ao culto, com quadros dos orixs, mscaras africanas e arranjos rsticos pendurados na parede, que lembram o clima da frica tradicional. A diviso entre o espao privado, familiar, e o espao sagrado, de culto aos orixs, no to rigorosa; a cozinha da casa, por exemplo, tambm utilizada para o preparo das comidas utilizadas nos rituais cotidianos e nos festejos religiosos. O terreiro no possui uma arquitetura exterior visivelmente diacrtica, como a de templos de outras religies (como as igrejas catlicas), por isso, sua aparncia confunde-se na paisagem urbana da rua, cercada de casas residenciais. Para qualquer transeunte desavisado, fica difcil saber que ali funciona um terreiro de candombl. Ele freqentado por pessoas, em sua maioria, humildes, oriundas das classes sociais mais pauperizadas. Do ponto de vista racial, h um predomnio de negros e mulatos. Nas festas pblicas, o terreiro fica repleto, com a presena da famlia-de-santo, visitantes, curiosos, adeptos da religio de um modo geral e, por vezes, pesquisadores. Alis, o Ile Iya Mi Osun Muiywa procurado por antroplogos, socilogos e especialistas nas religies afro-brasileiras. O primeiro afox de So Paulo A existncia do candombl implica em uma mudana radical ante os referenciais da cosmoviso dominante. Em vez de cultura eurocntrica e crist, o eixo ontolgico passa a ser a cultura afrocntrica e iorub. Nesse sentido, ser de candombl no apenas uma opo religiosa, mas tambm uma tomada de posio poltica, pelo menos essa a compreenso do Ile Iya Mi Osun Muiywa, que, no decorrer das dcadas, construiu uma tradio de defesa pblica da cultura iorub. Um dos principais projetos de afirmao dessa cultura foi a fundao, em 1980, do primeiro grupo de afox de So Paulo, denominado Ile Omo Dada (Coroa de Dad), com sede no prprio terreiro. Em entrevista concedida a um jornal do "povo de santo", seu presidente, o og Gilberto Ferreira, explicou como surgiu o afox: De uma conversa entre eu e o saudoso Janic. Da ento fui a luta, consultei o meu babalorix Waldemiro de Xang para confirmar o
31
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 nome de Dad que seria dado ao Afox e este assentou o ax. Um ano depois desfilamos pela primeira vez na passarela do samba, em homenagem ao patrono da organizao, Dad, o segundo Alafin de Oy e irmo mais novo de Xang, isto aconteceu na avenida Tiradentes, onde se realizava o carnaval de So Paulo ainda naquela ocasio.14 Mesmo tendo um patrono, que Dad, todo ano um orix diferente homenageado no desfile. Por isso, muda-se o padro das roupas e as suas cores, assim como a cantiga, que especfica daquela divindade a ser homenageada. O afox a verso profana do culto aos orixs. Em razo de um preceito religioso impedir os iniciados no candombl de pintar o rosto, usar mscaras ou fantasias, eles no desfilavam no carnaval. O afox foi criado justamente para compens-los dessa privao. Mas, como naquele momento pouco se conhecia da tradio milenar dos orixs, fazia-se uma grande confuso. "O afox Coroa de Dad, diz Me Wanda, foi muito assediado na poca, porque era o nico afox de So Paulo, com uma cultura que poucos conheciam. A imprensa caiu em cima para saber o que era afox e qual era sua finalidade. Na viso das pessoas, o afox vinha para limpar a avenida. Nossa viso no era essa. O que queramos mesmo era trazer a oportunidade das pessoas feitas de santo desfilarem no carnaval e tambm mostrarmos nosso trabalho cultural".15 No primeiro ano de desfile, em 1981, o Coroa de Dad esteve sob a coordenao de Gilberto de Ogum, Waldomiro de Xang, Od Cici, Francisco Otaoci e Jos Mauro de Oxossi, dentre outros. A despeito de no terem conseguido apoio da prefeitura para compra de instrumentos, fantasias e alegorias, o afox Coroa de Dad abriu o carnaval paulistano naquele ano, homenageando Xang. O ponto alto do desfile foi a corte aristocrtica do orix homenageado: rei, rainha e seu panteo.16 Na concentrao, momentos antes do incio do desfile, foi feito um ritual para Exu, pedindo sucesso e caminhos abertos na avenida para todos os integrantes do grupo. Projetos culturais e obras sociais Em 1982, o Ile Iya Mi Osun Muiywa fundou um dos primeiros grupos de dana afro-brasileira em So Paulo, o Egbe Omo Feiy Saio (filhos da felicidade). Sob a direo artstica de Me Wanda, o grupo era composto apenas por iniciados na religio: babalorixs e yalorixs, ogs, equedes e ias. Ele se apresentava em clubes, escolas, teatros, festivais, dentro e fora do Estado de So Paulo. Influenciado pelo sucesso do Egbe Omo Feiy Saio, outros grupos de dana afro surgiram na cidade. Nesta mesma poca, o Ile Iya Mi Osun Muiywa realizou um trabalho social com crianas, oferecendo aulas de dana, msica e cultura dos orixs. Em 1983, por intermdio do projeto Zumbi da Secretaria da Cultura do
32
Dilogos Latinoamericanos 12, noviembre 2007 estado de So Paulo, o terreiro organizou a primeira exposio de arte e cultura dos orixs, em vrios pontos da cidade. Ainda no terreno artstico e cultural, vale salientar que uma das iniciativas interessantes do Ile Iya Mi Osun Muiywa foi a montagem da pea teatral "Xang e suas trs mulheres", em 1983. A proposta era encenar o espetculo apenas com atores amadores e iniciados no candombl. O texto foi assinado por Araken Vaz Galvo, que tambm ficou responsvel pela direo, em conjunto com o og Gilberto Antnio Ferreira. J a direo coreogrfica da pea coube a Elsio Pita e Wanda de Oliveira Ferreira. A direo musical ficou tambm sob a competncia de Gilberto Ferreira. O objetivo dos idealizadores do projeto era levar para o palco, de maneira didtica e artstica, a cultura dos orixs, de modo que os espectadores tivessem elementos para conhecer e, por conseguinte, desmistificar alguns preconceitos negativos que permeavam o imaginrio social a respeito das divindades iorubs. Realizando os ensaios em uma sala do teatro Srgio Cardoso, o grupo tinha dois dias para apresentar o espetculo no Teatro Municipal, mas, na vspera da apresentao, um dos dias foi cedido para o bal de Moambique, que visitava So Paulo. Resultado: a pea "Xang e suas trs mulheres" foi exibida no Teatro Municipal apenas no dia 22 de novembro de 1983, auferindo um relativo xito. Um outro compromisso do terreiro com a valorizao da negritude, inclusive, no terreno esttico. Aps a viagem Nigria, Me Wanda resolveu transplantar o estilo de indumentria africana para So Paulo. A princpio, ela foi introduzida no candombl, no afox e no grupo de dana afro do terreiro, o Egbe Omo Feiy Saio: [...] quando eu via os grupos se apresentando era com pedao de trapo. Eu sempre falava isso: eu acho horrvel esse pessoal danando descalo com pedao de trapos amarrados no corpo. Quando chego na frica e vejo aquela roupagem toda, eu falo: eu tenho que levar isso para o Brasil porque muito importante para minha religio, para fazer desfile e mostrar a esttica da mulher africana no Brasil. Foi importante para o grupo Egbe Omo Feiy Saio, que passou a usar panos transpassados na cintura como os africanos usam. Panos com uma estampa bonita, bem acabada em costura.17 Em um segundo momento, Me Wanda resolveu difundir a moda africana no pas e, em 1990, criou uma grife, a Fetiche Afro, confeccionando e bordando uma srie de roupas, como agbadas, dan sikis e aso okes. Promovendo desfiles e participando de feiras de moda, a grife adquiriu um razovel reconhecimento.18 Especialista na indumentria africana, Me Wanda foi convidada para preparar esse tipo de guarda roupa para o teatro municipal, para a TV Globo e TV Cultura. A atuao dessa liderana religiosa no ramo da moda